
Nº 2650 - Novembro de 2022
Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública
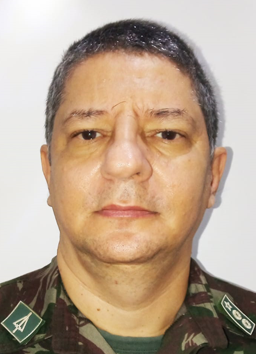
No dia de Todos os Santos de 1755, as Igrejas em Lisboa estavam lotadas, quando adveio a catástrofe do Terremoto, acompanhado por uma maremoto que impôs gigantescos danos à capital portuguesa.
Essa tragédia, foi de tal monta que impressionou a intelectualidade européia, em especial a Voltaire que escreveu Poème sur le désastre de Lisbonne, editado em 1756, onde explanou: “Filósofos iludidos que bradais «Tudo está bem»”1.
Na realidade, essa tragédia que teve repercussão internacional, se tornou um simbolismo daquilo que se apresentava no horizonte português e que gerou em um pequeno período de menos de 70 anos uma enorme transformação no âmbito do Império Colonial de Portugal, que redundaria, em 1822, com a separação do Brasil.
O terremoto ocasionou, em primeiro lugar, a ascensão do Marquês de Pombal como principal personagem do cenário político de Portugal. Ele impôs uma política administrativa e econômica que impulsionou o país nessas esferas, diminuindo o atraso português em diversos níveis. No âmbito militar, foi realizada, por exemplo, a contratação do Conde de Lippe, que veio com a missão de melhor capacitar o Exército para a nova realidade que se apresentava.
É nesse período que se desenvolveu, na Inglaterra, as fábricas a vapor, ocasionando a Revolução Industrial, que permitiu uma maior capacidade de produção e motivou transformações em diversos campos, principalmente o social, ocorrendo alterações nas relações existentes e impondo novas formas de atividades econômicas.
Outro fato importante foi o da Revolução Francesa, que se iniciou em 1789, influenciada pela circulação das ideias Iluministas do século XVIII, e motivada pela grave crise econômica vivida na França, no período.
Essas mudanças oriundas da Revolução Industrial e da Revolução Francesa redundaram também em uma modificação da relação entre as metrópoles européias e suas colônias, o que geraram maior grau de atrito de interesses entre elas, sendo os sinais iniciais de que uma nova realidade que estava surgindo nesse cenário, como, por exemplo, o da eclosão da Revolução Americana e o da independência do Haiti.
No caso da Independência dos Estados Unidos, as pressões econômicas exercidas pelos ingleses, motivaram a ação separatista dos colonos americanos, que vão implantar após sua efetiva ruptura com a Inglaterra, algumas novidades no espectro político, como o surgimento de uma constituição e o da república presidencialista.
As suas ações decorridas da Revolução Francesa, que permitiram a ascensão da burguesia ao poder, levaram ao surgimento de novas relações políticas e ao desmantelamento de estruturas do antigo regime francês, com ações contra a Igreja, a nobreza e em especial contra a realeza que levaram a decapitação do rei e da rainha, o que aumentaram o temor em toda a Europa e em especial em Portugal, de que tais ações se repetissem no país.
Junto a essa turbulência temos o declínio das relações econômicas entre o Brasil e Portugal, oriundas em especial pela queda do fluxo do ouro de Minas Gerais, para a Metrópole, o que ocasionou em pressões cada vez maiores por parte da Coroa para a manutenção do nível do envio desse metal precioso para Lisboa, que aventava a possibilidade de impor a Devassa para obter esse objetivo.
Temos, portanto, o aparecimento de um dos mais importantes eventos relativos a ideia de separação do Brasil de Portugal, que foi a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, motivada pela possibilidade de ser decretada a Devassa, o que levou a uma ação por parte dos Inconfidentes de uma tentativa de separação de Portugal.
Os inconfidentes tentaram obter junto da novel nação americana um apoio ao movimento, com emissários fazendo contato com autoridades dos Estados Unidos com esse objetivo.
Essa atitude dos mineiros foi motivada pela literatura Iluminista que entrou no Brasil por contrabando, que serviu de base ideológica do movimento, que apesar de sua ação pró separação, não desejava uma maior mudança social, pois não atuaria em prol da libertação dos escravos, por exemplo.
Mesmo tendo a Inconfidência fracassado, seus integrantes presos e ocorrido a execução de Tiradentes, seu surgimento era já uma amostra de que as ideias Iluministas e os desejos de separação política estavam presentes nos interesses de alguns integrantes da Colônia.
Outro movimento importante foi o da Revolta dos Alfaiates, ocorrida na Bahia, em 1798, que diferente da Inconfidência Mineira, desejava transformações mais radicais, pois defendiam não apenas a separação de Portugal mas também o fim da escravidão, tendo ocorrido em uma base mais popular, pois entre seus integrantes estavam negros, soldados e alfaiates (IGLESIAS, 1993, p. 86).
Este movimento também esteve sob a influência da literatura Iluminista, porém com viés mais jacobino, pois tinha uma perspectiva de ação mais radical que o da Inconfidência Mineira, tendo ocorrido uma dura repressão por parte da Coroa portuguesa.
Ambos os movimentos mostravam duas situações, a primeira, a de que por mais que houvesse repressão por parte do Estado português, a literatura Iluminista chegava ao Brasil por meio de contrabando e influenciou as ações em Minas e na Bahia.
Outra situação era a de que havia uma crise no sistema colonial que redundava nessas atividades contra os portugueses e que alimentava as atitudes de separação por parte de diversos campos sociais. Começava a se ter um sentimento no meio colonial que foi explicitado pelo inglês Robert Southey que escreveu: “galho tão pesado não pode continuar unido, por muito tempo, a tronco tão gasto” (IGLESIAS, 1993, p. 93).
Essa figura de linguagem se deu por ser a Colônia, de “finais do século XVII a 1822, (,,,) a essência do Império Português” (MARQUES, 2012, p. 402), até mesmo em termos de população das cidades, visto que, em 1780, Lisboa, Salvador e Rio de Janeiro eram os três municípios mais populosos, do Império Colonial (MARQUES, 2012, p. 405).
De tal maneira o Brasil se fazia essencial para Portugal, com sua economia fortemente baseada nessa relação, que a Colônia americana era “do ponto de vista da consciência colectiva, (...) o último motivo do orgulho nacional” (SARAIVA, 1998, p. 337).
Portanto, sua manutenção se fazia essencial para a possibilidade de um Portugal forte em termos econômicos e de prestígio no cenário internacional.
Contudo, a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na França gerou uma maior instabilidade entre as coroas européias, pois a sua política expansionista, além de exportar os ideários revolucionários, retirava do poder reis que lhe faziam oposição, transformando seus irmãos em regentes desses países.
Portugal estava cada vez mais ameaçado, pois era pressionado pelas duas potências da época, seu velho aliado, a Inglaterra, e pela França, além de estar em uma situação interna problemática, com a rainha ficando incapacitada de governar, ocasionando a subida ao poder de seu filho o Príncipe Regente D. João, que se deparando com esse cenário externo complexo, procurou manter um equilíbrio político difícil de se conseguir.
Com a decretação por parte de Napoleão do Bloqueio Continental, proibindo que a Inglaterra pudesse negociar seus produtos na Europa, tornou-se insustentável para o Príncipe Regente essa posição de equilíbrio, pois além da circunstância de se ver isolado das possessões portuguesas de ultramar por parte da frota inglesa, havia a temível possibilidade de se vir destituído do poder pelos franceses como ocorrera com a realeza espanhola (FROTA, 2020, p. 254).
Diante da invasão francesa ressurgiu então uma antiga ideia de se transportar a Coroa Portuguesa para a sua Colônia mais importante. A primeira ocasião que se pensou essa possibilidade foi no século XVI, com a oposição à União Ibérica por parte de D. Antonio Prior do Crato que pensou em vir para o Brasil como forma de resistência (SARAIVA, 1998, p. 267).
O padre Antônio Vieira defendeu essa ideia no contexto da restauração de Portugal no século XVII, em virtude do perigo que havia de uma invasão por parte da Espanha que viesse a impedir a sua independência (SARAIVA, 1998, p. 267).
No século XVIII, D. Luis da Cunha apresentou a possibilidade de trocar o Algarve pelo Chile e o rei viria em definitivo para as Américas sendo proclamado Imperador do Ocidente, e quando da Guerra dos Sete Anos, Pombal aventou essa ideia, bem provavelmente influenciado por D. Luis da Cunha, Ministro da Guerra na ocasião.
Em 1803, já com esse cenário externo conturbado, esse projeto foi novamente apresentado, agora por D. Rodrigo de Souza Coutinho, para proteger a realeza e o Império do perigo de invasão (FROTA, 2020, p. 255).
Portanto, essa transmigração da Corte para o Brasil era um pensamento que transitava pela Coroa portuguesa, e que se tornaria realidade em decorrência da fundamental manutenção por parte de Portugal das suas relações com a Inglaterra, mas que, em contrapartida, ocasionou a invasão francesa.
Portanto, era mais favorável para a Coroa vir para o Brasil, ficando afastada do cenário tempestuoso da Europa e mantendo seu controle sobre o Império Colonial. Se concretizando em novembro de 1807, o embarque da família real e de mais de dez mil membros da corte e da burocracia estatal para o Brasil, sendo protegidos pela esquadra inglesa sob o comando de Sidney Smith (FROTA, 2020, p. 255).
É bastante significativo que o primeiro ato do Príncipe Regente, ao chegar na Bahia, foi o da Abertura dos Portos, ocorrido no início de 1808, na cidade de Salvador, o que já indicava que o Brasil, pela nova circunstância que se apresentava, tinha prioridade no campo econômico do Império, inclusive com perda de proeminência de Portugal, nesse contexto comercial.
Essa nova realidade não apenas favorecia a Inglaterra como principal pólo de comércio do Brasil, mas também privilegiava a antiga Colônia que passava a ter maior relevância nesse contato comercial, o que beneficiava sobremaneira a sua elite mercantil.
A presença da Família Real no Brasil ocasionou diversas mudanças na estrutura da Colônia, para se coadunar às necessidades administrativas inerentes a nova posição de Metrópole, que o país passou a ter.
O Rio de Janeiro, em especial, por ser a sede da corte, recebeu diversos órgãos administrativos, tanto no aspecto civil, como o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, entre outros, assim como na esfera militar, com a Academia de Guardas-Marinha e a Academia Militar.
Tais mudanças na estrutura burocrática e no incremento da área educacional demonstravam que havia um interesse por parte do Estado Português de não apenas favorecer uma melhor forma de administrar o Império Colonial, mas sinaliza um projeto de permanência de longo prazo da Corte no Brasil, o que agradava e dava proeminência a elite mercantil brasileira.
Tal circunstância era representativa de um interesse de dois grupos que idealizavam uma unidade entre o setor mais dinâmico da economia do Império representado pelos produtores brasileiros e dos integrantes do Estado Português que desejavam pois a “formação definitiva de um novo Estado, afirmando a ideia de nação e revelando a sua maturidade política” (MARQUES, 2012, p. 425).
É interessante perceber que D. Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, filho de uma brasileira, foi o homem chave na idéia de migração da Corte para o Brasil, pois tinha em seu entorno um “círculo de intelectuais brasileiros cuja a presença (...) no Estado Português, se tornava cada vez mais evidente” (NEVES, 2003, p. 31).
Dentre esses intelectuais temos as seguintes personalidades, entre outros: Hipólito José da Costa, Manuel de Arruda Camara e em especial José Bonifácio de Andrade e Silva, que teve posteriormente ação de destaque na Independência do Brasil.
Mas como se dava essa identificação entre os grupos que desejavam esse projeto de um império Luso-Brasileiro? Tais grupos tinham um ponto de identificação em comum, a Universidade de Coimbra, que passou a ser, como indica Lucia Bastos Pereira das Neves, um:
espaço de esfera publica (...) local de formação e contato para a juventude intelectualmente promissora [e] poderoso instrumento de unificação ideológica, assegurando, apesar de algumas nuanças, a unidade de cultura política (NEVES, 2012, p. 33)
Portanto, para esse grupo de intelectuais brasileiros era uma oportunidade de se fazer ouvir no âmago da corte lusitana, influenciando sobremaneira as decisões que inseriam o Brasil em um patamar de igual importância na esfera político-administrativa.
Conforme apresentava San Tiago Dantas:
O que caracterizou a sociedade brasileira, na passagem do século XVIII para o XIX, foi justamente a presença de uma elite, pequena, mas dotada de invulgar capacidade, que apenas dependia, para liderar o país, de conseguir levar sua influência até o trono e ter acesso aos círculos superiores da administração. (SAN TIAGO DANTAS, 1962, p. 3)
Essa perspectiva também é defendida por José Murilo de Carvalho, que indica que esses letrados brasileiros tinham bastante similitude com os integrantes da cúpula do Estado Português visto que:
A homogeneidade ideológica e o treinamento foram características marcantes da elite política portuguesa, criatura e criadora do Estado absolutista. Uma das políticas dessa elite foi reproduzir na colônia uma outra elite feita à sua imagem e semelhança. A elite brasileira, sobretudo na primeira metade do século XIX, teve treinamento em Coimbra, concentrado na formação jurídica, e foi, em sua grande maioria, parte do funcionalismo público, sobretudo da magistratura e do Exército. Essa transposição de um grupo dirigente teve talvez maior importância que a transposição da própria Corte portuguesa e foi fenômeno único na América. (CARVALHO, 1996, p. 33)
Nesse sentido, percebemos que ocorreu uma união de ideias que redundaram no surgimento de um Estado Português que seria renovado dentro de uma nova perspectiva na América, e que levaria uma posição de maior importância para Portugal no contexto europeu.
Diante dessa nova circunstância, o Império Luso Brasileiro implementou uma política de conquistas militares que aumentariam seu prestígio e reforçaria sua posição no cenário internacional.
É nessa conjuntura que ocorre, no início de 1809, a Conquista de Caiena com a invasão do seu território por tropas portuguesas comandadas pelo Tenente-Coronel Manuel Marques, tendo obtido a capitulação do Governador francês Victor Hugues, em janeiro de 1809.
Sua conquista, além de ser uma resposta a agressão sofrida por Portugal com a invasão francesa, representa uma afirmação da soberania portuguesa na região, que permaneceu sob seu domínio até 1817, quando voltou a ser território francês, conforme os acordos ocorridos no Congresso de Viena.
Outro local de expansão militar se deu na região sul do Brasil, que havia motivado diversos tratados de limites, culminando com o de Badajós, em 1801. Era um território que sempre foi palco de disputas entre espanhóis e portugueses, em virtude do acesso ao Rio da Prata, e que, em contrapartida, representava um perigo para as províncias portuguesas ali localizadas.
Com a situação da ascendência ao trono da Espanha do irmão de Napoleão D. José I, logo após a sua chegada ao Brasil, em 13 de março de 1808, o Príncipe Regente, “oferecia ao Cabildo de Buenos Aires sua proteção e ameaçava usar a força para que a mesma fosse aceita” (FROTA, 2020, p. 272).
Com o início de um movimento contra os espanhóis se iniciando em 1811, no atual Uruguai, D. João procedeu a invasão do território oriental, ação que durou diversos anos, tendo, em 1816, com uma tropa comandada pelo Tenente-General Carlos Frederico Lécor, iniciado uma nova campanha militar que tomou Montevidéu, em janeiro de 1817.
Contudo, a anexação do atual Uruguai ao território do Brasil só se consolidou em julho de 1821, com o nome de Província Cisplatina, quando ficou definido que “os limites entre a Província de São Pedro e nova Província Cisplatina seriam os mesmos que existiam quando do início das hostilidades” (FROTA, 2020, p. 278).
Essas campanhas militares desejavam reforçar a posição portuguesa na América e em acréscimo aumentar o prestígio do país no cenário europeu, e demonstrar que o novo Império Luso-Brasileiro representava efetivamente uma nova fase do Império Colonial Português.
Ideia que foi se consolidando, como demonstra o fato que, mesmo terminada a invasão francesa, em 1810, D. João não retornou para Lisboa, tendo tomado um impulso maior no Congresso de Viena, quando Talleyrand representante francês no Congresso informou aos representantes portugueses, em especial o Conde de Palmela, que caso o Brasil fosse elevado a posição de reino, Portugal teria maior papel em Viena, o que acabou por ocorrer, surgindo então o Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves.
Por mais que pareça um fato fortuito, na realidade, a elevação do Brasil a Reino Unido, correspondia em si a uma consolidação da ideia do Império Luso Brasileiro e, portanto, uma vitória dos grupos que o defendiam.
Outro fato relevante nesse período foi o falecimento da Rainha Dona Maria I, no Rio de Janeiro, e a coroação de D. João VI, sendo a primeira vez que um Rei de Portugal foi coroado em um território ultramarino.
Essa circunstância demonstrava de fato que o projeto de um Império dual estava tendo sucesso, na medida em que a Coroa se sentia segura no Rio de Janeiro tendo apoio de diversos setores, tanto da elite mercantil brasileira, satisfeita com as vantagens obtidas em termos comerciais e com os avanços em termos de estrutura economica, assim como também tinha o apoio dos setores ligados a burocracia do Estado português que ocupavam posições de destaque nos novos órgãos que surgiam.
Contudo, começaram a surgir sinais que a ideia de um Império Luso-Brasileiro havia chegado ao seu clímax com a coroação de D. João VI.
O primeiro deles foi em Pernambuco, em 1817, motivado pela seca que afligiu a Província no ano anterior, que aumentava a dificuldade da população da região que se via pressionada pelas exigências da Corte no Rio de Janeiro. Diante desse cenário eclodiu a Revolução Pernambucana, movimento influenciado pela ideias Iluministas, pela Revolução Francesa e com ingerência da maçonaria.
Essa revolta teve características republicanas e anti lusitanas, por sua atitude contra os comerciantes portugueses, tendo recebido o apoio dos
Homens mais representativos [apoiavam] a causa emancipadora. (...). Afastam as autoridades portuguesas e constituem governo próprio, do qual participam alguns dos principais da capitania. O novo governo teve sua bandeira e enviou emissários aos Estados Unidos, Rio da Prata e Inglaterra, em busca de apoio. Houve até o pensamento original de (...) libertar Napoleão, preso na Ilha de Santa Helena. (IGLESIAS, 1993, p. 101)
A repressão aos revoltosos foi imediata tendo sido posteriormente seus líderes “julgados por um tribunal militar [quando] recaiu a execução em 12 conjurados (...). O Rei concedeu alguns perdões isolados como júbilo por sua aclamação (FROTA, 2020, pp. 270-271).
Esse movimento já indicava que o processo pela busca pela independência que havia motivado os movimentos de Minas Gerais, em 1789, e da Bahia, em 1798, baseados nas ideías Iluministas se faziam presentes em diversas partes do Brasil, mas tinham ainda uma percepção fragmentada, pois ficavam presos aos aspectos de sua localidade.
Porém, de maneira clara, mostravam que o projeto de um Império Luso-Brasileiro não era defendido em outras partes do Brasil, pois desejavam uma efetiva independência da Metrópole.
Essa espécie de mal estar com a situação existente do Reino Unido só sofreria um verdadeiro abalo quando da eclosão de um movimento de revolta na antiga Metrópole, ocorrido na cidade do Porto, em 1820, devido:
A situação portuguesa [que] era, em 1820, de crise em todos os ramos da vida nacional: crise política, causada pela ausência do rei e dos órgãos do Governo no Brasil; crise ideológica, nascida da difusão, nas cidades, de ideias políticas que consideravam a monarquia absoluta um regime opressivo e obsoleto; crise econômica, resultante da emancipação econômica do Brasil; crise militar, originada pela presença dos oficiais ingleses nos altos postos do exército e pela emulação dos oficiais portugueses, que se viam preteridos nas promoções. (SARAIVA, 1998, p. 276)
Tal circunstância era de conhecimento do Rei D. João VI que recebia informes do reino deixando a Coroa a par das dificuldades que Portugal passava e que havia o risco eminente de um movimento político ocorrer.
Porém, não houve como agir a tempo, tendo em agosto de 1820, por meio de uma sublevação de um regimento de Artilharia se dado a revolução. Passaram os revolucionários a adotar a Constituição espanhola e promoveram uma Junta Provisional de Governo, que tratou de convocar as Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa.
As informações relacionadas ao movimento político ocorrido em Portugal acabaram por chegar ao Brasil em diferentes datas, tendo o Pará e a Bahia aderido ao movimento no início de 1821.
Finalmente, no final de fevereiro de 1821, a tropa lusitana no Rio de Janeiro se sublevou e passou a exigir o retorno do Rei para Portugal e que o mesmo “jurasse e aprovasse previamente a Carta que estava sendo elaborada em Lisboa” (FROTA, 2020, p. 279), tendo o Rei realizado o juramento em abril de 1821.
O retorno do Rei D. João VI para Portugal se deu logo em seguida ao Juramento, no final de abril de 1821, deixando seu filho, o então Príncipe D. Pedro, como regente.
Ocorreram então as eleições para as Cortes, que iriam debater a Constituição portuguesa e foram eleitos 100 integrantes de Portugal, 65 do Brasil e 16 das demais províncias ultramarinas.
Se, em um primeiro momento, a Revolução Liberal do Porto foi vista por membros da elite política brasileira com bons olhos, tal sentimento se desfez logo após a chegada dos deputados brasileiros eleitos para participar das Cortes de Lisboa.
Tendo uma posição de destaque no cenário político que se apresentava, a burguesia portuguesa via na
autonomia do Brasil como reino, a perda de enormes proventos no comércio e na indústria, [e influenciou] as Cortes [que] cedo a adoptaram uma política tendente a anular os privilégios concedidos ao Brasil [e a lhe] devolver a condição de colonia, se não de direito, ao menos de facto. (MARQUES, p. 426)
Com isso, ocorreu na elite política e intelectual brasileira que antes se identificava com a ideia do Império Luso-Brasileiro, um pensamento pró movimento de separação efetiva de Portugal, pois desejava a manutenção do status quo adquirido pelo Brasil quando da presença real no Rio de Janeiro.
Se antes havia uma união de interesses entre as elites portuguesas que faziam parte da estrutura do Estado e da elite comercial e intelectual brasileira entorno dessa ideia, azeitada pelo conhecimento comum e amizades antigas oriundas da Universidade de Coimbra, o surgimento de um ator político com interesses distintos desses grupos, tornou impossível a possibilidade da manutenção dessa ideia.
Dentro dessa perspectiva começa a ocorrer entorno do Príncipe D. Pedro um movimento de apoio a sua presença no Brasil, que teve a participação da Maçonaria e demais grupos que tinham interesse na manutenção da autonomia que o país havia conseguido durante os treze anos da presença do Rei de Portugal no país.
A percepção desse movimento separatista, que rompia com o projeto de um reino dual, se fez claramente em dois momentos. O primeiro, partindo do próprio Rei D. João VI que, ao partir, disse a D. Pedro reservadamente, “Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros”.
E o segundo momento se deu no início de 1822, quando incitado a voltar a Portugal pelas Cortes, D. Pedro, atendendo aos pedidos dos brasileiros que, em uma petição com oito mil assinaturas pediam que permanecesse no Brasil, respondeu: “Como é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto, diga ao povo que fico”.
Com tal determinação, D. Pedro acabava por se comprometer efetivamente com o movimento de ruptura com Portugal, fazendo valer sua autoridade sobre as das Cortes, se apoiando pois no desejo da elite política brasileira que desejava a manutenção de sua autonomia o que ainda só se definiria de fato em setembro de 1822.
CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem: a elite imperial. Teatro de Sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ; Relume Dumará. 1996.
FROTA, Guilherme de Andrea. Quinhentos anos de história do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, Tomo I, 2020.
IGLESIAS, Francisco. Trajetória política do Brasil: 1500-1964. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
MARQUES, A. H. de Oliveira. Breve história de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 2012.
NEVES, Lucia Bastos Pereira das. Corcundas e Constitucionais: a cultura política da independência (1820-1823). Rio de Janeiro: Revan, FAPERJ, 2003.
SAN TIAGO DANTAS, F. C. Cairu: protagonista de sua época, in: San Tiago Dantas, F. C. Figuras do Direito. Rio de Janeiro: J. Olympio Editora, 1962. pp. 3-20. Disponível em: https://www.santiagodantas.com.br/wp-content/uploads/Cairu-Protagonista-de-sua-%C3%89poca.pdf; Acessado em 21 agosto de 2021.
SARAIVA, José Hermano. História concisa de Portugal. Lisboa: Publicações Europa-América, 1998.
VOLTAIRE. Poème sur le désastre de Lisbonne (1756). Disponível em: https://shifter.sapo.pt/2017/11/voltaire-sobre-o-terramoto-de-1755/; Acessado em 26 de setembro de 2021.
____________________________________
1 Extrato do texto retirado do site: https://shifter.sapo.pt/2017/11/voltaire-sobre-o-terramoto-de-1755/. Acessado em 5 de agosto de 2021.

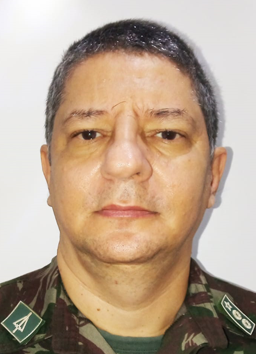
Exército do Brasil. Integrante da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx). Mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).