
Nº 2656 - Maio de 2023
Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública
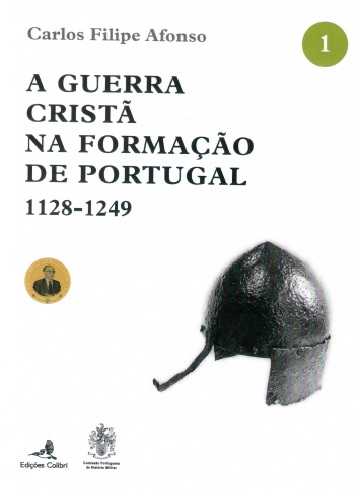
A Guerra Cristã na Formação de Portugal
(1128-1249)
Carlos Filipe Afonso
A obra A Guerra Cristã na Formação de Portugal (1128-1249), da autoria de Carlos Filipe Afonso e publicada em 1022 pela Colibri vem completar um ciclo de estudos panorâmicos, iniciado em 1998, dedicado à análise do fenómeno Guerra durante a Idade Média Portuguesa e que abrange, assim, um período cronológico compreendido entre 1128 e 1449. Trata-se, como sublinha Francisco García Fitz no prefácio desta obra, de um caso “singular no contexto ibérico e, até onde sabemos, também no contexto historiográfico ocidental: trata-se de um projeto de fôlego que aspirava, e em boa medida conseguiu, estudar toda a história militar do reino de Portugal desde o século XII até finais do XV e princípios do XVI. Possivelmente nenhum reino ocidental conta, neste momento, com uma sequência tão homogénea de estudos sobre a evolução da guerra e dos exércitos durante a Idade Média”.
Organizada em seis capítulos – a que se somam as inevitáveis introdução e conclusão e ainda uma nota prévia e um prefácio da autoria, respectivamente do Major-general Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e do Professor Francisco García Fitz, da Universidade da Extremadura –, a obra que hoje apresentamos, intitulada “A Guerra Cristã na Formação de Portugal (1128-1245)” da autoria de Carlos Filipe Afonso corresponde, no essencial, ao texto da sua dissertação de Doutoramento defendida na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa no dia 6 de Julho de 2021 e de que tive o gosto e a honra, em parceria com a Professora Amélia Andrade, de ser orientador científico.
Este trabalho tem como objecto de estudo, como já se percebeu, a organização e a prática da guerra durante os anos da formação de Portugal enquanto reino independente, correspondentes ao período das guerras com Leão e, sobretudo, dos avanços territoriais conseguidos à custa da luta contra o Islão, isto é, os anos da chamada Reconquista, ou, lido de outra forma, entre a Batalha de S. Mamede e a conquista de Faro, por Afonso III. E apesar de seguir de perto a acima referida grelha de abordagem criada por João Gouveia Monteiro, Carlos Afonso não se deixa prender demasiado a esse esquema, adaptando-o, ajustando-o e criando os seus próprios objectos de estudo, nomeadamente com a introdução de novos questionários, como o que resultou no capítulo 2, sem dúvida que um dos muitos pontos fortes desta obra.
Depois de, num primeiro capítulo de enquadramento, de âmbito essencialmente, político (pp. 55-79), onde se debruça nas suas próprias palavras, sobre “as linhas de transformação social mais relacionadas com a guerra, entre as quais o impacto da presença dos diferentes poderes islâmicos e a sua interação com o universo cristão”, o autor dedica a sua atenção (pp. 81-165) à relação, tantas vezes esquecida ou relegada para um plano secundário pelos Historiadores Militares, entre o terreno, o clima, a cobertura vegetal, a disponibilidade de água e o ritmo das estações do ano ou o ciclo da prática agrícola e a realização das operações militares. O capítulo funciona autenticamente como uma visita guiada ao espaço da guerra, revelando-se, por isso, de enorme utilidade para outras cronologias, bem como para outras abordagens históricas que não as de âmbito estritamente militar. É um dos capítulos mais inovadores, um dos mais importantes deste trabalho e aquele onde o leitor percebe de imediato, não só a capacidade de análise do autor, mas também a importância da sua formação militar para uma leitura rigorosa e atenta de todas essas condicionantes da actividade bélica.
De seguida, num terceiro capítulo, a que deu o título “Condições e recursos para a guerra” (pp. 167-286), Carlos Afonso dedica-se, como é inevitável num estudo com estas características, à análise dos elementos constituintes das hostes régias, tomadas como foco da sua abordagem. Ficamos, assim, a conhecer os companheiros do rei (que habitualmente identificamos com a scola ou guarda régia, mas que o autor demonstra poder ter um carácter um pouco mais diversificado); as mesnadas senhoriais, ou seja, os efectivos fornecidos pela nobreza no âmbito das suas obrigações de natureza feudo-vassálica, não só a título individual, mas também no quadro da organização administrativa do território e da divisão deste em circunscrições designadas como terras; os contingentes das ordens militares, Templários, Hospitalários, Santiaguistas e freires de Avis, chamando a atenção para a heterogeneidade das forças que cada uma destas instituições disponibilizava e que não integravam apenas freires cavaleiros; as milícias concelhias, analisadas muito de perto em função do articulado das respectivas cartas de foral e com uma atenção muito particular para a cadeia de comando destas forças a respeito da qual introduz uma leitura inovadora; e, por fim, as forças de difícil inserção nas acima mencionadas categorias e a que optou por designar como “outros combatentes”, onde se integram, por exemplo, os guerreiros de fronteira a que se convencionou – ainda que, no caso português, de forma algo abusiva – apelidar de almogávares, os mercenários; os “ladrões” como os que combatiam sob as ordens de Geraldo Sem-Pavor, ou ainda os cristãos que lutavam do lado muçulmano e vice-versa, mas também os portugueses que combatiam por um outro reino cristão.
Ainda neste terceiro capítulo, são analisadas as obrigações de serviço militar e os vínculos criados pela Coroa para assegurar, por um lado, esse mesmo serviço e, por outro, a estabilidade numérica dos contingentes assim mobilizados, designadamente, através da instituição de fórmulas de remuneração e de recompensa, mas também os meios encontrados para garantir um efectivo bem equipado e bem montado e que passavam, por exemplo, pela atribuição de cavalos e armas aos combatentes, ou pela concessão de privilégios que lhes atenuassem os encargos resultantes com a aquisição e manutenção de armas e cavalos, questões que desembocam numa abordagem detalhada da dimensão e composição dos efectivos mobilizados e, em última instância, das hostes régias.
De seguida, o autor fornece-nos uma importante panorâmica a respeito de dois elementos essenciais para o exercício da guerra na Idade Média – os cavalos e as armas –, abordando temáticas como a criação e as formas de obtenção de montadas, desde o roubo à compra, abordando matérias como os tipos de cavalos, as suas características físicas e preços; para de seguida se centrar no armamento e equipamento dos cavaleiros, no seu fabrico e comercialização.
No quarto capítulo (pp. 287-356), o autor centra-se naquilo que optou por designar como “Sistemas fortificados”. Assim, depois de uma breve análise dos modelos de administração territorial (as terras) vigentes ao longo da cronologia estudada e que levaram ao aparecimento de novas formas de fortificar – o chamado castelo românico, sobre o qual nos dá uma breve panorâmica que não esquece o contributo muçulmano –, Carlos Afonso dedica a sua atenção aos sistemas defensivos propriamente ditos; primeiro na função destes pontos fortes e, de seguida, na sua distribuição territorial, rigorosamente observada – e aqui com uma abordagem a todos os títulos inovadora – em estreita articulação com o terreno, ou seja, com o relevo, com a orografia e com o mapa viário medieval, questões que aborda com enorme mestria e sempre – o que é outra das grandes mais-valias deste trabalho – com o apoio de um útil conjunto de mapas organizado, tal como o texto, de acordo com sete grandes regiões nas quais é possível detectar a existência desses sistemas articulados de defesa: o Minho, a brecha de Chaves e os vales do Tâmega e do Corgo, a região de Bragança, a zona entre Miranda e Açafa, a linha do Mondego, a linha do Tejo e, por fim, os territórios a sul do Tejo. E porque, como o próprio autor sublinha, “Uma estrutura fortificada só faz sentido se operada por recursos humanos e a sua funcionalidade só pode ser verdadeiramente entendida através da compreensão das atividades nela desenvolvidas”, este capítulo encerra com um olhar atento, por um lado, sobre os modelos de vigilância e de defesa e, por outro, sobre as fórmulas implementadas para assegurar o bom-estado das fortalezas (desde a sua construção à sua reparação), factores essenciais para garantir a eficácia desses pontos-fortes e, no limite, de todo o sistema defensivo em que se integravam.
Definido o espaço e as condições materiais para a guerra, o autor entra então, no quinto capítulo (pp. 357-473), na abordagem do tema da prática bélica, ou seja, na análise das formas de fazer a guerra durante os séculos XII e XIII, mas não sem antes reflectir sobre a preparação (a educação marcial e o treino) dos combatentes, ou sobre os diferentes modelos de monta, característicos por um lado, da cavalaria ligeira e, por outro da cavalaria pesada. E é neste ponto que o autor retoma a questão do armamento (já aflorado no terceiro capítulo a propósito do seu fabrico e comercialização) fornecendo-nos uma panorâmica sobre as armas utilizadas pelos combatentes portugueses no período em estudo e que optou, e bem, por organizar segundo tipologias funcionais. Mas antes de se debruçar sobre o exercício da guerra propriamente dito, o autor analisa ainda – e fá-lo detalhadamente – quais os principais tipos de serviço militar exigidos, sobretudo, às milícias concelhias, serviços esses genericamente agrupados, de um lado, em obrigações de natureza defensiva e, do outro, em deveres de âmbito ofensivo, embora, como demonstra, na prática, esses conceitos pudessem, por vezes, misturar-se e confundir-se.
No tocante às operações militares conduzidos pelos exércitos portugueses dos séculos XII e XIII, o autor, seguindo uma sistematização proposta por Francisco García Fitz, divide-as em três grandes grupos: o primeiro, integra as cavalgadas, ora de pequena, ora de grande envergadura (consoante a dimensão do efectivo, o raio de acção, a duração e, acima de tudo, em função da entidade que as empreendia), mas que, em qualquer dos casos, eram quase sempre conduzidas com objectivos de natureza económica, ou seja, com o intuito de obtenção de espólio; o segundo, correspondente à guerra de conquista e de assédio (que Carlos Afonso analisou, por um lado, na óptica dos agressores e, por outro, na perspectiva dos agredidos, ou seja, analisando como se processavam quer o ataque, quer a defesa das fortalezas), acções armadas essenciais, num contexto de guerra de posição, não só para o domínio dos pontos fortes que defendiam o território onde se implantavam, como para o controlo desse mesmo território; e, por fim, um terceiro grupo onde se incluem os enfrentamentos campais, um fenómeno habitualmente apontado como raro no quadro da guerra na Idade Média, mas que o autor contabilizou num surpreendente total de 14 ao longo da cronologia analisada, episódios que procurou enquadrar na taxonomia proposta pelas Siete Partidas, obra onde os legistas de Afonso X dividem estes enfrentamentos em três tipologias distintas: lide, fazenda e batalha, consoante a dimensão do efectivo envolvido.
A respeito destes enfrentamentos e independentemente da escala das forças em presença, Carlos Afonso aborda questões centrais, como a escolha da posição, muito em particular do terreno; os dispositivos tácticos e o papel que desempenhavam no evoluir dos combates; o exercício do comando e a transmissão das ordens; para se debruçar então, em detalhe, sobre a forma como as batalhas se desenrolavam, observando-as desde os primeiros contactos até ao rescaldo, isto é, até às perseguições ao inimigo em fuga, ao saque dos arraiais e à macabra contabilidade das baixas.
No sexto e último capítulo da obra (pp. 475-521), o autor brinda-nos com um conjunto de observações de enorme interesse sobre matérias ligadas à organização e à prática da guerra que por não serem facilmente enquadráveis na sua grelha de análise – as “outras dimensões da guerra, como optou por designá-las – não podiam, dada a sua importância, ser deixadas à margem. É o caso da formação teórica e prática e do treino dos combatentes, muito em particular dos comandantes militares; das isenções (tema já aflorado num outro capítulo) e da fugas ao cumprimento do serviço militar, quer as que decorriam antes da mobilização, quer as que tinham lugar já em plena campanha, ou seja, as deserções; encerrando esta análise com uma atenta observação das questões de natureza logística, determinantes para o sucesso de uma operação militar, nomeadamente para a manutenção de um efectivo em campanha, assuntos que remetem para a abordagem da organização e composição dos acampamentos, do abastecimento de víveres e seu transporte, temáticas que conduzem o autor ao estudo das velocidades e ritmos de deslocação das hostes, da organização das colunas de marcha e dos itinerários escolhidos pelos exércitos em trânsito. De seguida – e decerto que inspirado pelo capítulo “Pour une histoire du courage”, do clássico La Guerre au Moyen Age, de Philippe Contamine – é abordado aquilo a que o autor designou “a dimensão psicológica”, uma leitura inovadora de questões como a coragem e o exemplo ou, por contraponto, a cobardia e os momentos de fraqueza dos guerreiros, mas também as formas encontradas (arengas, discursos, missas campais e orações) para os motivar em combate e onde não é esquecida a chamada “guerra psicológica”, nomeadamente o efeito pretendido com as chacinas e os massacres ocorridos nos teatros de operações, sobretudo durante as operações de cerco. E como nos prélios ou no rescaldo de um cerco, este capítulo encerra com a análise do destino dado aos combatentes derrotados, da execução à mutilação, passando, claro está, pelo cativeiro e, nalguns casos, pelos resgates, sem esquecer o tipo de ferimentos sofridos em combate e, claro está, a contabilização das baixas e o que fazer com os mortos.
A obra termina, como é da praxe, com uma conclusão (pp. 523-527), na qual são relembradas as principais linhas de força e novidades trazidas por este trabalho, sem deixar de sublinhar aquelas que são as especificidades do – chamemos-lhe assim – modo português de fazer a guerra.
Bem escritas, com uma linguagem acessível e de leitura muito fácil – o que faz com que se trate de uma obra destinada a um público muito vasto e diversificado –, estas mais de 500 páginas de texto, são complementadas por um utilíssimo anexo cronológico comparado (37 páginas), no qual o autor arrolou, em paralelo, os principais acontecimentos de natureza militar e política do período ocorridos na Cristandade, no mundo Islâmico, na Península Ibérica e em Portugal, o que permite uma leitura sincrónica desses acontecimentos e das relações, muitas vezes estreitas, mas nem sempre perceptíveis ou devidamente valorizadas, entre esses quatro espaços e os episódios neles ocorridos.
A obra inclui ainda um conjunto de 17 imagens, nomeadamente a respeito das formas de montar, da distribuição das obrigações de serviço militar, ou do armamento utilizado pelos combatentes portugueses da Idade Média, as quais contribuem eficazmente para a compreensão de algumas das questões abordadas no texto, aliás, tal como acontece com os 18 mapas que integram este livro, boa parte dos quais respeitantes à distribuição das fortalezas no território do reino, e com os perto de 20 de quadros que sistematizam matérias que vão desde a dimensão e composição das hostes em campanha até aos raios de acção de algumas incursões, passando, por exemplo, pelas sínteses das acções armadas conduzidas em determinadas regiões do território português.
Para a realização deste notável trabalho, Carlos Afonso socorreu-se, por um lado, de um vasto conjunto de fontes, narrativas e documentais, portuguesas, castelhano-leonesas (na sua maioria em latim) e islâmicas, epigráficas, iconográficas e sempre que tal se revelasse pertinente, às fontes arqueológicas, todas elas exploradas de forma exaustiva e sujeitas a um eficaz questionário. O autor recorreu ainda a uma extensa bibliografia, portuguesa e estrangeira, criteriosamente escolhida e onde tanto encontramos estudos clássicos (como os de Charles Oman ou Hans Delbruk), quanto trabalhos mais recentes, títulos que o autor demonstrou dominar na perfeição e com um enorme à-vontade – tal como na forma exemplar como explorou as fontes disponíveis –, de maneira que quase esquecemos que a sua formação de base não é a História, mas sim as ciências socio-militares.
Em suma, estamos perante um trabalho de grande fôlego, inovador no tema e na abordagem, e de enorme qualidade e rigor científico, que para além de nos apresentar, pela primeira vez num estudo monográfico, uma visão panorâmica da guerra durante o período compreendido entre 1128 e 1249, problematiza, coloca questões pertinentes e lança pistas e novos rumos de abordagem, motivos mais que suficientes para que rapidamente se torne uma obra de referência para todos os futuros estudos sobre a Guerra em Portugal na Idade Média.
Doutor Miguel Gomes Martins1
______________________________
1 Doutor em História da Idade Média pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Investigador integrado do Instituto de Estudos Medievais, da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova.

Doutor em História da Idade Média pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (UC). Investigador do Instituto de Estudos Olisiponenses, Investigador integrado do Instituto de Estudos Medievais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, onde lecciona a cadeira opcional de História da Guerra na Idade Média.