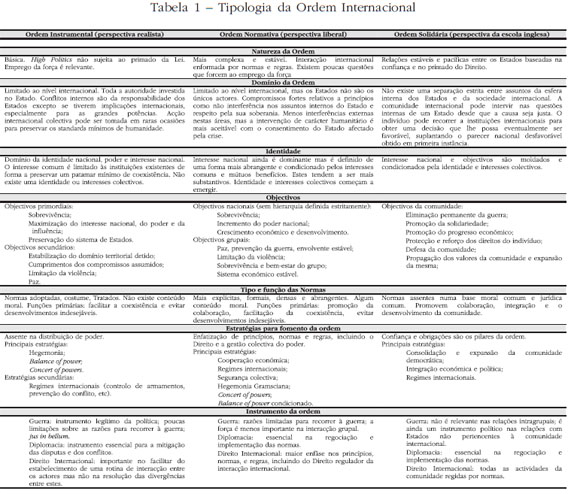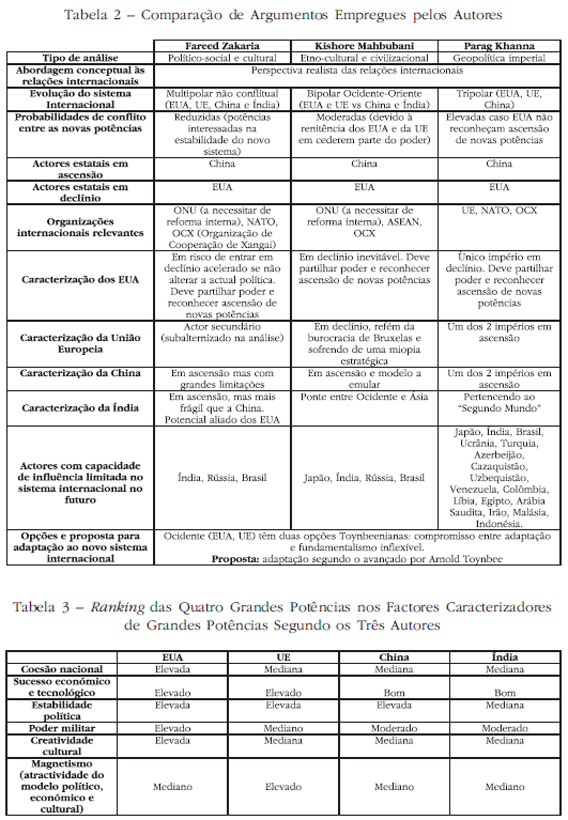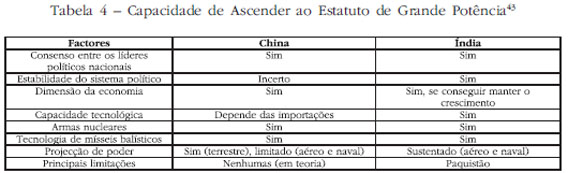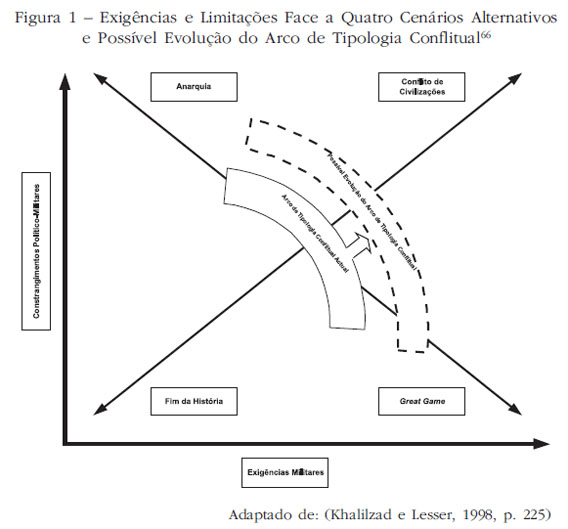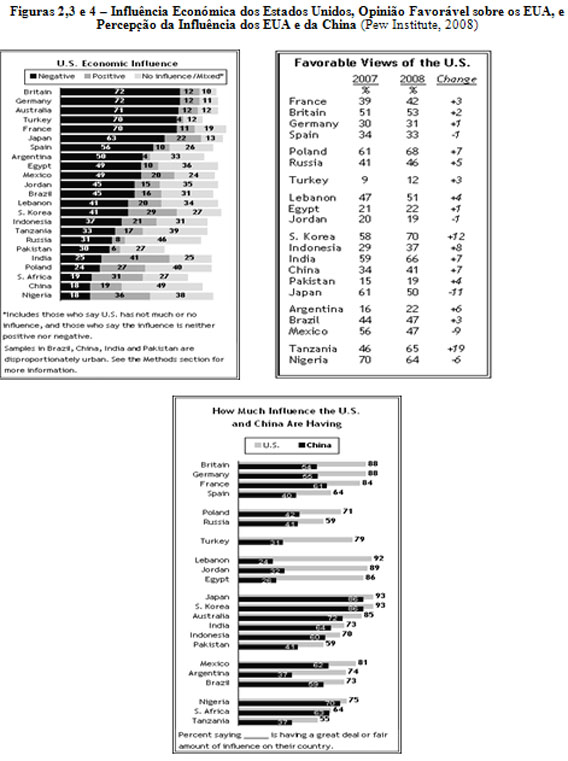“A História não se repete, mas por vezes rima”.
Mark Twain
“Os Estados Unidos normalmente conseguem chegar à melhor solução... depois de fracassarem na implementação de todas as outras”.
Winston Churchill
1. Enquadramento Conceptual
Para a maioria dos norte-americanos, small is not beautiful. Gostam e estão habituados a serem os primeiros. Têm grande orgulho na sua supremacia militar; Wall Street pauta a cadência dos mercados financeiros mundiais (mesmo quando está em crise, como é actualmente o caso); os cientistas norte-americanos foram aqueles que mais prémios Nobel venceram até hoje; as suas universidades continuam a liderar e a atrair docentes e alunos de todo o mundo; e por fim, Hollywood não deixa de continuar a ser a referência como um dos vectores do modelo de exportação cultural dos Estados Unidos.
Mas será que a Pax Americana está a chegar ao fim em resultado do seu declínio de poder “imperial” relativo no sistema internacional e da ascensão de novas potências? Será realista acreditar num tal declínio? Será ele inevitável? O novo sistema será multipolar ou não-polar? Se os Estados Unidos estão em declínio relativo, deverão estabelecer objectivos menos ambiciosos para a sua política externa e apoiarem-se menos no poder militar para os materalizarem? Deverá o unilateralismo e a formação de “coligações de determinados” (ou alianças flexíveis, de ocasião ou ad hoc) dar lugar a uma abordagem mais cooperativa e multilateral por parte de Washington?
Será inevitável a visão de Dominique Moisi de que “a configuração da Guerra-Fria de um Ocidente e duas Europas está inexoravelmente a ser substituída por uma Europa e dois Ocidentes”?
Estas não são questões novas e a sua resposta é tudo menos fácil, particularmente no contexto limitado desta análise, sendo que as incursões que se possam fazer de uma forma prospectiva, não deixarão de escapar a uma etiquetagem de esforços mais ou menos conseguidos no campo da mais pura “cartomância”.
Durante a segunda metade do século vinte, a “indústria” de previsão de acontecimentos cresceu substancialmente, passando de uma actividade infrequente para uma dimensão de quase ubiquidade, acarinhada por instituições universitárias e governamentais, por empresas multinacionais a organizações não-governamentais. O fulcro do esforço de previsão oscilou e oscila entre a dimensão económica e as prospectivas de longo prazo no que respeita à segurança internacional, recorrendo à aplicação de técnicas com base em modelos quantitativos bem como uma panóplia de abordagens probabilísticas. Todos estes esforços comungam entre si uma notável característica: na melhor das hipóteses apresentam uma medíocre margem de acerto. Senão vejamos, façamos o seguinte exercício: escolha-se um grande acontecimento internacional das últimas três décadas do século vinte, recue-se dez anos ou quinze anos antes, e tente-se ler as previsões publicadas à época. Imediatamente nos confrontaremos com uma enorme sucessão de importantíssimos acontecimentos que não foram antecipados sequer cinco anos antes deles sucederem. Poucos exemplos bastam para ilustrarmos o nosso argumento. Quem em 1967 ousaria prognosticar um encontro entre Richard Nixon e Mao Zedong em Pequim; ou em 1974 a fuga do Xá Reza Pahlavi do Irão e a tomada de poder pelo Ayatollah Khomeini; em 1985 o início do colapso da União Soviética; em 1989 a implosão da bolha imobiliária japonesa, com o índice Nikkei a chegar aos 10 mil pontos quando tinha atingido um máximo de 40 mil; ou em 1996 a presença de forças militares norte-americanas e da NATO no Afeganistão. Na verdade três dos cinco casos em cima referidos não foram sequer previstos um ano antes deles se concretizarem.
Prevêr o futuro no âmbito das relações internacionais é assim uma tarefa que talvez deva ser deixada ao cuidado de videntes uma vez que aquilo que se define como história política e económica, consiste essencialmente num conjunto de inesperadas descontinuidades derivadas de tendências ou padrões estabelecidos e que nenhuma disciplina consegue antecipar, por mais que os respectivos acólitos defendam em contrário (Doran, 1999)1. Concomitantemente prevêr a forma como o mundo estará estruturado daqui a uma ou duas décadas é uma tarefa particularmente difícil pois estas descontinuidades têm um impacto interactivo no elencar e na inerente consolidação argumentativa que se pretenda aplicar no descrever de tais prospectivas (Fukuyama, 2007).
Para uma melhor compreensão relativa aos conceitos de ordem internacional, sistemas internacionais, sua polaridade e respectiva transição, desafios e gestão de segurança, torna-se pois importante avançarmos com uma breve incursão empírica.
Quando falamos sobre uma alteração no princípio organizacional do sistema internacional (anarquia/hierarquia) ou na distribuição de poder estamos a analisar a construção de uma nova ordem internacional. Tal alteração sistémica tem surgido normalmente após a vitória numa grande guerra, tendo a mais recente sido aquando do colapso da União Soviética em 1991, que potenciou uma nova distribuição de poder - que não no princípio de distribuição do mesmo - com os Estados Unidos a surgirem como a única superpotência (Gilpin, 1981).
Os atentados de 11 de Setembro de 2001 foram outro acontecimento marcante e cujas consequências ainda hoje se fazem sentir, muito devido a um discurso maniqueísta norte-americano ao abrigo do qual “ou se estava com os Estados Unidos ou com os terroristas”. A “guerra ao terrorismo” não é uma nova Guerra-Fria como alguns meios académicos e políticos querem fazer crer, pois não está imanada de uma vertente justificativa ideológica, não sendo também um “conflito de civilizações”, mas podendo no entanto vir a ser uma guerra entre Estados que advogam diferentes sistemas de valores. Aqui nota-se o reavivar do reforço do poder do Estado e do sistema interestatal no combate a actores não-estatais que recorram ao terrorismo com o intuito de fragilizar uma das principais funções do Estado para com a sua população e um dos fins teleológicos da política - o garante da segurança.
No entanto, ressalve-se que os “efeitos em rede” dos atentados de 11 de Setembro apesar de serem um dos factores que enformam e continuarão a enformar a construção de uma nova ordem internacional nas primeiras duas décadas do século vinte e um, esses efeitos por si só não constituem uma base suficiente para a construção de uma nova ordem internacional, a qual tende a ser mais complexa e multidimensional fruto por exemplo, ora da regionalização, ora da globalização dessas mesmas ordens de segurança regionais, consoante a relevância no espaço e no tempo que elas poderão deter (Lake, 1997).
Ordem é uma expressão usada frequentemente por políticos e académicos. Os objectivos da ordem (como a sobrevivência, a limitação da violência, a mudança pacífica), bem como as diferentes estratégias operativas (como hegemonia, balance of power, regimes internacionais) e os seus intrumentos (guerra, Direito Internacional, diplomacia) têm sido desde há muito alvo de extensos e profundos estudos no campo das relações internacionais. Mas tal não tem sucedido proporcionalmente com a noção de ordem, a qual tem merecido uma grande atenção analítica que se cinge quase exclusivamente à chamada Escola Inglesa, que quando formulou o conceito de sociedade internacional fê-lo com um racional subliminar de ordem internacional (Bull, 1995).
Se o conceito de ordem parece não estar suficientemente desenvolvido tal pode dever-se a razões como: a natureza relativa do conceito; a crença entre os sectores realistas que a ordem é impossível de alcançar numa situação de anarquia; e o facto de aspectos deste mesmo conceito terem sido estudados sob outras áreas conceptuais (sociedade internacional, comunidade de segurança, teoria dos regimes, e institucionalismo liberal).
Não obstante estas dificuldades iremos avançar para efeitos desta análise com a formulação de Hedley Bull (1995, p. 8 e 16) que define ordem como “uma situação ou estado de coisas” que pode estar presente em maior ou menor grau no sistema político internacional numa determinada janela de espaço e de tempo. A ordem internacional é assim “um padrão de actividade que sustem os objectivos primários da sociedade dos Estados, ou da sociedade internacional”. Esta tem objectivos elementares, primários ou universais: a preservação do sistema de Estados e da sociedade de Estados como essencial para a protecção da forma prevalecente de organização política; a manutenção da soberania externa dos Estados; a paz internacional (que se subordina às preocupações de segurança); a limitação da violência nas interrelações internacionais; o cumprimento das promessas (honrar os compromissos); e a estabilização da posse e das regras de propriedade (reconhecimento da jurisdição do Estado sobre um determinado território e população).
Como a preservação da segurança e da estabilidade é essencial e na ausência de um governo supranacional, compete à sociedade internacional dos Estados através de mecanismos tanto liberais (Direito Internacional, diplomacia) como realistas (balance of power, guerra) gerirem este delicado equilíbrio e preservarem a ordem vigente, desde que a maioria dos Estados daí retirem dividendos. Mas isto não significa que tal ordem não seja dinâmica. Como já referido anteriormente, se mecanismos como o emprego limitado da força e o recurso à guerra são contemplados (descrevendo-se e regulamentando-se as situações em que estes devem ser empregues com legalidade) então a ordem pode ser alterada de acordo com o princípio organizador do sistema internacional, com a distribuição de poder e com as dinâmicas da política internacional que é influenciada tanto por ideais como por factores materiais.
Existem três tipos de ordem as quais diferem em termos de propósito, identidade dos Estados participantes, sua coesão social e interesses, e função das normas. A ordem instrumental está orientada para a realização de fins individualistas. Identidade nacional, poder, e interesses são as considerações dominantes, não existindo coesão social entre as unidades interactuantes. A ordem normativa está direccionada para a concretização de fins individuais e colectivos através de regras de colaboração entre as unidades interactuantes, sem que estas ponham em causa princípios fulcrais como a identidade nacional. A ordem solidária é baseada na confiança entre as unidades interactuantes, nas suas obrigações para com a comunidade e no primado da Lei. O seu objectivo é a consolidação de uma comunidade que aglutina e defende os interesses nacionais através da prossecução de objectivos comuns e do aprofundar de uma identidade colectiva (figura 1).
A alteração no poder e nos interesses dos actores é assim importante para explicar a mudança no seio de uma ordem internacional. As ideias desempenham um papel importante na explanação da legitimação de uma ordem e mudança no tipo da mesma. Mas não é a competição por ideias que traz a mudança radical, que neste prisma analítico é incremental e evolutiva. A mudança radical é aquela que resulta da alteração na distribuição de poder e dos interesses das potências dominantes na nova ordem, ainda que, se adequado, esta possa ser influenciada em larga medida pelos valores da potência ou potências dominantes.
Assim ao estarmos a assistir a uma transição (redistribuição) do poder no sistema internacional, com a eventual formulação (discutível) de uma nova ordem “pós-americana” surgem diferentes perspectivas quanto aos actores que materialização esta nova ordem, sua hierarquização no sistema, normas de actuação que irão previligiar, e desafios de segurança que pautarão e forçarão à acção cooperativa multilateral de alguns ou da totalidade desses mesmos actores, factores para os quais viramos de seguida a nossa atenção.
2. O Renovar do Debate da Ordem Pós-Americana
No âmbito da história das civilizações, a ascensão do Ocidente é um dos acontecimentos mais analisados, em parte também por ser um dos mais antigos e persistentes (Braudel, 1995; Spengler, 2006; Toynbee, 1987).
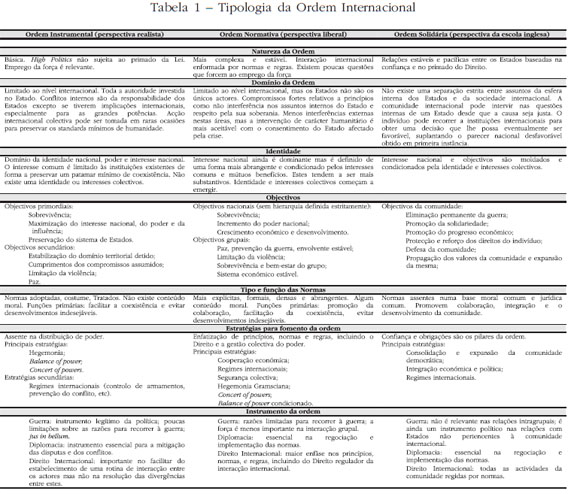
As velhas potências coloniais (ou a “velha Europa” como lhe chamou Donald Rumsfeld, com a excepção feita ao Reino Unido, aquando da constituição da “Coligação dos Determinados” e que materializou a frente político-militar da invasão do Iraque) encontraram no idealismo e messianismo político norte-americano “as asas que lhes permitiram continuar a voar” no éter da ordem internacional pós-Segunda Mundial e pós-Guerra Fria, retirando daí os inerentes dividendos em termos de poder e de influência relativa respectivamente através de uma estratégia de bandwagoning no plano político-militar, mas também de free riding no plano económico e por vezes de buckpassing nos assuntos de segurança e defesa regional e global.
Neste âmbito, a capa do modelo messiânico de expansão da área geográfica global das democracias tão desejada pelos Estados Unidos, serviu também de catapulta ideológica às potências europeias, mais direccionadas para o alargamento deste tipo de regime no velho continente, ainda que sob uma perspectiva integrativa e consultiva progressiva, ao contrário da “modalidade de acção coerciva” (i.e. Iraque) implementada por Washington2. Se o alargamento desta esfera democrática contribui para uma maior estabilidade do sistema e da sociedade internacional é algo que permanece em aberto e sujeito a forte discussão3, ainda que a sociedade dos Estados nunca tenha sido uma verdadeira democracia, configurando-se normalmente mais como uma oligarquia: a preponderância de alguns numa sociedade anárquica (Bull, 1985 e 1995)4.
Numa era de democratização, muitas das vezes geradas a partir do desejo de mudança da população (numa mecânica reformista ascensional) tem-se assim catalizado a ocorrência de muitas revoluções democráticas, de reformas dos mecanismos de mudança social, do capitalismo, do consumo, das poupanças, do investimento, da cultura, e não menos importante da tecnologia e da informação. No entanto, o incremento do número de democracias não se tem traduzido num aumento da liberdade, frequentemente em resultado da eleição de autocratas que transformam muitas dessas democracias em democracias iliberais, também porque a sociedade internacional (conceito não consensual, como refere Kishore Mahbubani) avançou para apoios não bem consolidados de processos de democratização prematura que não cultural e politicamente adaptados às necessidades locais.5 Como enfatiza Parag Khanna (2008, pg. xxvi) a quase totalidade dos países do “primeiro mundo” são democracias liberais não porque a democracia os colocou nesse patamar de topo mas, porque só quando entraram para este patamar é que puderam adoptar um verdadeiro modelo democrático. Assim pode-se dizer que a democracia pura é como a haute couture: pode-se admirá-la, mas não é prática para o dia-a-dia.
A desastrosa combinação de uma espécie de sindrome de stress pós-traumático após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 com uma retórica neo-Wilsoniana gerou uma série de políticas como a invasão do Iraque, o menosprezo pelo papel e abordagem multilateral da ONU, o proteccionismo comercial, as suspeitas quanto ao impacto da globalização no mercado de trabalho dos EUA, a marginalização ou subalternização de muitos aliados (atente-se nos comentários iniciais de Donald Rummsfeld quanto à utilidade das forças da NATO no Afeganistão após o derrube do regime Taliban) e a recusa em ratificar o Protocolo de Kyoto, materializando uma frequente “sintomatologia” americana de quem sabe muito pouco sobre o mundo para além das suas fronteiras. Terminologia bombástica como “não existe substituto para a vitória” ou “rendição incondicional”, enfâse no “excepcionalismo americano”, ou frases como “ou estão connosco ou com os terroristas” contribuíram ainda mais para pintar a tela do sistema político internacional segundo duas tonalidades - branco ou preto - numa lógica maniqueísta que ciclicamente é rejuvenescida pelos think tanks conservadores norte-americanos.
No entanto, este idealismo norte-americano frequentemente metastiza-se em utopia, pois ao pretender defender o mundo da agressão, ou mesmo da injustiça, tende a esquecer o facto de que tal não significa proteger a democracia - um exercício sobre evangelismo político que torna ainda mais difícil o cumprimento de tal tarefa (Carriço, 1998, p. 275).
Com a manta de retalhos que, quer se queira quer não, era e continua a ser o processo de integração europeia, e não menos importante, de assumpção da União Europeia como um actor coeso e influente no plano político e militar no seio do sistema internacional, tal não deixou nem deixa, de reforçar a noção de que o momento unipolar identificado pelo conservador norte-americano Charles Krauthammer (1991) no início da década de noventa do século passado ultrapassou largamente a noção de efemeridade e tornou-se num período unipolar (se tivermos em consideração as grandes transformações e conflitos ocorridos ao nível sub-sistémico que tornam dez a quinze anos num período, mas que, por outro lado, em termos históricos não deixa de ser um momento) graças também à dificuldade da Rússia em definir uma identidade própria tanto como uma grande potência ou como um híbrido entre democracia e autoritarismo, naquilo que Fareed Zakaria (2003)6 denominou apropriadamente como uma das democracias iliberais.
Neste macro-contexto não deixa de ser pertinente referir que desde o século dezoito que praticamente de duas em duas décadas, o fim da América como super-potência é prognosticado7. Mais recentemente, em 1987 o historiador Paul Kennedy prognosticava uma decadência progressiva de Washington, quatro anos antes da implosão soviética que deixou os Estados Unidos sozinhos no pináculo de poder global. O sentimento da época era o da ascensão imparável de uma outra potência asiática: o Japão8. Este “boom ansiolítico” não durou mais de cinco anos, o tempo suficiente para o rebentar da “bolha especulativa do mercado imobiliário” nipónico, que gerou - em conjugação com uma crise de identidade e as sempre prescientes lutas políticas interstícias japonesas - o relegar de Tóquio para uma posição - ainda que importante - não tão robusta quanto os “arautos da nova promessa económica” anunciavam. Os Estados Unidos estavam para durar e com o Presidente Bill Clinton tornaram-se na “nação indispensável” (Clinton, 1997)9.
Agora, quase vinte anos depois do “fracasso japonês como primeiro competidor global pós URSS”, uma vez mais, uma nova onda de “transição de poder” parece começar a varrer a ribalta académica e a acicatar intensos debates estratégicos e geopolíticos. Esta renovada ansiedade associada à transição de poder no sistema político internacional não é nova e pode-se explicar simplisticamente pelo receio àquilo que é novo e incerto, mesmo que o resultado sistémico possa vir (ou não) a ser melhor que o anterior.
Por defeito, esta “ausência de alternativas” num sistema político internacional que desde a paz de Vestefália foi sucessivamente multipolar, bipolar e unipolar, incrementou ainda mais o fascínio analítico sobre a única superpotência - os Estados Unidos da América - e o seu papel na hierarquização do sistema (Lake, 2007). Um número crescente de estrategistas tanto norte-americanos como europeus e asiáticos têm elaborado obras, feito comunicações, alimentado debates sobre o inevitável declínio da hegemonia norte-americana e a aparententemente imparável ascensão da Ásia liderada essencialmente pela China e pela Índia (notavelmente relegando para segundo plano o Japão, Singapura e a Coreia do Sul, essencialmente por estes países terem adoptado um modelo de desenvolvimento económico Ocidental “puro” e pela facilidade com que absorveram e absorvem as influências políticas e culturais deste mesmo Ocidente10) e o papel que esta desempenhará num sistema internacional que delineiam como multipolar e pautado por um renovado “concerto de potências”11, onde as recentes “boas práticas de política externa”, nomeadamente da China, a tornam num bom exemplo de um responsible stakeholder (algo que os Estados Unidos também querem que Pequim seja - Departamento de Estado Norte-Americano, 2005) estabelecendo concomitantemente o core desta argumentação conceptual.
No outro campo vamos encontrar aqueles que defendem que tal transição de poder em detrimento dos Estados Unidos é algo de extemporâneo e que carece de uma efectiva comprovação, com os professores John Ikenberry e Jessica Tuchman Mathews a liderarem esta argumentação conceptual, a qual tem o mérito de seguir uma lógica analítica de segurança horizontal (multidisciplinar e multidimensional) e não vertical (hierarquizada).12
No entanto o segredo do sucesso (até ver) dos modelos de desenvolvimento económico da China e da Índia, ainda que diferenciados no modelo operacional adoptado (fruto também de dois tipos de governo que apresentam: comunista e democrático) são idênticos no american blueprint seguido (se é que assim o poderemos denominar). A China fê-lo através de Deng Xiaoping em 1978 com as “quatro modernizações” (agricultura, indústria, tecnologia e defesa ) e a Índia em 1991 com a incorporação de reformas económicas sob a liderança bastante competente do então Ministro das Finanças e actual Primeiro-ministro, Manmohan Singh. O resultado foi o surgimento de duas máquinas de deflacção global (Chíndia), exportadoras de produtos (China) e de serviços (Índia) por uma fracção daquilo que custaria produzi-los no Ocidente.13
Esta não foi tarefa fácil e os desafios são enormes no que concerne ao esforço necessário para manter ambas as economias em crescimento, onde o relevo de dois factores - um baixo ponto de partida para tal crescimento e uma enorme base populacional - associado a uma cada vez maior importação de matérias-primas indispensáveis à alimentação de ambas as economias, geram um vórtice de tal magnitude que é inevitável um forte e longo impacto na natureza da transição de poder no sistema internacional.14
Reforçadamente, ambos os países vieram materializar uma segunda e terceira vias quanto aos modelos de desenvolvimento económico até então defendidos como potencialmente sustentáveis e viáveis, constituindo alternativas ao denominado “Consenso de Washington” advogado pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial15, pelo que não tardariam a surgirem na academica vox populi os vocábulos de “Consenso de Pequim” e menos frequentemente o de “Modelo de Nova Delhi”.16
Mas sejamos cautelosos e coloquemos um filtro mais pragmático na análise dos obstáculos com que se defrontam estas duas economias emergentes que podem condicionar a curto e a médio prazo esta euforia, e que normalmente, como é o caso, tendem a ser subestimados, a saber: corrupção quase endémica, nepotismo, tensões religiosas (na Índia), tensões étnicas (na China), acentuadas assimetrias sociais, problemas ambientais, e mais importante a quase ausência de uma rede de modernas infraestruturas sociais, extensível à maioria dos respectivos territórios, e não restrita quase e apenas aos principais centros urbanos.17
Não obstante o sucesso destes modelos de desenvolvimento de dois países que se auto-definem - justificadamente - ainda como países em desenvolvimento, porque é que existem cada vez mais sugestões sobre um mundo pós-americano? E de um declínio norte-americano com uma transferência do poder do Ocidente para o Oriente? Será lícito e linear estabelecer uma tal correlação?
Entre Março e Maio de 2008 dois dos mais argutos e consistentes pensadores políticos da contemporaneidade - Fareed Zakaria e Kishore Mahbubani - e um novo investigador do meio - Parag Khanna - todos eles de origem asiática, publicaram obras nas quais defenderam com diferentes graus de “paixão” e com argumentação factual similar nos dois primeiros casos (ainda que empregando-a para enfatizar pontos distintos), e um resultado final diverso, a noção de que estamos a iniciar um período de transição na polaridade do sistema político internacional.
Com efeito enquanto (Zakaria, 2008) aponta para os potenciais perigos de um mundo pós-americano, caso Washington não tome medidas desde já para romper com a inércia de um sistema político, que classifica como disfuncional e com o objectivo não de manter a sua liderança política-económica e militar (algo que vai sofrer uma natural e inevitável erosão relativa), mas essencialmente para continuar a ser o referencial, “o repositório” do ideário humanista e democrático do mundo (algumas das vertentes do conceito de soft power definido por Joseph Nye18); já Mahbubani (2008) não se coíbe em diagnosticar (e a causticar no caso da União Europeia) o inevitável declínio Ocidental (dos Estados Unidos) a favor do “exemplo de competência” da Ásia, ironicamente não com base num modelo “cultural e socialmente autóctone” mas que foi desenvolvido e adaptado a partir do referencial Ocidental.
Khanna (2008), adopta uma abordagem diferente. Para ele os impérios estão de volta e em competição directa entre si neste novo século (Estados Unidos, União Europeia e China). Ainda que estes não gostem de se denominar como impérios, Khanna defende que os países que designa de “segundo mundo” são e serão o fulcro da competição desta tríade imperial, essencialmente pela acumulação e controlo de recursos energéticos e de matérias-primas.19 Aqui, o autor é optimista, não acreditando que esta competição descambe em conflitos militares entre aqueles, pois cada um tem uma estratégia operacional distinta. Simplificando em excesso a sua argumentação principal de algo que é bastante complexo, Khanna caracteriza os Estados Unidos como oferecendo protecção militar bem como a promessa da democracia e da defesa dos direitos humanos; a União Europeia acenando com a perspectiva de adesão ou parceria ao clube económico mais bem-sucedido a nível mundial, desde que os candidados cumpram os requisitos político-económicos pré-estabelecidos por Bruxelas, e a China dá prioridade ao comércio, ao investimento e a projectos de construção de infraestruturas, sem colocar qualquer tipo de condições políticas para a atribuição de empréstimos que possibilitem a concretização de tais desideratos nos Estados-alvo. São três estilos diplomáticos distintos e em competição: o baseado nas coligações (EUA), na procura de consensos (UE) e o baseado em consultas (China).
Para o autor, o império que está em maior desvantagem é o dos Estados Unidos, que descreve como uma mistura de ingenuidade e arrogância, “uma potência plena de esteróides mas com um défice de massa cinzenta”, cuja “decadência” prevê a médio prazo, em resultado de uma “velha e historicamente conhecida sintomatologia de declínio imperial”: a sobreextensão. A solução tal como o preconizado por Zakaria e Mahbubani (ainda que com nuances argumentativas distintas) passa por uma adaptação à transição de um papel de domínio global para um de competidor e de vendedor de valores, cultura e influência na passerelle da credibilidade onde também desfilam europeus e chineses.
Tal como Zakaria, ainda que de forma mais contundente, Khanna argumenta que os Estados Unidos já não sabem o que querem pois as suas estruturas governamentais (federais) estão alheadas quer das preocupações básicas dos seus cidadãos, quer da dinâmica de segurança do planeta, o que faz com que a maioria da população esteja refém de uma elite (de política externa) que o cientista político Michael Mandelbaum definiu no início do século vinte de forma pictórica como um doughnut (com muitos interesses periféricos mas nada no centro).
Perante esta crise identitária do beacon of the democracy (também apontada por Zakaria e Mahbubani) vamos encontrar nestes dois autores mais alguns pontos comuns na argumentação exposta por ambos, ainda que com tónicas distintas: o sucesso das ideias Ocidentais como a modernização, a racionalização do processo governativo, e a globalização são valores que se podem agora considerar como universais e derivados do modelo inspiracional norte-americano. O próximo nível, ou salto qualitativo em termos de desenvolvimento e de protagonismo e/ou liderança no sistema internacional com repercussões no plano da polarização e configuração do sistema, dependerá da forma como se poderá “reinventar” o modelo tradicional Ocidental, tornando-o mais permeável e maleável à inclusão de peer competitors, estabelecendo-se então a diferença em torno da capacidade, ou ausência dela, dos Estados Unidos em manterem um competitive edge político, económico, militar e ideacional, agora, não de forma quase ubíqua e asfixiante, mas antes pela sedução, adequação e aplicabilidade desse mesmo modelo.
Em suma, enquanto Zakaria discorre não sobre o “declínio de Gulliver mas sobre a ascensão de alguns liliputianos mais poderosos (mais a China e menos a Índia) com o beneplácito de Gulliver”, Mahbubani centra-se no “inevitável declínio de Gulliver e na ascensão de alguns liliputianos mais poderosos (China e Índia mas não a seu ver a União Europeia) ”, e Khanna no “inevitável declínio de Gulliver e na ascensão de alguns liliputianos mais poderosos” (China e a União Europeia, mas não a Índia). A importância destas obras merece pois uma análise mais detalhada, capaz de pelo menos descodificar e contextualizar algumas das visões Pitonisianas desta “tríade”.
3. “O Reino dos Céus Norte-Americano” em Declínio Relativo …ou Talvez Não
A percepção de declínio (relativo) do poder dos EUA (subprimia USA20) é, por enquanto, exactamente isso: uma percepção. Os actuais sinais de uma potencial recessão económica norte-americana têm a sua génese nas políticas messiânicas e belicistas da actual administração de George W. Bush, um fenómeno que poderá sofrer uma oclosão em termos de impacto com a eleição de uma nova administração da Casa Branca em Novembro de 2008 (especialmente se esta fôr democrata). É verdade que nas últimas duas décadas tem-se vindo a assistir a um crescendo das assimetrias económicas na sociedade norte-americana e que todo o sistema de segurança social padece de um cada vez mais grave problema crónico de sub-financiamento, entre muitos outros problemas identificados por (Khanna, 2008, p. 320-335). Como descreve Zakaria (2008b; p. 19) a malaise norte-americana é tal que “A can-do country has been saddled with a do-nothing political system”.
Se é verdade que as forças da globalização21 estão a reduzir o diferencial de desenvolvimento entre os EUA a China e a Índia, tal não significa necessariamente que Washington seja a capital de uma superpotência em declínio inexorável. “O papão sino-indiano” está ainda longe de depôr o estatuto de número um mundial por parte dos EUA, pelo que a grande virtude da globalização está não no declínio do poder de Washington mas na possibilidade que confere a outros países ascenderem em conjunto no ranking do poder global.
A “moda” do power shift 22 e do pós-americanismo, por mais atraente, eloquente e objectivamente que seja exposta padece sempre de algumas contradições. Na realidade, esta “moda” pode ser o resultado de uma certa fadiga no pensamento estratégico, agora praticamente exaurido no manancial analítico que o modelo unipolar permitiu na década de noventa. Mas também convenhamos, não deve ser subestimado o facto de os Estados Unidos terem, em resultado do seu empenhamento militar no Iraque e no Afeganistão, chegado à conclusão que o poder de uma superpotência é relativo e tem os seus limites (daí o facto de se ter reduzido acentuadamente a atracção da Casa Branca por uma outra guerra envolvendo o Irão), reforçado ainda mais pela escalada dos preços do crude e a crise do subprime (MSNBC, 2008)23. Esta consciencialização estratégica, serviu também para acicatar a noção de que o zénite do poder americano havia sido atingido, e “que a viagem de Washington na montanha russa (ups and downs) do sistema internacional quanto à distribuição do poder entrava agora em percurso descendente”. Para Fareed Zakaria estamos a sair de um mundo anti-americano para um mundo pós-americano (2008, p. 5)24.
No seu mais recente livro intitulado “The Post-American World”, Zakaria (2008) pode à primeira vista encaixar-se no enquadramento em cima descrito. Mas este não é mais um exercício em declinismo norte-americano, só o sendo efectivamente se as suas recomendações finais não forem levadas em consideração pelos futuros ocupantes da Casa Branca, como veremos mais à frente. O autor prescreve a receita de que os Estados Unidos devem-se assumir como o Chief Executive Officer (CEO) do sistema internacional, numa reformulação da etiquetagem de indispensable nation preconizado anteriormente por Bill Clinton e Margaret Allbright. O objectivo é evitar a entropia de um sistema multipolar difuso.
Zakaria (2008) não crê numa divisão civilizacional à la Mahbubani (diferente da de Samuel Huntington) nem na tese do “fim da história” como o preconizado por Francis Fukuyama. Para ele não existe Ásia (no conceito de bloco único e coeso), considerando-a uma construção geopolítica Ocidental, referindo as suspeitas históricas mútuas entre a China e o Japão e entre a China e a Índia.
O autor é apologista do modelo de desenvolvimento Ocidental que define abrangentemente como a “invenção da modernidade”, não obstante esta ter as suas raízes em conflitos como as duas Guerras Mundiais. Mas esta modernidade já não é a do passado onde uma lógica revisionista e belicista presidiu à ascensão de potências no sistema internacional, algo que na sua óptica está actualmente controlado. Ser moderno é aceitar um sistema pacífico onde países não tendam a ascender na escala de poder em detrimento ou através da deposição de outros. Esta é uma “ordem Ocidental” fácil de aderir e difícil de depôr, não obstante os perigos divisivos e destrutivos do nacionalismo, particularmente nas nações em ascensão no sistema internacional, e cujos excessos se não devidamente controlados podem funcionar como facilitadores de conflitos (Zakaria, 2008, p. 32-33).
Zakaria (2008, p. 36) é um crente na “estabilidade sistémica” que tem permitido “ao rest (Ásia) ascender face ao West”, mas segundo as suas próprias condições o que torna o primeiro num accionista com interesse (cada vez mais preponderante) nessa mesma estabilidade, destarte a crescente complexidade de uma economia cada vez mais interligada e interdependente.25
De uma forma persuasivamente inteligente o autor transporta-nos entre potenciais indicadores de crise e de colapso, mas fá-lo de uma forma devidamente contextualizada, “descascando as diversas camadas estatísticas” sem deixar - relevantemente - de lhes conferir um cunho de sobriedade, onde os números brutos nacionais são desmistificados e reajustados para a verdadeira realidade de cada um dos países analisados (EUA, China e Índia), algo que Mahbubani não faz (intencionalmente ou não), pois tal vulnerabilizaria o seu argumento central (Zakaria, 2008, p. 57-65).
Por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) da China é actualmente de três centenas de milhares de milhões de dólares enquanto o dos EUA é de 14. Se a China continuar a crescer indefinidamente a 7% ao ano, atingirá as seis centenas de milhares de milhões de dólares em 2018 e as 12 em 2028. Se os EUA mantiverem a sua tradicional taxa de crescimento em torno dos 3,5% o seu PIB em 2028 será de 28 centenas de milhares de milhões de dólares. Em termos globais, e nesta óptica, Washington continuaria a liderar largamente a fatia da produtividade mundial.
No campo da ciência e tecnologia, Zakaria oferece-nos igualmente uma análise fria e calculista. Contra os gigantescos números de “engenheiros”26 que a China e a Índia produzem anualmente (respectivamente 600 mil e 350 mil contra 70 mil dos EUA) mas a grande vantagem qualitativa dos EUA está não apenas no nível de formação, treino e competências obtidos pelos seus diplomados. Mais se colocarmos estes números numa perspectiva per capita conclui-se que os EUA formam mais e melhores diplomados nas áreas das ciências de engenharia. Em termos globais os EUA possuem 16 das vinte melhores universidades mundiais (University Metrics, 2006)27.
É um facto que os EUA são a economia mais competitiva do mundo, liderando em termos de produtividade e de lucros, sendo o primeiro em inovação, o nono em rentabilização tecnológica, o segundo em gastos empresariais com investigação e desenvolvimento, e o segundo na qualidade das instituições ligadas à investigação científica, com a China a não entrar sequer nos primeiros trinta classificados e a Índia a ficar no top ten apenas quanto à dimensão do mercado associado ao poder de compra (Zakaria, 2008, p. 41).
Zakaria (2008) identifica a ansiedade como resultante da ascensão da China (facto presente), seguida mais de longe pela Índia (algo que só no futuro se poderá materializar). E aqui pode-se dizer que size matters pois a China opera numa escala tão grande que é impossível não alterar a natureza do jogo de poder, agravado pelo facto de os norte-americanos estarem habituados a raciocinar em grande escala (ainda que à sua escala).
Pequim é de facto o maior sucesso histórico em termos de desenvolvimento económico em tão curto espaço de tempo (30 anos de taxa de crescimento anuais entre os 7 e os 11 por cento, 400 milhões de pessoas que superaram o limiar de pobreza - condensando duzentos anos de industrialização Ocidental em trinta anos) um fenómeno que parece desafiar as “leis da gravidade económica”, onde um “autoritarismo modernizador” assente numa política de “leninismo de mercado”, essencial para uma ascensão pacífica (heping jueqi) ou desenvolvimento pacífico da China28. O Partido Comunista Chinês tem seguido uma política de desenvolvimento económico pragmática, idealizada por Deng Xiaoping, e que se pode resumir à frase de “camaradas enriqueçam, mas deixem o controlo do processo por nossa conta”. Esta opção revelou-se - sob a perspectiva do interesse nacional da China - a mais acertada, não deixando de originar comentários sobre as virtudes do modelo por parte de deputados indianos que vêm as políticas democráticas populistas (all politics is local) como fragilizadoras dos objectivos económicos do país a longo prazo (pois os ciclos eleitorais a tal obrigam). A China não tem esta preocupação (democrática), mesmo que cometa alguns erros pode sempre desenvolver e implementar uma estratégia a longo prazo (Zakaria, 2008, p. 95).
Para o autor a Índia é uma promessa por cumprir com o seu crescimento económico a ser efectuado não através das políticas governamentais mas apesar destas. A Índia não é nem nunca será uma China29, bastando para tal atentar no facto de 50 por cento do seu PIB ser oriundo do sector dos serviços, 25 por cento da indústria e os restantes 25 a pertencerem à agricultura, numa distribuição idêntica à de Portugal e da Grécia. As vantagens que Nova Delhi tem e que deve cimentar e explorar em benefício próprio e do sistema internacional são a sua enorme economia, o modelo democrático, um vibrante modelo de secularismo e de tolerância, um conhecimento do Ocidente e do Oriente (também sublinhado por Kishore Mahbubai), e uma relação especial com os Estados Unidos (Zakaria, 2008).
Para o autor não existe uma corrida entre os EUA, a China e a Índia, pois quanto aos dois últimos se esta alguma vez existiu, cessou logo à partida, e quanto aos dois primeiros, o diferencial que Washington irá manter durante o século vinte e um, dificilmente alterará a preponderância (não a hegemonia, e até há pouco tempo a primazia) dos EUA no sistema internacional (Zakaria, 2008).
Aqui Zakaria (2008) rejeita um historicismo Toynbeeano. Se as lições da história aqui fossem aplicáveis (e muitos já escalpelizaram este tópico) tal corrida (crescimento) propulsionaria uma lógica revisionista e neo-imperialista de contornos igualmente militaristas. Mas, não obstante o referencial historicista e incontornável a Arnold Toynbee que Zakaria cita logo no início da sua obra (e a que Khanna recorre com frequência), a diferença é que para ele o nexo da competição pelo poder no sistema internacional já não se baseia exclusivamente numa lógica tradicional de aquisição e/ou expansão de impérios mas antes de aposta nos mercados.
No que diz respeito à transição de poder no contexto militar, Zakaria (2008) é taxativo: a superioridade do poder militar dos EUA face à China não está nem estará em causa porque a base da sua sustentação é a economia, e a norte-americana com todos os altos e baixos é consideravelmente mais robusta e vigorosa que a chinesa. Ao contrário de Parag Khanna, Zakaria afirma que o caminho para o poder é através dos mercados e não através de impérios. Neste prisma, o principal ponto forte e vulnerabilidade também é o facto de os EUA e a China estarem indissoluvelmente cada vez mais ligados por uma Mutual Assured Destruction (MAD), não nuclear mas económica, tal o elevado grau de interdependência e complementaridade atingido por ambas as economias (simplisticamente falando “Pequim está a financiar o consumo norte-americano de produtos chineses” e a financiar o défice dos EUA).
Na vertente cultural o seu diagnóstico é optimista. Competência, inovação, oportunidade, competição são tudo áreas onde os EUA lideram destacados, e continuarão a liderar pois o seu sistema universitário continua a ser o melhor em termos mundiais e a atrair a crème de la crème da investigação e desenvolvimento das mais diversas áreas do saber. Demograficamente os EUA continuarão na crista da onda graças a uma política de imigração que lhe permite reduzir o impacto do envelhecimento da população ao contrário do que está a suceder na Europa e no Japão e cada vez mais na China30.
No plano ambiental, o autor identifica o problema global como o resultado de existirem muitos Estados a crescerem simultaneamente e com taxas elevadas, apontando o Protocolo de Kyoto como um modelo fracassado não pela rejeição do mesmo pelos Estados Unidos (que considera compreensível) mas sim porque não incorporou a Índia e a China (que igualmente não o ratificaram).31 Aqui o seu argumento apresenta uma falha pois ao advogar a liderança pelo exemplo por parte dos Estados Unidos, Zakaria contraria a lógica quase imaculada apresentada até então. A questão não se deve centrar na pressão sobre Pequim e Nova Delhi para reduzirem as emissões de gases de efeito de estufa quando estão a aplicar e a rentabilizar um modelo de desenvolvimento económico que permitiu ao Ocidente catapultar e maximizar a sua proeminência global, transmitindo uma mensagem de que “as regras do jogo já não se podem aplicar, não obstante ambos os países terem chegado mais tarde à mesa de jogo que tanto beneficiou o Ocidente”, mas no reajustamento do próprio modelo norte-americano, aproximando-o do referencial ambiental que está a ser implementado pela União Europeia.
Zakaria (2008) termina com um alerta. Se os EUA continuarem a alimentar suspeitas sobre questões como o comércio mundial, a imigração, e o investimento externo - agora não porque os cidadãos americanos não viajam até ao estrangeiro mas antes porque os estrangeiros estão a ir até ao Estados Unidos - estarão a negar a si mesmos aquilo que desde sempre advogaram: a globalização. Na sua opinião os EUA não se podem dar ao luxo de se fecharem sobre si mesmos numa fase em que o mundo se está a abrir.
Assim o desafio que enfrentam é essencialmente político e a classe política de Washington tem de desenvolver estratégias que permitam aos EUA continuarem a ter relevância num mundo que já não dominam, por ser agora mais diverso mas também mais polarizado política e economicamente. O autor não deixa de advertir (tal como Kishore Mahbubani, ainda que este generalize ao que denomina de Ocidente) que o “casulo” de insensibilidade cultural em que os americanos têm vivido deve terminar, sob o risco de não conseguirem acompanhar as mudanças em curso, basta para tal interpretarem as sondagens sazonais do Pew Institute que mais à frente apresentamos (Zakaria, 2008).
O livro termina com seis propostas de acção para inverter este “situacionismo político” dos EUA, as quais são do mais puro bom senso e pragmatismo, numa clara reminiscência evolutiva do Concert of Powers de Castlereagh e Metternich da ordem europeia pós-Napoleónica: (1) definir prioridades, aceitando que não pode atingir todos os seus objectivos; (2) definir regras gerais de actuação, mas estreitar os seus interesses; (3) agir “como Bismarck e não como a Grã-Bretanha”, ou seja funcionar como um gestor da eficácia do sistema, ser um facilitador e não um opositor à transição no sistema; (4) optar por um multilateralismo selectivo; (5) pensar assimetricamente e não encarar cada problema como tendo sempre a mesma solução (onde cita Mark Twain, “for the man who has the hammer every problem looks like a nail”); e (6) reconhecer que o poder advém da legitimidade.
4. A Nova Era Asiática Segundo Kishore Mahbubani
O argumento principal desta nova obra do autor é uma evolução intelectualmente mais rica e sofisticada - ainda que não imune a forte contra-argumentação32 – da compilação de ensaios intitulada Can the Asians Think (2002) e do posterior volume Beyond the Age of Innocence: Rebuilding Trust Between America and the World (2005) e assenta na noção de que o mundo pode ser mais seguro e menos propenso ao conflito se o Ocidente aprender a trabalhar com - em vez de contra - uma Ásia que deixou de ser um objecto da história mundial para passar a ser um sujeito, resultado de um processo de renascimento de confiança cultural Confuciana, Índu e Islâmica. Tal renascimento e ascensão será bom para o mundo, ainda que o Ocidente terá grandes dificuldades em se ajustar a este novo zeitgeist, que já havia sido avançado por Samuel Huntington (Huntington, 1996). Tais dificuldades resultam essencialmente da ausência no discurso estratégico Ocidental de metodologias a seguir para optimizar o processo de adaptação a esta nova ordem internacional que mediante a maior ou menor capacidade de implementação dessa estratégia adaptativa poderão prefigurar três cenários evolutivos: (1) uma “Marcha para a Modernidade”, que é a mais desejável e previsível, e que caracteriza como a adopção de uma estratégia de tolerância e de integração do renascimento cultural das civilizações asiáticas, convencendo o Ocidente que não é melhor que o Oriente; (2) um “Retorno ao Isolacionismo”, pouco desejável e menos provável e; (3) o “Triunfo do Ocidente”, muito pouco provável.
Para este autor iniciou-se na Ásia um processo desocidentalização tendo como referencial a acumulação de riqueza e a vitalidade económica e cultural da China. Se, como insinua Mahbubani (2008, p. 126), existem “dois blocos a funcionarem a dois tempos” (um que não pretende abdicar do poder que ainda detem e outro que procura uma representatividade coadunante com aquele que já detem e irá deter em ainda maior volume e qualidade no futuro), como é que estes se poderão sincronizar, cooperando?
Em primeiro lugar, o Ocidente deve reconhecer a sua malaise estrutural resultante de sistemas políticos que enfatizam visões e objectivos a curto prazo, de acordo com a ciclicidade das eleições, indiciando que modelos de “autoritarismo benigno” são os únicos que permitem concretizar objectivos de desenvolvimento nacional de longo prazo. Arcanos e disfuncionais processos internos de geração de consensos no Ocidente têm acelerado uma miopia estratégica, que no caso da UE o Tratado de Lisboa não parece poder vir a resolver, só contribuindo para a continuidade da secundarização da influência europeia no panorama político e diplomático internacional (perspectiva bem distinta da defendida por Parag Khanna) (Mahbubani, 2008).
Em contraponto, Mahbubani recorre ao sucesso do modelo pragmático de política externa chinesa (don’t ask, don’t tell) na Ásia, África, América Latina e Mundo Islâmico para justificar as superiores virtudes do modelo asiático no que concerne à estabilidade da ordem internacional. Para Mahbubani (2008), se existisse uma escala de competência geopolítica onde a nota máxima seria o dez, a antiga União Soviética teria dois, a UE quatro, os EUA seis, e a China oito ou nove. Tal reforça as suas críticas quase Spenglerianas à perspectiva etnocêntrica e ideológica Ocidental que tem sido um obstáculo à legítima ascensão e proporcional representatividade do continente nas diversas instituições internacionais (Spengler, 2006). Assim, e correctamente, no que concerne a uma estratégia para o mundo islâmico, o autor refere que o problema fundamental do Ocidente é o de não ter qualquer estratégia.
Mas nem tudo o que vem do Ocidente é mau. Para Mahbubani (2008, p. 52) o sucesso das economias asiáticas deveu-se e deve-se à adopção dos “sete pilares da sabedoria Ocidental” (economia de mercado, ciência e tecnologia, meritocracia, pragmatismo, cultura de paz, primado do Direito, e educação). Tal sucesso deveria deixar satisfeito o Ocidente, mas parece que não, pelo menos na opinião do autor, que crê que a mudança será feita de “baixo para cima e não de cima para baixo” em termos de hierarquia de poder no sistema internacional (2008, p. 57).
Esta insatisfação é justificada pelo facto (discutível) que o Ocidente33 ter desde cedo detido o poder e se ter habituado a dominar e a controlar o mundo de modo a salvaguardar os respectivos interesses, algo que agora não está disposto a fazer em favor de um modelo de “competência asiática”, pelo que existem probabilidades não menosprezáveis de esta transição não ser pacífica, agudizando um forte sentimento anti-ocidental.
Organizações internacionais como a ONU e o G8, estando reféns deste organicismo estrutural resultante de uma hierarquia e distribuição de poder desactualizada advinda respectivamente de meados do século vinte e da década de noventa do mesmo século, limitam-se actualmente a serem fora de debate e de declarações de princípio e de boas intenções maioritariamente inconsequentes, não se viabilizando como bons interfaces e válvulas de escape de pressões conflituais no plano sistémico. Ilustrativamente Mahbubani (2008, p. 130)34 refere que o conceito de comunidade internacional é uma formulação Ocidental que não é universalmente aceite, porque, também, na prática não existe, não obstante a barragem propagandística e algo panfletária por parte dos media ocidentais em defesa do contrário. Por outras palavras o conceito de comunidade internacional é um eufemismo para o domínio Ocidental.
Aqui a Índia poderá ser primordial, ao defini-la como a ponte entre o “West and the Rest”, graças à propensão natural indiana em manter ambos os “ouvidos abertos” e em estar aberta ao diálogo com outras civilizações resultante do seu melting pot cultural, o que lhe confere um estatuto de equidistância e de mediador, ainda que não deixe de apontar algumas dúvidas quanto ao futuro papel de Nova Delhi (que será a terceira maior potência asiática), ao afirmar que “o Japão emergiu com uma aspiração consciente em se aliar ao Ocidente, que a China não tem tais aspirações e que o caminho a seguir pela Índia ainda está por definir” (2008, p. 165).
Mas na realidade o seu modelo de “competência asiática” peca por distorçer intencionalmente a história recente, quando afirma que o Ocidente sempre partiu do pressuposto que os problemas estavam nos outros e não nele (2008, p. 175). Se relativamente à questão do Iraque muito, e mais do que suficiente, já foi escrito quanto à razoabilidade (ou falta dela) da opção tomada pela Casa Branca, o seu segundo argumento para justificar a incompetência Ocidental quanto ao regime de não-proliferação nuclear, à não prevenção do genocídio no Ruanda, à guerra nos Balcãs, e ao fracasso das negociações de Doha relativas à liberalização do comércio mundial, é muito débil e oblitera as co-responsabilidades asiáticas.
Quanto ao segundo, basta atentarmos no facto de serem três estados asiáticos aqueles que não respeitaram o Tratado de Não-Proliferação (Índia, Paquistão e Coreia do Norte) tendo os dois últimos contado com o apoio tecnológico da China para concretizarem os respectivos programas nucleares. Este é um caso de proliferação horizontal não referida pelo autor que prefere focalizar-se na proliferação vertical dos Estados Unidos e da Rússia (Mahbubani, 2008, p. 193-203).
No que respeita à prevenção de conflitos Mahbubani (2008, p. 229-234) enaltece o modelo cooperativo da ASEAN e a abordagem mais eficaz da Ásia a esta problemática, mas ignora os acontecimentos no Sri Lanka, em Caxemira, e a passividade asiática face ao derramento de sangue em Timor-Leste ou em Aceh, pelo que o fracasso asiático não anda longe do da UE.
Por fim no que concerne às negociações de Doha (2008, p. 26-42 e p. 186-193), o autor omite o facto que tanto a Coreia do Sul como o Japão têm igualmente políticas proteccionistas e de subsídios dos respectivos sectores agrícolas, que a Índia também fez abortar as conversações por se recusar a uma maior liberalização do comércio, e mais recentemente a China estabeleceu um tecto para o preço dos alimentos, para não falar nos subsídios estatais atribuídos ao carvão e aos produtos petrolíferos.35 As responsabilidades devem uma vez mais ser repartidas e a hipocrisia na política internacional de que acusa o Ocidente é um defeito a que a Ásia também não escapa (nenhum “bloco geo-civilizacional - usando a linguagem do autor - é perfeito).
Por fim ao tentar fundir o mundo muçulmano com a China e a Índia (já de si rivais tradicionais) numa contextualização geográfica forçada de Ásia, Mahbubani esquece-se que esta é tudo menos um monólito, e quando escolhe o Dubai como um exemplo de vontade de uma sociedade muçulmana em se modernizar de forma similar à da China e da Índia, não aborda países como o Bangladesh ou o Líbano (países tão longe da Ásia mas que nela se inserem) onde as linhas de fragmentação político-religiosa estão a acentuar uma dinâmica sectária interna não tão apelativa para a sua weltanschaung.
No entanto ressalve-se que Mahbubani não é um anti-americanista, é sim um adepto da realpolitik, mas que o título desta última obra, a torna particularmente atractiva para o campo dos nacionalistas asiáticos. Se lermos as obras e ensaios por si publicados até hoje, chegamos à conclusão que os seus argumentos visam acicatar os ânimos das elites políticas ocidentais (norte-americanas bem entendido) para que não desperdiçem uma oportunidade de moldarem uma nova ordem mundial que seja benéfica para todos.
Tal como Zakaria, Mahbubani (2008, p. 257) adverte que o Ocidente não pode nem deve após ter liberto as forças da globalização imiscuir-se agora de confrontar as consequências de tal processo e de não permitir que o princípio da democracia se aplique à governação das principais organizações internacionais como a ONU, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Para o autor a opção que se apresenta ao Ocidente é simples: escolher entre a defesa dos valores ocidentais ou entre os interesses ocidentais. Aqui levanta-se uma questão que poderá servir de base para o seu próximo exercício intelectual: quem cederá e quem ganhará?
5. O Trio Imperial e a Competição pelo “Segundo Mundo”
Tal como Fareed Zakaria, Parag Khanna não esconde a admiração (legítima) por Arnold Toynbee, começando o seu livro também com uma referência quase “biblíca” ao famoso historiador. Aliás Khanna nesta obra, tenta “imitar” os passos de Toynbee e através de uma viagem de dois anos por mais de quarenta países procura fazer um refresh do presciente e não menos actual, monumental e obrigatório estudo de Toynbee, publicado em 1958 (Toynbee, 1987).
Partindo do conceito de que as nações tal como os elementos da tabela periódica podem ser agrupadas de acordo com a sua dimensão, estabilidade, riqueza e “forma como vêm o mundo”, o autor define o “primeiro mundo” como sendo formado pelos países que mais dividendos retiram da ordem internacional actualmente vigente, com o “terceiro mundo” a ser o resultado do agrupamento de países pobres e instáveis que não conseguiram ultrapassar a sua posição de desvantagem no sistema; e o “segundo mundo” a ser aquele que se situa no meio, com países onde coexistem características do primeiro e terceiro mundo, materializando um bloco onde se encontram divididos internamente entre vencedores e derrotados, sendo navios vogando nos turbulentos mares da modernidade, com os seus indicadores políticos, económicos, e sociais a moverem-se por vezes simultaneamente em direccções opostas. A diferença para estes países entre estar no primeiro ou terceiro mundo pode-se identificar através de um líder carismático e capaz de catalizar a unidade nacional; pela posse de matérias-primas valiosas; pela proximidade a um inimigo imprevisível e desestabilizador do sistema internacional; ou pelo apoio benemérito de uma superpotência (Khanna, 2008, p. x-xxvi).
Estamos pois perante a recuperação de uma terminologia (“segundo mundo”) que em tempos caiu em desuso, tendo representado os países do campo socialista. Hoje, e para o autor, simboliza os Estados da Europa de Leste, da Ásia Central, da América Latina, do Médio Oriente e do Sudeste asiático, com as suas assimetrias entre países ricos e pobres, desenvolvidos e em desenvolvimento, pós-modernos (partes integrantes da globalização mas com alguns deles a ficarem fora do functioning core de Thomas Barnett) e pré-modernos, e cosmopolitas ou tribais. Esta caracterização não se refere a um estado temporário entre o “primeiro e o terceiro mundo”, mas a uma condição permanente na qual os vencedores e os derrotados são determinados não por políticas de Estados mas por pessoas colectivas não estaduais e pessoas singulares, com maior ou menor móbil nacionalista neste “segundo mundo”, mas que na realidade representam uma versão mais sofisticada de uma nova incursão imperialista, reflexo em última análise da natureza e das emoções humanas como a confiança, o respeito, a ganância, a vingança e que são transpostas para os Estados e inevitavelmente para os impérios. Como afirmou Alexander Wendt (1999) na sua visão organicista, os “Estados também são pessoas”.
Aqui Khanna tenta conciliar a dialéctica da geopolítica com a da globalização, reflectida nas díades domínio vs integração; conflito vs cooperação; hierarquia vs redes; política vs economia; pessimismo vs optimismo; fatalismo vs progressismo. Na realidade é uma dialéctica entre realismo e liberalismo ou em linguagem Freudiana entre o desejo de domínio ou instinto de morte (thanatos) e o de paz ou instinto do amor (eros).
O livro é como já se disse o resultado de dois anos de viagens do autor por uma série de países que denomina de “segundo mundo” (Ucrânia, Turquia, Azerbeijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Venezuela, Colômbia, Brazil, Líbia, Egipto, Arábia Saudita, Irão, Malásia, Indonésia, e outros) os quais segundo uma estratégia de desenvolvimento autárquico procuram integrar-se constantemente e rentabilizar os benefícios da globalização, não segundo o beneplácito dos EUA mas tirando partido da competição geopolítica entre estes, a UE e a China - que Khanna denomina de novos impérios36 (ainda que os três recusem tal terminologia) - para obterem auxílio em termos de desenvolvimento, comércio e assistência militar37.
EUA, UE e China são estes novos impérios numa competição nos países do “segundo mundo” pela maximização do controlo de recursos energéticos e naturais dos mercados emergentes38. Aqui denota-se a aplicabilidade de uma teoria dos vasos comunicantes, ao abrigo da qual o futuro das três grandes potências (imperiais) será determinado pela forma como irão gerir o “segundo mundo”, estando o futuro deste dependente também desta gestão. Estes adoptarão preferencialmente uma estratégia de bandwagoning face a estas potências, alinhando com o império que mais garantias político-diplomáticas formais palpáveis lhes der, contribuindo para uma maior preponderância de um império face aos outros dois.
Khanna (2008, p. 10) afirma que a UE (a nova Roma como a denomina) tem uma visão de expansão geopolítica imperial sob a forma de L (que vai desde a Europa de Leste, passa pelos Balcãs, passa pela Turquia onde inflecte em direcção ao Cáucaso), com o travão à expansão geopolítica a ser materializado pela Rússia a qual o autor se limita a caracterizar como um nivelador do “segundo mundo”, simplificando o argumento com uma referência a Winston Churchill que caracterizou o antigo país dos czares como “uma adivinha, embrulhada num mistério, dentro de um enigma”.39
Na abordagem à Ásia Central voltam a soprar os ventos do Great Game agora no arco de instabilidade popularmente denominado de Trashcanistan, onde Estados da UE, turcos, sauditas, indianos, chineses, e norte-americanos, e no plano das organizações de cooperação de segurança e defesa como a Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e a NATO como aliança de defesa se começam vigiar a mutuamente, procurando demarcar linhas de influência no terreno. Aqui a competição entre os três impérios é acérrima, com a preferência dos líderes políticos da Ásia Central a recair sobre os modelos de governação de “autoritarismo paternalista” oriundos do Sudeste asiático, mas que na realidade, e parafraseando Mancur Olson não passam na sua maioria de “bandidos estacionários” que rentabilizam o furto e delapidam o património estatal enquanto conseguem fomentar um ilusório crescimento económico (Khanna, 2008, p. 76).
Khanna não tem dúvidas, a China está a levar vantagem na construção de uma nova Rota da Seda, através da rentabilização do melhor que as estratégias britânicas e russas tinham há cerca de um século atrás, preservando e cultivando relações com Estados-tampão e aliados (britânicos) mas sem recorrer a estratégias de conquista (russos).
Quanto à América Latina o autor caracteriza o problema desta região como estando ligado não apenas a “uma má latitude mas também uma má atitude”, advogando a criação de uma doutrina neo-Monroeniana sob o epíteto de “Aliança para o Progresso” agora com contornos mais liberais que realistas, sem no entanto entrar em quaisquer detalhes (Khanna, 2008, p. 138 e 167).
No que concerne ao Médio Oriente (que denomina como um Shattered Belt)40 Khanna não consegue escapar a uma referência clássica: as guerras são como um botão de reset geopolítico que recalibra as hierarquias de poder entre os países. O problema é que nesta região, os resets têm sido sistemáticos e os resultados pouco menos que satisfatórios tanto para as potências regionais como para a superpotência. Se o end state da geopolítica é atingido quando as fronteiras, as populações, os recursos e os interesses atingem um estado de equilíbrio homeostático, então garantidamente esta é uma região onde tal dificilmente poderá vir a ser conseguido, muito por causa de potências como os Estados Unidos, continuarem a não seguir os sábios e prescientes conselhos do oficial do Exército inglês T.E. Lawrence (popularmente conhecido como “Lawrence das Arábias”) o qual logrou de uma forma dissimulada, através do seu low profile, sem formular críticas ou discordâncias mas mantendo uma influência discreta mas não menos eficaz (Khanna, 2008, p. 220 e 253).
No penúltimo capítulo dedicado à Ásia, Khanna (2008, p. 258 e 263) segue a linha geral de Mahbubani (a Ásia para os asiáticos) mas declarando ao contrário deste, que a ONU é irrelevante no Leste da Ásia pois não é um garante nem de estabilidade nem de riqueza - as duas grandes prioridades desta região. Reavivando conceitos Spenglerianos de decadência Ocidental e Comtianos da demografia como destino, o autor sublinha a preponderância asiática como o continente com as culturas mais antigas, com a maior população e cada vez mais com uma maior fatia financeira do comércio mundial. Neste ponto não hesita em afirmar (correctamente) que existindo esta separação entre Ocidente e Oriente o processo de modernização jamais fundirá os dois “blocos” num só, visto que aquela é um meio e não um fim de desenvolvimento para ambos.
Tal como na Ásia Central, Pequim está a consolidar paulatinamente uma rede de influência informal (que denomina de “grande esfera chinesa de co-prosperidade”) assente numa diplomacia consultiva que prioriza a identificação de interesses comuns como garante de opções de “preservação da face” secundarizando a resolução de questões mais controversas (modalidade preferida pelos EUA), existindo uma tendência para a rejeição de opções militaristas em benefício de opções que potenciem uma prosperidade comum. Aqui retoma a discussão em torno do que são e quais as virtudes dos “valores asiáticos” que descreve como privilegiando lideranças unificadas e competentes (junzi), consensos, e harmonia social os quais são tão válidos como os “valores ocidentais” de democracia, capitalismo e individualismo. Mais, e na verdade, tais valores parecem ser melhores que os ocidentais (i.e. norte-americanos) pois buscam através da globalização criar uma classe média forte, e não reduzi-la como tem acontecido nos Estados Unidos (Khanna, 2008, p. 268 e p. 328-331).
No último capítulo dedicado ao império norte-americano que é descrito como ingénuo e arrogante num mundo Hobbesiano e Darwiniano e sem uma estratégia adaptada às novas realidades do sistema internacional, Khanna (2008, p. 326-335) cataloga o Departamento de Estado dos EUA como a “maior agência de viagens do mundo”. As suas críticas assumem uma dinâmica crescente, espraiando e dramatizando excessivamente as fraquezas e vulnerabilidades dos Estados Unidos - que necessitam de um Plano Marshall para manterem o seu estatuto hierárquico internacional - a partir de observações algo avulsas e populistas (i.e. hábitos culturais e sociais censuráveis e polarização das assimetrias económico-sociais internas) podendo o leitor mais ingénuo ser levado a acreditar que o país está à beira do colapso - como se os EUA fossem o “sick man mundial”. Onde o autor acerta na mouche é na caracterização e crítica à apatia e insensibilidade política do Congresso e do Senado norte-americano face a um mundo em constante mutação, juntando-se assim à dupla Zakaria e Mahbuni.
Correspondente e dedutivamente na análise à estratégia seguida pelos “três impérios” Khanna (2008, p. 335) não hesita assim em apontar os Estados Unidos e a sua preferência por coligações como aquele que mais irá perder na competição directa com a China e o seu modelo consultivo e o modelo de consenso da UE (pela qual não esconde uma profunda admiração pela estratégia de estabilização e assimilação progressiva de potenciais parceiros tanto na Europa de Leste como no Cáucaso). Em resultado, os Estados Unidos são cada vez menos amados e cada vez mais receados, a UE é cada vez mais amada e cada vez menos receada, e a China é cada vez mais amada e receada.
Parag Khanna (2008, p. 304 e 325) não acredita que os três se envolvam num conflito militar directo entre si, caracterizando-os como frenemies e uma “tríade interdependente”, essencialmente porque irão gerir o sistema de forma a garantirem benefícios mútuos (ou win-win approach como a China gosta de caracterizar a sua política externa e de apoio ao desenvolvimento41) explorando as distintas virtudes de cada uma das estratégias operativas que poderão oscilar entre processos de “sedução e atracção” e no pior dos casos de coerção de alguns destes países (uma estratégia que Khanna não atribui à China, esquecendo-se da questão de Taiwan42). Ou seja existe a noção de que os três irão recorrer a estratégias de congagement (misto de containment e de engagement) na relação trilateral. Aqui, o seu deslumbre pelos conceitos da liderança chinesa de Hu Jintao e Wen Jiabao de “mundo harmonioso” que procuram exportar para a esfera das relações internacionais os referenciais confucionistas de “sociedade harmoniosa”, omite o facto de que tal mundo não estará ao abrigo de conflitos onde o recurso à força será sempre uma possibilidade, como o próprio Confúcio indiciou.
Em resumo esta obra é um tour d’horizon geopolítico que dada a amplitude de países a analisar faz com que o autor passe por estes quase à velocidade da luz, optando por grandes linhas caracterizadoras (e muitas vezes anormalmente generalistas) dos desafios presentes e futuros que se colocam a cada um destes face à dinâmica competitiva de cada um dos impérios. De facto, e tendo em linha de conta a extensíssima lista de agradecimentos a académicos, políticos, e cidadãos de cada um dos países visitados, poderíamos justificadamente esperar algo mais do que descrições político-económicas pouco mais que simplistas, que se assemelham na maioria dos casos “a fotografias tiradas com uma máquina digital que não ultrapassa os 2 Mp de definição”. Por exemplo com a “Nova Roma” (UE) são dispendidas seis páginas, com a Rússia dez e posteriormente mais nove páginas, com a Ucrânia (a placa giratória entre a Mitteleuropa e a Osteuropa) outras nove, com a Turquia (cuja a adesão à UE permitirá prolongar a esfera de influência para além dos Balcãs, como um trampolim geopolítico para o Cáucaso e o Mar Negro, que não hesita em catalogar como um “lago europeu”) mais dez páginas, e assim por diante no que se refere aos restantes países e impérios (Khanna, 2008, p. 45).
Quando se termina a leitura desta obra fica-se com a noção de que o autor procurou “calçar uns sapatos grandes de mais (os de Toynbee) para os seus pés”. Não surpreendentemente, tornam-se recorrentes as referências ao historiador, o que para quem leu a obra original leva à conclusão que as diferenças face ao observado por Khanna não são substanciais, pois pouco mais valor acrescentado trouxeram as observações geopolíticas deste. No entanto, o argumento principal do autor tem a virtude de transmitir uma weltanschaung (cosmo visão) de fácil compreensão, mas de difícil sustentação quando entramos na análise mais detalhada de algumas questões derivadas como os prognósticos de ascensão e/ou queda dos três impérios e o papel dos niveladores (Japão, Rússia, Brasil, Índia), sendo mesmo assim um bom complemento às obras publicadas por Zakaria e Mahbubani e analisadas anteriormente.
A tabela 2 permite estabelecer um resumo sintético da principal argumentação avançada pelos três autores segundo treze critérios elencados, enquanto na tabela 3 apresentamos o ranking das quatro Grandes Potências, tendo em consideração os 13 critérios. A tabela 4 isola a capacidade de a China e a Índia poderem ascender ao estatuto de grande potência.
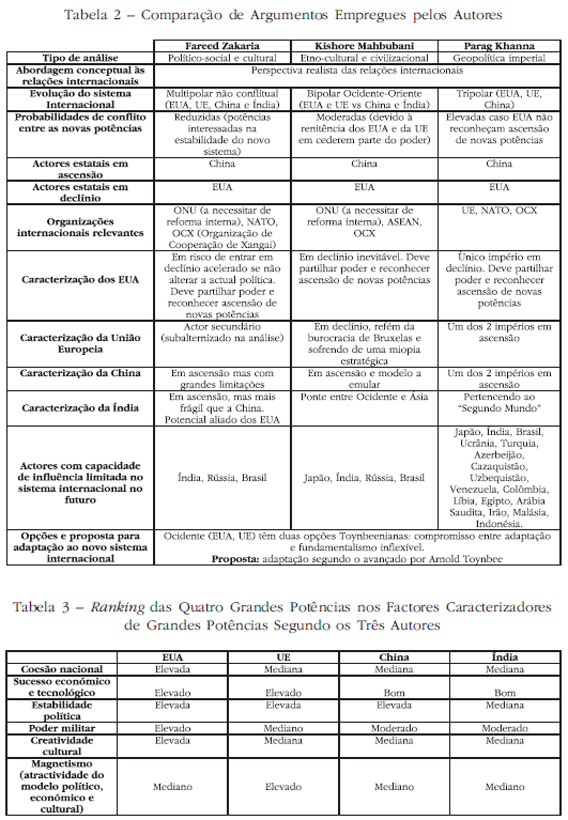
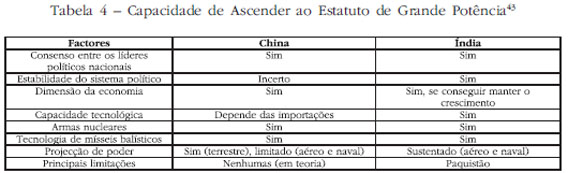
6. Transição de Poder Sim… Mas Com Sobressaltos
Actualmente parece ser dado como um facto consumado a transição na distribuição de poder no sistema internacional. No entanto existem uma série de riscos que podem prevenir qualquer um dos países referenciados como vindo a ser grandes potências globais nos próximos vinte anos (nomeadamente a China, a Índia e a Rússia), de ascenderem a esta classe restrita, os quais incluem mas não se limitam a questões de natureza ambiental resultantes das alterações climáticas, restrições no acesso a recursos naturais, problemas político-sociais internos, estabilidade do sistema financeiro internacional, e desafios demográficos44.
Antes de avançarmos para uma análise prospectiva sobre esta potencial transição de poder, julga-se pertinente efectuar um enquadramento conceptual do actual sistema ao abrigo da teoria realista e da teoria liberal das relações internacionais do actual sistema, no intuito de reforçar o argumento convergente destas duas escolas de que a actual ordem não é particularmente forte e estável, pelo que existe uma forte probabilidade de mudança a médio prazo de acordo com três cenários:
(1) uma muito pouco provável bipolaridade conflitual (China e Estados Unidos);
(2) uma pouco provável multipolaridade conflitual; e
(3) uma provável multipolaridade não-conflitual.
É um dado quase adquirido entre realistas que a actual configuração do sistema internacional ainda é unipolar - ainda que persista um debate algo pedante quanto à dimensão deste poder (hegemónico ou não)45 - estando no entanto em rápida transição para o multipolar.
Se uma potência hegemónica é dominante e capaz de moldar a ordem mundial e o comportamento de outros Estados de acordo com os seus interesses, então teremos que concordar com Wilkinson (1999, p. 143) que afirma que “se a hegemonia é entendida como uma configuração unipolar da capacidade político-militar com uma estrutura de influência que é complementada pela capacidade, a unipolaridade sem hegemonia é uma configuração onde a capacidade de preponderância de um único Estado não é complementada por uma influência predominante”.
Assim sendo, os Estados Unidos não são uma potência unipolar hegemónica pois não conseguem exercer de uma forma eficaz a sua influência de modo a fazer com que as outras potências ajam de acordo com os objectivos nacionais de Washington46. Concomitantemente, a Casa Branca poderá sentir-se menos incomodada pela crescente possibilidade de ascensão de novas potências no sistema internacional. Como os sistemas unipolares, de acordo com Kenneth Waltz (2002) (o pai do neo-realismo), são os menos estáveis pois a superpotência cederá à tentação de agir sem grande moderação, sendo que mesmo que o não faça, tal não impedirá Estados mais fracos de procurarem alianças capazes de procederem a uma redistribuição do poder no sistema tornando-o mais favorável aos seus objectivos (balance of power)47.
Como declarou Vladimir Putin, a 10 de Fevereiro de 2007, aquando da 43ª Conferência de Munique sobre Política de Segurança, num discurso que conseguiu integrar e articular engenhosamente a insatisfação europeia com a política externa de George W. Bush e a estrutura do sistema internacional: “O que é um mundo unipolar? Afinal é aquele com um único centro de autoridade, de força, e de tomada de decisão... um senhor, um soberano. Isto certamente nada tem de democrático” (Putin, 2007).48 A vontade de mudança é implícita e tal está a ser efectuado de uma forma telúrica denominada de soft balancing, o qual se baseia no emprego de instrumentos estatais e institucionais internacionais de soft power para contrabalançar a preponderância dos EUA sem correr o risco de desestabilizar o sistema através do recurso ao hard balancing da teoria clássica de balance of power.49
Quanto aos liberais (que ao contrário dos realistas não vêm o sistema internacional sob uma lente de poder e prossecução e maximização do interesse nacional dos Estados) o seu foco analítico centra-se nas normas e códigos de conduta - formais ou não-formais - das relações entre Estados e onde os institucionalistas (liberais) elencam razões de racionalidade para explicarem a cooperação entre os actores estatais sob um “guarda-chuva” normativo fornecido pelas organizações internacionais.
No entanto existe a percepção de que não obstante a enorme vaga de institucionalização internacional ocorrida após a Segunda Guerra Mundial que contribuiu para catalizar uma interdependência complexa entre Estados reforçada pela globalização, as actuais organizações internacionais apresentam défices operativos face aos objectivos que se propõem atingir com uma prevalecente crise de legitimidade e notório défice democrático nos processos de tomada de decisão.
Ora esta sintomatologia de debilidade na governação do sistema internacional - tanto em regimes institucionalizados como não-institucionalizados - torna evidente que o actual status quo está carente de, e deseja mudança, tanto na forma, como tem sido elaborada a distribuição de poder, como governada e gerida (transnacionalmente) a economia política internacional.
Se realistas e liberais estão de acordo quanto à inevitabilidade de uma mudança no plano sistémico das relações internacionais, quais têm sido então os cenários avançados?
Desde o início da década de noventa do século vinte foram apontadas pelo menos seis alternativas prospectivas quanto ao futuro: o “fim da história” de Francis Fukuyama (1992) que antecipava conflitos entre países democráticos e uma minoria de regimes não-democráticos50; a visão de segurança de John Mearsheimer (2001) baseada na potenciação de conflitos devido a questões associadas à proliferação nuclear (ajustada mais tarde de forma a inserir o terrorismo global); o “conflito de civilizações” de Samuel Huntington (1996); a visão de Paul Kennedy (1988) e Robert Kaplan (1994) de conflitos entre os beneficiários (Hegel’s and Fukuyama’s Last Man - próspero, saudável, bem alimentado e info-tecnologicamente consciente) e os marginalizados do sistema económico mundial (Hobbes’s First Man - condenado à pobreza, a doenças, à violência e com uma pequena esperança de vida); a visão de Michael Klare (2001, 2008) dos conflitos baseados na acumulação e controlo de recursos naturais; e a prospectiva de Thomas Friedman (2000, 2006) e de Thomas Barnett (2004)51 de uma dinâmica conflitual nas linhas de fronteira entre as zonas integradas (functioning core) e não integradas (non integrating gap ou o “buraco de ozono”) no processo de “globalização”.
Com excepção da obra de Huntington, a vertente cultural/civilizacional tem sido largamente marginalizada pelos restantes autores que preferem uma abordagem político-económica mais homogenizadora e “menos polémica”. Sem dúvida que se julga possível e desejável que a actual zeitgeist deva abarcar e reconhecer um “lugar ao sol” no sistema internacional tanto da Índia como da China, mas parece que o problema se centra mais em torno do mundo islâmico, muito por causa das suas acentuadas linhas político-religiosas divisórias internas.
O “momento unipolar” de Charles Krauthammer (desde o colapso da União Soviética em finais de 1991 até Setembro de 2001, com o apogeu a ser atingido em 1999 aquando da campanha militar dos EUA devido ao conflito no Kosovo, que provou a debilidade da abordagem menos belicista da União Europeia52) está a dar lugar a um sistema multipolar, não centrado no Ocidente como até agora, mas extensivo à Ásia e com características diversas daquele que enformou a ordem mundial antes e durante as duas Guerras Mundiais, sendo para alguns tendencialmente mais avesso ao conflito entre os seus principais actores sistémicos (estatais), por razões que se prendem com a preponderância crescente das organizações internacionais e de uma maior interdependência económica53.
Na verdade, e numa visão mais radical, tal será a diversidade de pólos de poder que Richard Haass (2008) num recente artigo publicado na revista Foreign Affairs caracteriza a nova era como uma de “não-polaridade”. Segundo esta argumentação, e ao contrário da multipolaridade - que engloba vários e distintos pólos ou concentrações de poder - um sistema internacional não-polar caracteriza-se por numerosos centros com poder relevante. O poder será mais difuso e menos concentrado nos Estados-Nação em benefício de actores não estatais. Segundo esta formulação conceptual, deduz-se que o sistema será não-polar porque muitos destes actores terão uma influência crescente mas que não corresponde automaticamente a uma escala de poder real e tradicional aferido até agora de acordo com os modelos dos Estados-nação segundo duas vertentes, hard e soft power.
Mas se a evolução do sistema não será feita no sentido de uma multipolaridade clássica onde os Estados-nação materializam o quase monopólio da concentração de poder, a erosão do poder destes a favor de organizações regionais ou globais (no macro-plano) e de pessoas colectivas não estaduais, como organizações não-governamentais, grupos armados e empresas multinacionais (no micro-plano) faz com que o poder venha a assumir uma característica de quase ubiquidade em termos distributivos. Nesta perspectiva, julga-se que uma caracterização deste sistema como de multipolaridade difusa o descreveria melhor, pois ao optar-se por uma denominação de não-polaridade transmite-se a noção de que o poder deixou de ser relevante no sistema internacional devido a esta redistribuição e erosão ad infinitum.
Mesmo assim, e se nos cingirmos à multipolaridade clássica, a diferença - em termos de actores estaduais - entre alguns pólos de poder do século vinte e alguns do século vinte e um é que estes alguns serão em maior número (Estados Unidos, União Europeia, China, Índia, Rússia e Japão) com alguns outsiders a terem (possivelmente) uma influência moderada no mesmo sistema (Brasil, México, África do Sul, Egipto, Irão, Turquia, Coreia e Arábia Saudita), e a Austrália e o Canadá a efectuarem uma maior ancoragem aos pólos norte-americano e europeu, ainda que no caso de Camberra ela se venha a assumir como um nivelador cada vez mais preponderante no subsistema asiático.
Quanto às organizações internacionais a ONU merece uma referência obrigatória. A Organização, quer se queira quer não, está actualmente dividida funcionalmente entre um Conselho de Segurança com os seus cinco membros permanentes e uma Assembleia Geral onde o G77 (dos países em desenvolvimento liderados pela China) tende a reequilibrar linhas políticas emanadas a partir do Conselho de Segurança.
Aquando da sua criação a ONU tinha 51 Estados membros hoje são 192. O mundo do pós 2ª Guerra Mundial é distinto do actual e quando os países do G4 (Alemanha, Brasil, Índia e Japão) tentam liderar um projecto de reforma dos orgãos da ONU, particularmente do seu Conselho de Segurança, as clássicas rivalidades estatais vêm ao de cima. Os países africanos não se entendem sobre qual ou quais países poderão aspirar a um assento permanente. A Argentina e o México barram as aspirações brasileiras, a Itália faz contra-vapor à Alemanha e a China e a Indonésia vetam os projectos japoneses.
Neste contexto, não obstante estes entraves, é possível que a ONU continue e venha a operar sob uma fachada Wilsoniana num sistema eminentemente realista de um Concert of Powers, agora mais alargado, e englobando no seio do Conselho de Segurança novos membros, ainda que a geometria e o modus operandi intra-institucional ainda tenha de vir a ser definido.
No campo da esfera económica as perspectivas parecem mais animadoras pois desde 1975 que o G4 (EUA, Reino Unido, Alemanha e França) evoluíu para G7 (Itália, Canadá e Japão), G8 (com a Rússia) e Tony Blair já avançou como uma proposta de alargamento a 13 (China, Índia, Brasil, México e África do Sul54) prefigurando aquilo que mais se aproxima do Concert of Powers do século vinte e um e que Kishore Mahbubani tanto advoga, sem no entanto lograr escapar ao epíteto de continuar a ser um talk shop, cujo enorme despesismo associado à organização anual destas cimeiras descredibiliza a suas declarações conjuntas no que concerne a questões como o combate à pobreza, às doenças e à fome.55
Quanto ao FMI parece estar a passar por uma crise de transição tendo procedido no início de 2008 a uma redução nos quadros de pessoal e à venda de 400 toneladas de ouro por forma a obter uma certa liquidez capaz de corresponder aos cada vez menores pedidos de financiamento, graças também à pouca atractividade do modelo de reforma económica liberal imposto por este como condição para a concessão de tais empréstimos - o denominado “Consenso de Washington”. A recente crise do subprime veio confirmar aquilo que se já se suspeitava: o FMI tenderá a ser no futuro próximo apenas mais uma organização de aconselhamento económico.
O Banco Mundial terá, em princípio, um futuro mais risonho, mas terá que proceder a algumas reformas. A disponibilização de empréstimos sem pré-condições por parte da China e da Índia à maioria dos países africanos é o seu principal desafio. Assim, o seu papel poderá passar por conceder empréstimos exclusivamente a projectos ligados à construção de infraestruturas de produção e transporte de energia, de exploração de energias renováveis, de protecção ambiental, e de incremento da produção agrícola (Mallaby, 2005).
Aos actores em cima referidos poderemos adicionar uma panóplia de outros igualmente não-estatais que certamente deterão em graus variáveis um leverage no funcionamento do sistema se bem que restem sérias dúvidas quanto à capacidade de alguns o influenciarem acentuada e estruturalmente (União Africana, Liga Árabe, Associação de Países do Sudeste Asiático, a União Europeia, a Organização de Estados Americanos, a Associação para a Cooperação Regional no Sul da Ásia, a Agência Internacional de Energia, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a Organização de Cooperação de Xangai, a Organização Mundial de Saúde, a al-Jazeera, a BBC, a CNN, a Sky News, a CCTV, a Fundação Bill e Melinda Gates, os Médicos Sem Fronteiras, a Greenpeace, o World Wide Fund, o Hamas, a al-Qaeda (Zakaria, 2008b, p. 25), o Hezbollah, os cartéis da droga e as máfias, e os movimentos religiosos de vária índole).56 Esta proliferação de actores, que exercem diferentes tipos de poder, complicam o esforço necessário à obtenção de um equilíbrio entre influência e responsabilidade. Mas a desculpa da complexidade não é uma justificação para exigir equidade no seio do sistema internacional.
Ante esta pleíade de actores com várias gradações de poder, o sistema internacional poderá então ter três evoluções já em cima avançadas. Destas centraremos a nossa atenção nas duas mais prováveis:
(1) multipolaridade conflitual; e
(2) multipolaridade não-conflitual.
Na primeira, quer estejamos a falar de uma geometria difusa ou geometria não-polar é previsível que a propensão para o conflito seja incrementada, pelo simples facto de estando o poder tão disperso entre tantos actores com diferentes patamares de influência, a geração e obtenção de consensos se torne mais difícil de alcançar, numa lógica de entropia de sistemas, que se não sujeita a intervenção externa (que não unilateral dos EUA) poderá descambar numa sintomatologia conflitual similar à do período pré-Vestefaliano mas com consequências bem mais gravosas. Neste caso e para evitá-lo, a solução pode passar por uma maior ênfase conferida a mecanismos de cooperação e consulta cuja eficácia dependerá da definição mais selectiva e situacional dos interesses destes actores, sabendo-se que os mesmos actores poderão cooperar em determinadas circunstâncias e não noutras, naquilo que se poderá definir como um “multilateralismo turbulento” numa multipolaridade não-conflitual57.
Então, a questão que se pode colocar relativamente à maior ou menor propensão cooperativa e geradora de consensos entre os diversos actores terá a ver não apenas com os respectivos interesses mas também com a forma como adoptarão e implementarão normas de interacção que estão longe de serem universalmente aceites (Barber, 2008).
No passado tais normas eram poucas e simples. Na verdade apenas duas eram vitais, sendo tão velhas que são expressas em latim: (1) pacta sunt servanda (os compromissos devem ser mantidos), sem os quais dificilmente existiria uma sociedade de Estados; e (2) cuius regio, eius religio (o governante estabelece as regras no seu próprio domínio), a pedra de toque do Tratado da Vestefália de 1648.
Mas conceitos como o de segurança humana têm uma preponderância cada vez maior em detrimento do modelo tradicional de segurança nacional centrado nos Estados, colocando sob pressão, e na pior das hipóteses sob risco de inadequação estes dois normativos e o papel e influência do actor Estado e de algumas organizações internacionais.
Com o sistema internacional a transitar para um modelo multipolar (imperial na visão de Parag Khanna, benigno na visão de Fareed Zakaria, benigno mas com riscos segundo Kishore Mahbubani) de que forma é que o “novo directório de grandes potências” poderá gerir tais desafios de segurança, tal a aparente disparidade dos modus operandi de cada uma delas? Parafraseando novamente Parag Khanna, os Estados Unidos são cada vez menos amados e cada vez mais receados devido à opção por coligações, a UE é cada vez mais amada e cada vez menos receada graças à opção por gerar consensos, e a China é cada vez mais amada e receada em resultado de optar por consultas mas porque também o seu poder militar tem vindo a crescer significativamente, ainda que partindo de uma base tecnológica baixa.
Ora estes três modus operandi têm contribuído também para alimentar, mais recentemente, um outro debate que orbita a noção da eventual necessidade de constituição de uma “Liga de Democracias”, avançada em meados de 2007 pelo candidato republicano à Presidência dos EUA, John McCain, como a melhor opção para lidar com os desafios da segurança humana, que requerem cada vez mais uma abordagem multilateral cooperativa58. No entanto McCain exclui taxativamente a Rússia deste novo “Directório Mundial”, numa visão tipicamente maniqueísta da política externa norte-americana, mas que inevitavelmente (caso seja eleito Presidente) não demorará muito tempo a modificar-se, de forma a acolher no seu seio uma perspectiva do sistema internacional não tanto de preto e branco mas também com gradações de cinzento.59
Este é um racional eminentemente liberal no âmbito das relações internacionais com alguns laivos de escola inglesa, ao preconizar a criação de uma comunidade democrática sob o lema “responsabilidade de proteger” (as suas populações) e pela qual os líderes dos respectivos Estados serão responsabilizados. O tradicional conceito de soberania dos Estados-nação já não deve servir de escudo protector a intervenções externas em prol da preservação da segurança das respectivas populações quando os governos não conseguem ou não querem providenciar tal desiderato. Perante este nexo justificativo torna-se evidente que a intenção passa por formar uma organização internacional paralela à ONU mas com um processo de tomada de decisão mais ágil e não sujeito a “vetos paralizantes”, ainda que menos possa não significar necessariamente melhor. Na verdade tal iniciativa parece estar “a colocar vinho velho em garrafas velhas mas com um novo rótulo visualmente mais apelativo”.
Não obstante esta proposta de um Concert of Democracies não é apenas restrito ao continente europeu e americano mas extensível a todo o planeta e não pretende ser segundo os seus advogados um substituto da ONU (a não ser quando perante crises humanitárias o Conselho de Segurança não consiga chegar a uma unanimidade de posições) mas essencialmente um complemento a processos de cooperação multi e bilateral. Então pode-se questionar para quê o “novo rótulo se o vinho e a garrafa são os mesmos”? Não chegam a UE, a OSCE, a ASEAN, OEA, a UA, a NATO, a OCX? Será o que o “bolo do multilateralismo” necessita de mais uma camada “agridoce” (doce para os defensores dos regimes democráticos e amarga para os regimes autocráticos)? Também é importante realçar que apesar dos países democráticos partilharem os mesmos valores tal não significa que partilhem as mesmas prioridades e perspectivas (veja-se as posições sobre o Iraque e o Irão)60. Também se podem imediatamente colocar questões quanto aos critérios de admissão a este “clube”, e se as chamadas democracias iliberais (i.e. Rússia, Paquistão) serão convidadas ou não?61.
Ilustrativamente, a forte possibilidade de a Rússia ficar de fora foi antecipada pelo seu próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov que referiu que “pela primeira vez em muitos anos, emergiu uma verdadeira competição no mercado de ideias entre diferentes sistemas de valores de desenvolvimento, com o Ocidente a perder o monopólio do processo de globalização” (Kagan, 2008).
Se a China e a Rússia não forem convidadas (o que no caso da primeira é inevitável, e que a recente crise no Cáucaso, faz com que o Kremlin também fique de fora) Pequim tenderá a encarar tal iniciativa como mais um renovado projecto de cerco político e ideológico, e Moscovo endurecerá o seu posicionamento face à UE e à NATO. A constituição deste mecanismo será assim mais um obstáculo à cooperação multilateral transformando-a em algo de autofágico.
7. Observações Finais
Os desafios à primazia global norte-americana são o resultado de conflitos em torno de questões como os recursos naturais, particularmente petróleo e gás natural, como também têm a sua génese em diferenças ideológicas sobre o conceito de democracia, o estilo de condução da política externa norte-americana, ou os direitos humanos tal como são interiorizados e promovidos pelos líderes Ocidentais. A este cocktail juntam-se ainda percepções sobre questões de identidade nacional (e imperial) e referências de carácter histórico com o intuito de justificarem o excepcionalismo dos EUA, não conseguindo no entanto todas elas disfarçar que estes atingiram o zénite do seu poder entre 2001 e 2003.
A superpotência solitária já começou a ceder parte do poder a outros actores estatais e não-estatais, particularmente nas esferas económicas e culturais. É pois indesmentível que estamos perante uma grande e global transição de poder com múltiplos centros que tornam o novo sistema numa rede mais complexa, unindo grandes e médias potências (em ascensão ou não), países em vias de desenvolvimento, Estados falhados e actores não estatais (organizações internacionais e pessoas colectivas não-estaduais).
Esta redistribuição de poder no sistema internacional em prol de uma multipolaridade não nos dá no entanto quaisquer garantias quanto ao carácter e qualidade das relações entre estes pólos de poder. Como enfatizou Henry Kissinger na sua primeira obra A World Restored, o mundo multipolar da Europa do século dezanove conseguiu evitar uma guerra entre as grandes potências porque estas forjaram um consenso sobre questões fulcrais das relações internacionais da época. Se as grandes potências não lograrem atingir um entendimento similar com base em consultas mútuas e perante a multidimensionalidade e exponencial complexidade dos desafios que se apresentam ao sistema internacional actual face ao do século dezanove o resultado poderá não ser um jogo de soma nula (na melhor tradição realista) ou de soma variável (na tradição liberal) mas antes um jogo de produto nulo, onde ninguém sairá vencedor.
Sem dúvida que o dictum de Lord Palmerston de que “os Estados não têm aliados eternos nem inimigos perpétuos, apenas interesses eternos e perpétuos” mantem a sua actualidade e aplicabilidade. Esta flexibilidade e pragmatismo na combinação de realismo com liberalismo mantem-se como uma receita aceitável para o século vinte e um, pois não marginaliza a obtenção de soluções optimais ou sub-optimais para os interesses das grandes potências desde que estas concordem com a formulação e definição daquilo que são a preservação dos core interests do sistema internacional. Um bom ponto de partida será através de um acordo sobre a sua caracterização.
Assim o novo sistema poderá ser caracterizado pelas seguintes vertentes operativas:
(1) uma incremental globalização económica e cultural (Walker, 2008);
(2) o aumento da influência de actores não-estatais;
(3) o aumento das “ameaças não tradicionais”;
(4) a crescente importância no mundo em desenvolvimento do nacionalismo e dos movimentos dele derivados;
(5) a crescente importância das regiões na economia global (acelerada pela continuação do aumento do preço do petróleo), mas também no plano da segurança e defesa;
(6) uma cada vez maior influência de países como a China, o Japão, a Índia, o Brasil, a Coreia do Sul, a Rússia, a África do Sul e a Turquia, bem como a existência de médias potências nos hemisférios Norte (Canadá, Israel, Irão e países escandinavos) e Sul (Austrália e Nova Zelândia) que poderão ter um papel relevante na gestão política, económica e militar do novo sistema;
(7) estas potências deverão adoptar políticas externas multilaterais pragmáticas ou oportunistas tanto nas relações entre si como nas relações com os EUA e a UE;
(8) a competição pelos recursos naturais cada vez mais escassos tenderá a agudizar conflitos testando até ao limite os mecanismos de cooperação e de resolução de conflitos vigentes actualmente; e
(9) a degradação ambiental, o aquecimento global, as assimetrias económicas tanto no interior como entre países tenderá a colocar em causa a sustentabilidade a longo prazo do modelo financeiro e comercial desenvolvido pelos EUA, obrigando a uma reforma séria das instituições de Bretton Woods criadas após a Segunda Guerra Mundial (Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional).
Em 1998 a RAND publicou um estudo intitulado Sources of Conflict in the 21st Century: Regional Futures and U.S. Strategy (Khalilzad e Lesser, 1998)62 no qual avançava com três cenários alternativos até 2025: um mau, um benigno e um maligno face aos interesses dos EUA, mas que na realidade também seriam aplicáveis para as grandes potências mundiais, figura 5.
Dez anos depois pode-se dizer que se estão a concretizar sete elementos do mau cenário para os Estados Unidos (Europa, China, Japão, Ásia, proliferação NBQ, relações entre potências e competidor global), um do cenário benigno que ameaça derivar para um mau cenário (Rússia)63, e um do cenário maligno (Médio Oriente). O balanço não é nada positivo para Washington, em parte porque o establishment norte-americano sempre encarou o tabuleiro do sistema internacional como um jogo de monopólio, o da UE como um jogo de damas, o russo como um de xadrez e os chineses um de wei chi.64

No mesmo estudo foi delineado um gráfico que avançava implicações para as forças militares dos EUA consoante quatro cenários (o “fim da história”, o “conflito entre civilizações”, o de anarquia e o de Great Game 65). Neste contexto podemos colocar o referencial de exigência actual para os EUA e para as grandes potências - uma vez que de uma forma geral partilham interesses comuns na estabilidade do sistema internacional - de acordo com o arco de tipologia conflitual referido, na figura 1.
O que resta então aos EUA e à UE, mas também e não menos importante às principais potências em ascensão? Propostas para fazer frente a estes cenários não faltam entre os inúmeros think tanks norte-americanos sejam eles republicanos, democratas, conservadores bi-partidários ou apartidários, ou entre as centenas de institutos europeus e asiáticos dedicados às relações internacionais e à segurança e defesa, indo desde a “Liga de Democracias ou Concert of Democracies”, “Aliança de Democracias”, multilateralismo condicional (apenas com actores estatais ou não-estatais que partilhem os mesmos interesses), multilateralismo selectivo (apenas com actores estatais ou não estatais que partilhem os mesmos interesses e que sejam úteis na prevenção e resolução de conflitos numa determinada janela de tempo), multilateralismo incondicional (coligação para governação global), até ao cada vez menos apelativo isolacionismo ou unilateralismo norte-americano, passando por visões de grande-estratégia como a de Zbigniew Brzezinski de um “Sistema de Segurança trans-Caucasiano”, de Graham Allison de uma “Aliança Global para a Segurança” e de Amitai Etzioni de “Autoridades Globais”.
Entremos então no campo do bom senso e inescapavelmente nos “lugares comuns” pois aquilo que agora se sugere não é mais nem menos do que um “vinho velho em velhas garrafas com um rótulo que nem sequer é novo”, tal a frequência com que é repetido.
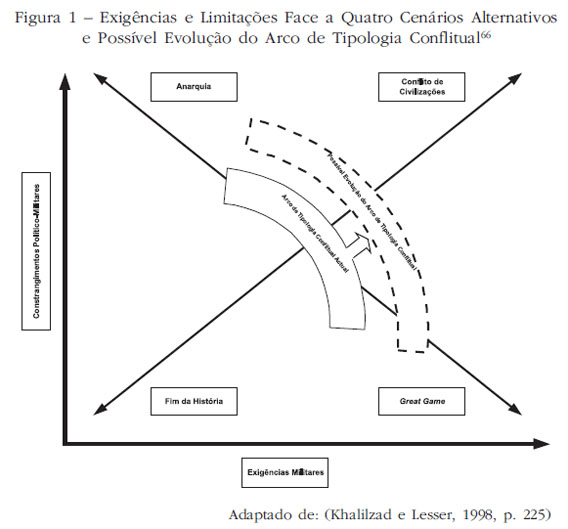
Se o poder depende do contexto então a actual preponderância norte-americana não é e será cada vez menos sinónimo de império ou de hegemonia. Na realidade a actual crise de fiabilidade da política externa dos Estados Unidos é o resultado do recurso excessivo a uma oratória de excepcionalismo sob a capa da defesa dos valores democráticos liberais, apoiada num “músculo militar” que afasta mais do que atrai antigos, actuais e potenciais futuros aliados. Já não basta o hard power e o soft power. Se ambos não forem empregues de forma sinérgica e inteligente (smart) o resultado só contribuirá para uma progressiva desvalorização do papel dos EUA no sistema internacional.
Concomitantemente e como recomenda a Smart Power Comission (2007), a política externa norte-americana deve agora centrar os seus esforços em cinco áreas essenciais, isto se quiser recuperar a sua imagem como principal referência global:
(1) restabelecer as alianças, parcerias e instituições multilaterais, algumas das quais viram a sua influência degradada em resultado de opções unilaterais;
(2) incidir um maior esforço nas políticas de apoio ao desenvolvimento global;
(3) investir mais na diplomacia pública com rosto humano, com apoio a programas de intercâmbio educativo;67
(4) apostar fortemente na integração económica reduzindo as políticas proteccionistas; e
(5) assumir a liderança [pela positiva] nas políticas relativas à segurança energética e às alterações climáticas68.
Neste ponto não deixa de ser relevante inserir a última sondagem do Pew Institute que pode ser ilustrativa daquilo que é a imagem de dois dos grandes competidores pelo acumulação de poder no sistema internacional, ao analisar a opinião que uma amostra de população (24 mil inquiridos) de vários países (24) de diversos continentes tem sobre os EUA e a China, particularmente numa fase de enormes receios de uma recessão económica nos Estados Unidos e de crescimento quase que exponencial do preço do petróleo, das matérias-primas e dos produtos alimentares. Os resultados, das figuras 2, 3 e 4, não receberão aqui qualquer comentário pois são elucidativos tanto do presente como da percepção quanto ao futuro destes dois gigantes no sistema internacional e da importância que a Casa Branca deve prestar às recomendações da Smart Power Comission.
Os Estados Unidos estão numa situação em que já não podem (longe dos tempos em que se afirmava que não deviam) resolver sozinhos os desafios inerentes a um sistema internacional cada mais fluido e quantitativamente mais polarizado em termos de distribuição de poder69.
Assim, e como referi algo prescientemente em 1998, “é desejável que acreditemos que as fundações de um sistema internacional para o próximo século estão ainda a ser construídas; no entanto a maior ou menor solidez das construções dependerá da estreiteza de espírito ou da forma generosa (mas não arrogante) como o poder norte-americano será aplicado, de modo a que a pax americana não se transforme numa pax cínica. O mundo disso se ressentiria” (Carriço, 1998, p. 294).
Passada a fase da solidariedade (imediatamente após os atentados de 11 de Setembro) que deu lugar à fase do ressentimento face ao unilateralismo da Casa Branca, as limitações do poder norte-americano são agora mais patentes.
Face às diversas ameaças transnacionais e aos desafios que se colocam ao sistema internacional, é cada vez mais consensual a necessidade do reforço (não de criação de novos) de organismos, mecanismos e instrumentos transregionais (e transculturais) de cooperação multilateral entre as actuais grandes e médias potências no intuito de salvaguardar a continuidade de um desenvolvimento sustentável em áreas de interesse nacional comuns à maioria destes países - chamemos-lhe uma coligação (não ad hoc) para a governação global. O seu enfoque deverá ser em torno das seguintes áreas:
(1) no fornecimento de tradicionais instrumentos de segurança como a dissuasão contra agressores e preservação do balance of power entre Estados em conflito, particularmente em regiões instáveis, mas relevantes geopoliticamente (“o segundo mundo” de Parag Khanna ou o “integrating gap” de Thomas Barnett);
(2) na manutenção da estabilidade do sistema comercial e financeiro enfatizando progressivamente através da Organização Mundial de Comércio, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Asiático para o Desenvolvimento, elementos fortalecedores desses sistemas como os direitos humanos, direitos do trabalho e respeitos por normas ambientais;
(3)na prevenção da disseminação não controlada do desenvolvimento de tecnologias com potencial de destruição massiva, bem como a vigilância e controlo de epidemias resultantes de desastres naturais ou originados pelo homem;
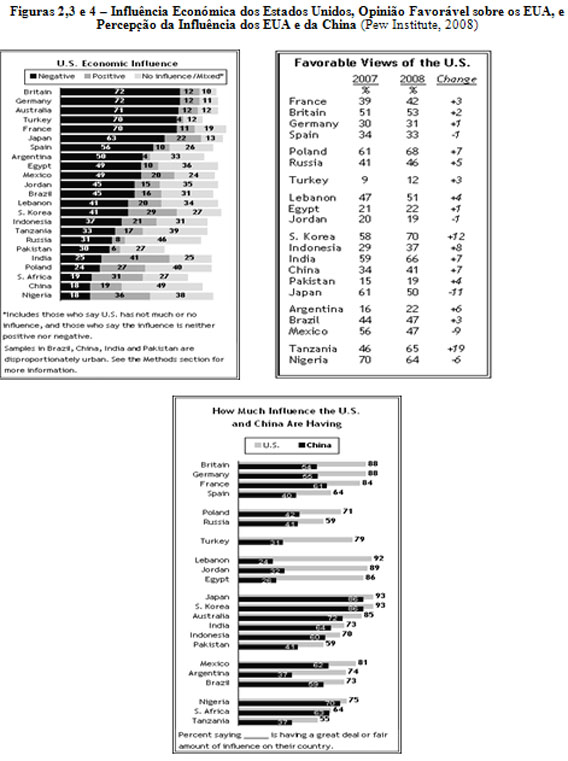
(4) num novo entendimento daquilo que é a utilização do espaço para fins económicos, científicos e de segurança;
(5) o reforço das “ordens de segurança” em cada uma das principais regiões (América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceânia);
(6) na estabilização dos Estados falhados, em caso de fracasso, contenção da expansão dos efeitos secundários em termos de segurança (ondas de refugiados, genocídios, limpezas étnicas, criminalidade) resultantes deste tipo de Estados para os Estados vizinhos;
(7) no adoptar uma política cooperativa (win-win approach) no plano da segurança energética capaz de satisfazer as necessidades das grandes e médias potências e dos países em desenvolvimento;
(8) na prevenção e mitigação dos perigos ecológicos de forma a que a segurança e a prosperidade potenciem a recuperação ambiental em vez de a degradarem ainda mais;
(9) na prevenção e mitigação das ameaças, com ênfase para os actos terroristas aos níveis global, regional e nacional, através do desenvolvimento de meios militares e da cooperação entre a esfera militar e a esfera policial tanto a nível nacional como internacional;
(10) na aceitação e interiorização política dos preceitos acoplados à noção de segurança humana, respeitando os direitos dos Estados mas também do indivíduo, mas não esquecendo que ambos também têm deveres. Neste ponto não se poderão reivindicar direitos se não se cumprirem os deveres.
Como afirmou prescientemente o malogrado Presidente dos EUA, John Fitzgerald Kennedy (1961), num discurso na Universidade de Washington em Seattle:
“Temos de encarar o facto que os Estados Unidos não são omnipotentes nem omniscientes; que somos apenas 6 por cento da população; que não podemos impôr a nossa vontade aos outros 94 por cento da humanidade; que não podemos corrigir todos os erros ou inverter cada adversidade; e que não existe uma solução americana para cada problema do mundo”.
Reforçadamente o Presidente francês Nicholas Sarkozy perante a Secretária de Estado norte-americana Condoleeza Rice declarou:
“É difícil quando um país que é o mais poderoso, o mais bem-sucedido - ou seja, por defeito, o líder do nosso campo - é o país mais impopular do mundo. Tal traz problemas não apenas para vocês como para os vossos aliados” (Gopnik, 2007).
Definitivamente os líderes dos EUA precisam de conhecer melhor o mundo e tal não os deve assustar, mas sim o seu auto-propalado e já desadequado discurso de excepcionalismo e exagero das ameaças à sua posição no sistema internacional.70 Este está a entrar numa fase de multipolaridade (ou não polaridade conforme se queira) cooperativa turbulenta, onde só uma cooperação multilateral e multidimensional poderá assegurar a continuidade dos níveis mínimos de estabilidade do mesmo face aos grandes perigos e desafios que se colocarão à humanidade a nível planetário pelo menos nas próximas duas décadas.
Como escreveu Lu Xun: “Não se pode dizer que exista esperança, nem que não exista. É como as estradas que atravessam a terra. Na realidade no início não existiam estradas... mas quando muitas pessoas passam pelo mesmo caminho muitas vezes, então surge uma estrada”(Congjie, 1996)71. O “caminho da multipolaridade do sistema internacional” faz-se caminhando, fazê-lo sozinho pode ser quase masoquista; fazê lo com companhia torna a viagem mais fácil e agradável. O mediático discurso do candidato democrata à presidência norte americana, Barack Obama, proferido em 24 de Julho de 2008 em Berlim perante mais de 200 mil pessoas, reconheceu a inevitabilidade das abordagens multilaterais cooperativas na futura política externa norte americana. Parece ser um bom ponto de partida ao contrário das afirmações pouco ponderadas da candidata republicana Sarah Palin a vice-presidente sobre uma eventual guerra com a Rússia devido à crise na Geórgia.
Bibliografia
Livros
BARNETT, Thomas, (2004). The Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty First Century, Putnam’s Sons, New York.
BRAUDEL, Fernand (1995). A History of Civilizations, Penguin (1ª edição de 1972), New York.
BREMER, Ian (2006). The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall, Simon & Schuster, New York.
BROWN, Michael E., et al (1996). Debating the Democratic Peace (International Security Readers), MIT Press, Cambridge.
BULL, Hedley e WATSON, Andrew (Eds) (1985). The Expansion of International Society, Oxford University Press, Oxford.
BULL, Hedley (1995). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Columbia University Press, New York.
BURUMA, Iain e MARGALIT, Avishai (2004). Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies, Penguin Press, New York.
CARRIÇO, Alexandre (2006). De Cima da Grande Muralha: Política e Estratégias de Defesa Territorial da República Popular da China, 1949 2010, Prefácio, Lisboa.
CLARK, Ian (1989). The Hierarchy of States: Reform and Resistance in International Order, Cambridge University Press, New York.
CROCKATT, Richard (2003). Embattled: September 11, anti Americanism and Global Order, Routledge, London.
COHEN, Saul B. (2003). Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., New York.
COHEN, Saul B. (1973). Geography and Politics in a World Divided, 2ª ed., Oxford University Press, New York.
CONGJIE, Liang (1996). The Great Thoughts of China, John Wiley & Sons, New York.
DOYLE, Michael (1986). Empires, Cornell University Press, Ithaca.
ECONOMY, Elizabeth C. (2004). The River Runs Black: The Environmental Challenge to China’s Future, Cornell University Press, Ithaca.
FRIEDMAN, Thomas (2000). The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, Anchor, New York.
FRIEDMAN, Thomas (2006). The World is Flat: A Brief History of a Twenty First Century, Farrar, Straus and Giroux, New York.
FUKUYAMA, Francis (1992). O Fim da História e o Último Homem, Gradiva, Lisboa.
FUKUYAMA, Francis (Ed) (2007). Blindside: How to Anticipate Forcing Events and Wild Cards in Global Politics, Brookings Institution Press, Washington.
GILPIN, Robert (1981). War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge.
HAASS, Richard (2005). The Opportunity, PublicAffairs, New York.
HOPKIRK, Peter (1994). The Great Game: The Struggle for Empire in Central Asia, Kodansha International, New York.
HUNTINGTON, Samuel (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York.
IKENBERRY, Jonh e SLAUGHTER, Anne Marie (2006). Forging a World under Liberty and Law: U.S. National Security in the 21st century, Princeton Project on National Security.
JOFFE, Josef (2006). Uberpower: The Imperial Temptation of America, Norton, New York.
KAGAN, Robert (2003). Of Paradise and Power, America and Europe in the New World Order, Alfred A Knopf, New York.
KAPLAN, Robert (2005). Imperial Grunts: The American Military on the Ground, Random House, New York.
KAGAN, Robert (2008). The Return of History and the End of Dreams, Knopf, New York.
KATZENSTEIN, Peter e KEOHANE, Robert O. (Eds) (2007). Anti Americanism in World Politics, Cornell University Press, Ithaca.
KENNEDY, Paul (1988). Ascensão e Queda das Grandes Potências (2 volumes), Publicações Europa América, Mem Martins.
KHALILZAD, Zalmay e LESSER, Ian (1998). Sources of Conflict in the 21st Century: Regional Futures and U.S. Strategy, RAND, Santa Monica.
KHANNA, Parag (2008). The Second World: Empires and Influence in the New Global Order, Random House, New York.
KLARE, Michael T. (2001). Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict, Metropolitan Books, New York.
KLARE, Michael T. (2008). Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy, Metropolitan Books, New York.
KLEIN, Naomi (2007). The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Metropolitan Books, New York.
KLEVEMAN, Lutz (2003). The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia, Atlantic Monthly Press, New York.
LAKE David A. e MORGAN, Patrick (1997). Regional Orders: Building Security in a New World, Pennsylvania State University Press, University Park.
LEVINE, Steve (2007). The Oil and the Glory: The Pursuit of Empire and Fortune on the Caspian Sea, Random House, New York.
LIEVEN, Anatol e HULSMAN, John (2006). Ethical Realism: A Vision for America’s Role in the World, Pantheon, New York.
LIND, Michael (2006). The American Way of Strategy, Oxford University Press, Oxford.
MACGILLIVRAY, Alex (2006). Globalization, Carroll & Graf Publishers, New York.
MAHBUBANI, Kishore (2008). The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East, Public Affairs, New York.
MANSFIELD, Edward e SNYDER, Jack (2005). Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War, MIT Press, Cambridge.
MEARSHEIMER, John (2001). The Tragedy of Great Power Politics, Norton, New York.
MEREDITH, Robyn (2008). The Elephant and the Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of Us, W. W. Norton, New York.
NAISBITT, John (1995). Megatrends Asia, Nicholas Brealey Publishing, London.
NYE, Joseph (2002). The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone, Oxford University Press, New York.
NYE, Joseph (2004). Soft Power: The Means to Sucess in World Politics, Public Affairs New York.
NYE, Joseph (2008). “Leadership and American Foreign Policy”, Conferência realizada no Real Instituto El Cano, em 19 de Maio de 2008.
ORTOLANO, Xiaoying e MA, Leonard (2000). Environmental Regulation in China: Institutions, Enforcement, and Compliance, Rowman & Littlefield, New York.
PAUL. T. V. e HALL, John A. (1999). International Order and the Future of World Politics, Cambridge University Press, Cambridge.
PYE, Lucien (1990). China, Harper Collins, New York.
RAMO, Joshua Cooper (2004). The Beijing Consensus, Foreign Policy Centre, London.
REITER, Dan e STAM, Allan (2002). Democracies at War, Princeton University Press Princeton.
ROHWER, Jim (1995). Asia Rising, Nicholas Brealey Publishing, London.
ROTHKOPF, David (2008). Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making, Farrar, Straus and Giroux, New York.
SAKAIYA, Taichi (1993). Japão: As Duas faces do Gigante, Difusão Cultural, Lisboa.
SINGER, Max e WILDAVSKY, Aaron (1996). The Real World Order: Zones of Peace, Zones of Turmoil (revised edition), Chatam House Publishers, New Jersey.
SHAMBAUGH, David (Ed) (2006). Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, University of California Press, Berkeley.
SHAPIRO, Judith (2001). Mao’s War Against Nature: Politics and the Environment in Revolutionary China, Cambridge University Press, Cambridge.
SLAUGHTER, Anne Marie (2006). Forging a World under Liberty and Law: U.S. National Security in the 21st Century, Princeton Project on National Security.
SPENGLER, Oswald (2006). The Decline of the West, Vintage (1ª edição de 1918), New York.
THUROW, Lester (1992). Head to Head: The Coming Economic Battle among Japan, Europe, and America, Time Warner Books, New York.
TOCQUEVILLE, Alexis de (2002). Democracy in America, The Folio Society, London.
TOYNBEE, Arnold J. (1987). A Study of History: Abridgement of Volumes II X (Study of History), Oxford University Press (1ª edição de 1958), Oxford.
ZAKARIA, Fareed (2003). O Futuro da Liberdade: A Democracia Iliberal nos Estados Unidos e no Mundo, Gradiva, Lisboa.
ZAKARIA, Fareed (2008). The Post American World, Norton, New York.
WALTZ, Kenneth (2002). Teoria das Relações Internacionais, Gradiva, Lisboa.
WENDT, Alexander (1999). Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge.
WISLON, D. e PURUSHOTHAMAN, R. (2003). Dreaming with BRICs: The Path to 2050, Goldman Sachs Global Economics, Paper 99 (October).
WOHLFORTH, William (2008). “The Stability of a Unipolar World” em Bruce Russett (Ed); International Security and Conflict, Ashgate, London.
Artigos em Revistas
BELLAMY, Carol e WEINBERG, Adam (2008). “Educational and Cultural Exchanges to Restore America’s Image”, in Vários, The Washington Quarterly, Summer issue, 55 68.
BROOKS, Stephen e WOHSFORTH, William (2005). “Hard Times for Soft Balancing”, in Vários, International Security nº1, 72 108.
CARRIÇO, Alexandre (1998). “Estados Unidos em Busca de uma Nova Doutrina”, in Vários, Revista Militar nº150.
DESCH, Michael (2003). “Democracy and Victory: Fair Fights or Food Fights?”, in Vários, International Security nº1.
DORAN, Carl (1999); “Why Forecasts Fail: The Limits and Potential of Forecasting in International Relations and Economics”, in Vários, International Studies Review nº1.
GUTERL, Fred e SHERIDAN, Barrett (2008). “Green Countries” (Special Report), Newsweek, July 7/14.
KRAUTHAMMER, Charles (1991). “The Unipolar Moment”, in Vários, Foreign Affairs nº1.
LAKE, David A. (2007). “Escape from the State of Nature: Authority and Hierarchy in World Politics”, in Vários, International Security nº1.
LAYNE, Christopher (2006). “The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States Unipolar Moment”, in Vários, International Security nº2, 7 41.
LIEBER, Keir A. e ALEXANDER, Gerard (2005). “Waiting for Balancing: Why the World is not Pushing Back”, in Vários, International Security nº1, 109 139.
MACSHANE (2008). “The 10 Big Myths of Russia, Its Leader, and Its New Power”, in Vários, Newsweek 15 September, 18 20.
MALLABY, Sebastian (2005). “Saving the World Bank”, in Vários, Foreign Affairs nº3.
PAPE, Robert A.; (2005); “Soft Balancing Against the United States”; International Security nº1, 46 71.
PAUL, T. V. (2005). “Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy”, in Vários, International Security nº1, 7 45.
SIEGLE, Joseph T. et al (2004). “Why Democracies Excel”, in Vários, Foreign Affairs nº5, 57 71.
ZAKARIA, Fareed (2008b). “The Rise of the Rest”, in Vários, Newsweek, May 12.
ZAKARIA, Fareed (2008c). “How to Get Back to Growth”, in Vários, Newsweek, June 16.
ZAKARIA, Fareed (2008d). “This Isn´t the Return of History”, in Vários, Newsweek, September 8.
WILKINSON, David (1999). “Unipolarity without Hegemony”, in Vários, International Studies Review nº1.
Documentos On line
BARBER, Benjamin (2008). “The Lost Art of Cooperation”, Wilson Quarterly, Internet: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wqessay& essay_id=358763, acedido em 21 de Junho de 2008.
CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE (2008). Internet: http://fora.tv/2008/05/29/Ivo_Daadler_on_the_Purposes_of_a_League_of_Democracies, http://www.theatlantic.com/doc/199402/anarchy, acedido em 16 de Junho de 2008.
CLINTON, Bill (1997). Internet: http://clinton6.nara.gov/1997/01/1997 01 20 presidents inaugural adress.html, acedido em 19 de Junho de 2008.
DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTE AMERICANO (2005). “Deputy Secretary Zoellick Statement on Conclusion of the Second U.S. China Senior Dialogue”, Internet: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/57822.htm, acedido em 14 de Dezembro de 2005.
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX (2008). Internet: http://epi.yale.edu/Home, acedido em 18 de Junho de 2008.
GOPNIK, Adam (2007). “The Human Bomb”; The New Yorker, August 27, Internet: http://www.newyorker.com/reporting/2007/08/27/070827fa_fact_gopnik, acedido em 4 de Junho de 2008.
HAASS, Richard (2008). “The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance”, in Vários, Foreign Affairs, May/June 2008, Internet: http://www.foreignaffairs.org/20080501faessay87304/richard n haass/the age of nonpolarity.html, acedido em 28 de Maio de 2008.
KAGAN, Robert (2008). “The Case for an Alliance of Democracies”, Internet: http://www.ft.com/cms/s/0/f62a02ce 20eb 11dd a0e6 000077b07658.html?nclick_check=1, acedido em 16 de Junho de 2008.
KAPLAN, Robert K. (1994). “The Coming Anarchy”, Internet: http://www.theatlantic.com/doc/199402/anarchy, acedido em 14 de Junho de 2008.
KENNEDY John Fitzgerald (1961). Internet: http://www.archive.org/details/jfks19611116, acedido em 12 de Junho de 2008.
MAHBUBANI (2008). Internet: http://www.mahbubani.net/book3.html, acedido em 18 de Abril de 2008.
MSBN (2008). “Top Middle East military commander resigns”, Internet: http://www.msnbc.msn.com/id/23578902/, acedido em 14 de Março de 2008.
PEW INSTITUTE (2008). Internet: http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=260, acedido em 27 de Junho de 2008.
PUTIN, Vladimir (2007). Internet: http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?sprache=en&id=179 , acedido em 19 de Junho de 2007.
RAMO, Joshua Cooper (2004). The Beijing Consensus, Foreign Policy, Centre London, Internet: http://fpc.org.uk/fsblob/244.pdf, acedido em 19 de Março de 2005.
SMART POWER COMISSION (2007). Internet: http://www.csis.org/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf, acedido em 27 de Junho de 2008.
THE ECONOMIST (2008). Internet: http://www.economist.com/ books/PrinterFriendly.cfm?story_id=10640560, acedido em 18 de Abril de 2008.
UNIVERSITY METRICS (2006). Internet: http://www.universitymetrics.com/tiki index.php?page=Top+300+Universities+2006, acedido em 18 de Junho de 2008
WALKER, Martin (2008). “Globalization 3.0”, Internet: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wq.essay&essay_id=358325, acedido em 27 de Junho de 2008.
* Major de Infantaria. Docente das unidades curriculares de Teoria das Relações Internacionais e de História Militar na Academia Militar. Sócio Efectivo da Revista Militar.
1 Ilustrativamente a caracterização das relações internacionais como sendo a meteorologia do sistema político internacional enquanto a geopolítica é a climatologia não colhe grande aceitação académica.
2 Sarcasticamente, a mensagem que a Casa Branca tencionava transmitir ao Médio Oriente - e não só - através da “intervenção democrática” dos EUA no Iraque era a de que se não fossem apoiantes dos EUA estes não teriam grandes dúvidas em os “democratizarem”. Mas Washington continua a apoiar regimes ditatoriais como o da Guiné Equatorial ou do Cazaquistão, onde o velho adágio do Secretário de Estado Norte Americano Cordell Hull (entre 1934 1944) aplicado então ao regime ditatorial da República Dominicana de Rafael Molino Trujillo mantem a sua validade: “He may be a son of a bitch, but it is our son of a bitch”.
3 Sobre a “paz democrática” leiam se (Desch, 2003), (Mansfield e Snyder 2005), (Reiter e Stam, 2002). Para a melhor compilação de artigos sobre o debate académico em torno da paz democrática leia se (Brown et al, 1996).
4 A obra de Bull é o referencial da denominada escola inglesa das relações internacionais.
5 Aqui não deixa de ser relevante referir a opção chinesa face à soviética. Enquanto Deng Xiaoping colocou as reformas económicas à frente das reformas políticas, Mikail Gorbatchev fez o inverso, com os resultados que se conhecem.
6 A mais recente crise resultante do não irlandês no referendo sobre o Tratado de Lisboa veio colocar a reforma e a afirmação internacional da UE uma vez mais em “banho maria”. Também é importante relevar que a UE é e será aquilo que as principais potências europeias queiram que ela seja, as quais não parecem muito dispostas a ceder grande parte da sua preponderância em termos de política externa para um “Ministro dos Negócios Estrangeiros da UE” (em princípio Javier Solana). Caricaturando a expressão empregue por Javier Solana aquando da aprovação da PESD de que “a UE tinha agora um telefone para a política de segurança e defesa”, na realidade o “telefone europeu é de rede fixa e não é muito utilizado porque a maioria dos Estados europeus preferem usar o telemóvel”.
7 Por exemplo na França do século dezoito Comte de Buffon caracterizou os Estados Unidos como um “pedestal de degeneração” e Abbé Raynal criticou violentamente a sua pobreza cultural. Já para Alexis de Tocqueville (2002, pg. xx) os Estados Unidos eram uma experiência em democracia cujas virtudes suplantavam os defeitos o que lhes permitiriam configurarem se como um referencial internacional.
8 Veja se (Sakaiya, 1993), (Rohwer, 1995), (Thurow, 1992), (Naisbitt, 1995).
9 Expressão empregue pela primeira vez por Bill Clinton aquando do seu discurso de aceitação do segundo mandato como Presidente dos EUA em 20 de Janeiro de 1997 (Clinton, 1997).
10 Argumento desenvolvido por Kishore Mahbubani e que padece de algumas fragilidades, pois são estes mesmos ideais económicos que catalizaram os modelos de desenvolvimento chinês e indiano.
11 Que tal como o original Concert of Powers formulado por Castlereagh e Metternich na fase pós Napoleónica, deverá visar a estabilidade, não a perfeição, com o balance of power a ser a expressão clássica das lições da história que nenhuma ordem é segura sem salvaguardas físicas contra a agressão, estabelecendo um equilíbrio entre poder e moralidade, entre segurança e legitimidade.
12 Para além de Fareed Zakaria e Kishore Mahbubani, Michael Lind, Parag Khanna, Richard Haass, Matthew Yglesias, Steven Weber, Bruce Jentleson, Charles Kupchan, Peter Trubowitz, Anne Marie Slaughter, e Anthony Lake, têm também alimentado esta dialéctica sobre as consequências de uma “América mais light” ou de uma “nova mas robusta América” como escultora das tendências globais e geradora e consolidadora de acordos internacionais (um leviathan liberal nas palavras de Ikenberry). Para a leitura de obras de referência que advogam a continuidade da primazia norte americana ainda que sob um novo formato veja se por exemplo (Haass, 2005); Lind, 2006); (Lieven e Hulsman, 2006); (Ikenberry e Slaughter, 2006).
13 Para um Coronel do Exército indiano, a Índia está a tentar materializar nos próximos vinte anos uma revolução agrícola e industrial e consolidar a de serviços, enquanto a China irá na mesma janela de tempo concluir uma revolução agrícola e industrial e consolidar uma revolução nos serviços. Conversa com o autor durante o International Symposium Course realizado na Universidade de Defesa Nacional do Exército Popular de Libertação em Pequim entre Outubro e Novembro de 2007.
14 O modelo de crescimento global assente na exploração de matérias primas onde os países produtores de commodities alimentam e crescem em resultado directo do crescimento económico daqueles que destas são deficitários é o yin e o yang da globalização em curso.
15 Que sofreu um forte abalo de credibilidade com a crise financeira argentina e a crise asiática. Na primeira por excesso de intervencionismo e imposição de medidas draconianas de liberalização da economia e na segunda por uma surpreendente ausência de vontade em intervir, e quando o fez já era tarde. Não tardaria a que o acrónimo de IMF (International Monetary Fund) fosse transvestido em International Mother Fuckers para a população dos países mais afectados pelas crises. Para uma acérrima crítica ao modelo económico neo liberal do “Consenso de Washington” e dos “Chicago Boys de Milton Friedman” leia se (Klein, 2007).
16 O “Consenso de Washington” descreve dez prescrições de política de reforma económica para países que caiam em crise. O apoio às reformas neo liberais ou de “fundamentalismo de mercado” advirá essencialmente do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. As dez prescrições são: (1) política de disciplina fiscal; (2) redireccionamento da despesa pública em detrimento dos subsídios para sectores geradores do crescimento económico (educação, saúde, e infraestruturas); (3) reforma dos impostos; (4) taxas de juros (moderadas) de acordo com as leis do mercado; (5) taxas de câmbio competitivas; (6) liberalização do comércio; (7) liberalização do investimento directo externo; (8) privatização das empresas estatais; (9) desregulação controlada do mercado; e (10) respeito dos direitos de autor e de cópia. Por outro lado o “Consenso de Pequim” baseia se em três teoremas de potenciação do desenvolvimento de um país como a China: (1) aposta na inovação; (2) desenvolvimento de uma sociedade harmoniosa com menos assimetrias sociais; e (3) auto afirmação nacional no sistema internacional. Veja se (Ramo, 2004).
17 Não se quer com isto desvalorizar os enormes progressos alcançados por Pequim e Nova Delhi. Basta atentarmos nas declarações dos principais líderes de ambos os países para compreendermos o elevado grau de pragmatismo e de consciência dos enormes desafios ao desenvolvimento que China e Índia terão de ultrapassar. Se fizermos um pequeno exercício matemático o deslumbre estatístico tende a esbater se e a espelhar melhor a realidade: analise se por exemplo o produto interno bruto de cada um dos países numa perspectiva per capita em vez de agregadora. Veja se (Zakaria, 2008, pg. 17). Para uma das melhores análises sobre os modelos de crescimento económico da China e da Índia leia se (Meredith, 2008).
18 Definido como a capacidade para moldar as preferências de outros... liderando pelo exemplo, atraindo os outros a fazer aquilo que queremos que façam (Nye, 2004, pp. 5 6).
19 Dentro do sistema internacional temos vários tipos de relações hierárquicas como impérios, protectorados, esferas de influência e dependências, nas quais a soberania da entidade política subordinada é cedida no todo ou em parte ao Estado dominante. Veja se (Clark, 1989).
20 Isto se quisermos jogar com a expressão associada à crise do crédito hipotecário de alto risco (subprime) originado nos EUA e que continua a repercutir os seus efeitos económicos em termos globais no declínio do poder destes.
21 Existe uma enorme variedade de definições de globalização. Para referência iremos seguir a avançada por Manfred Steger da Illinois State University que a define como um conjunto de processos sociais multidimensionais que criam, multiplicam, alongam e intensificam as interdependências sociais globais tal como as interacções ao mesmo tempo que promovem nas pessoas uma crescente consciência das profundas ligações entre o o que é local e o que está distante (MacGillivray, 2006, pg. 5).
22 Veja se (Shambaugh, 2006).
23 O comandante do CENTCOM, Almirante William Fallon apresentou a sua demissão da função no dia 11 de Março de 2008, alegadamente por discordar de um eventual ataque norte americano ao Irão.
24 Existem três justificações para o anti americanismo: desequilíbrios na distribuição de poder; ressentimento sobre a globalização; e conflito entre identidades. Peter Katzenstein e Robert Keohane definem seis tipos de anti americanismo: liberal; social; radical; elitista; nacionalista e soberano; e herdado. (Katzenstein e Keohane, 2007, pg. 45). Sobre o anti americanismo leiam se ainda (Joffe, 2006), (Buruma e Margalit, 2004), (Crockatt, 2003).
25 Basta atendermos nos recentes casos em que fundos do Abu Dhabi permitiram salvar o Citigroup da falência e em que Singapura salvou o banco Merrill Lynch.
26 Os engenheiros da China e Índia incluem mecânicos e técnicos de manutenção industrial (com uma formação técnica raramente superior a um ano), o que dificilmente se encaixa no modelo ocidental de formação de engenheiros.
27 No ranking das 20 melhores universidades mundiais 17 são norte americanas. UNIVERSITY METRICS (2006). Internet: http://www.universitymetrics.com/tiki index.php?page=Top+300+Universities+2006, acedido em 18 de Junho de 2008 Para um elogio rasgado ao modelo de exigência universitária norte americana que “ensina os alunos a pensar e não a estudar para os testes” leiam se as páginas 191 195. Mahbubani (p. 121 122) também realça o “valor acrescentado” das universidades norte americanas.
28 Os EUA, a Alemanha e Japão também tiveram taxas de crescimento similar em finais do século dezanove mas acabariam por implodir, com o totalitarismo a ser o preço a pagar pela Alemanha, pelo Japão e pela Rússia por uma industrialização tão estatizada. A questão semântica da “ascensão vs desenvolvimento” com o governo chinês a utilizar inicialmente a primeira e posteriormente a adoptar definitivamente a segunda, teve a ver com o facto de os “velhos fantasmas históricos” do revisionismo associado à expressão ascensão terem começado a assombrar alguns centros de decisão política tanto na Ásia como na Europa e nos Estados Unidos. Pequim estabeleceu como um dos pilares essenciais para a continuidade do seu desenvolvimento um clima de estabilidade interna e externa, no mínimo até 2020, naquilo que definiu como a sua “janela de oportunidade”. Mesmo assim, e em termos comparativos pode se dizer que a China está actualmente ao nível do Reino Unido na década de sessenta do século vinte.
29 Para Pratap Bhanu Mehta a China foi e ainda é uma sociedade fechada com mentes abertas enquanto a Índia é uma sociedade aberta com mentes fechadas (Mahbubani, 2008, p. 141).
30 Basta atentarmos no facto de Zakaria ser ele próprio um filho de emigrantes indianos e que frequentou as universidades de Yale e de Harvard, foi editor da Foreign Affairs e actualmente é editor da Newsweek, começando a ser referenciado como um possível futuro Secretário de Estado norte americano. Aconselha se a visão do seu programa semanal na CNN iniciado em 1 de Junho de 2008 e intitulado GPS (global public square), no qual entrevista personalidades relevantes e conduz debates sobre questões da segurança internacional. Já Mahbubani é o actual reitor da Lee Kuan Yew School of Public Policy da National University of Singapore, tendo anteriormente sido embaixador de Singapura na ONU. Parag Khanna é filho de emigrantes indianos, dirige a Global Governace Initiative no American Strategy Program da New America Foundation, tendo sido conselheiro do U.S. Special Operations Command.
31 Em 2012 a Índia e a China terão mais 850 novas centrais de produção de energia eléctrica a partir do carvão, o que gerará níveis de poluição que obliterarão todas as reduções obtidas até hoje pelo Protocolo de Kyoto (Zakaria, 2008, p. 31). Caricaturando, a poupança de energia resultante das lâmpadas economizadoras que utilizamos em nossas casas será “comida ao pequeno almoço pelos chineses e ao almoço pelos indianos”. Os desafios ambientais da China são descritos genericamente na página 98. A China consome sete vezes mais energia que o Japão, seis vezes mais que os Estados Unidos, e três vezes mais que a Índia para um volume idêntico de produção. Para um ranking estatal sobre políticas ambientais (Environmental Performance Index, 2008). O nº1 é ocupado pela Suíça, Portugal está em 18º, os Estados Unidos em 39º, a China em 113º e a Índia em 120º. Veja se (Guterl e Sheridan, 2008). Para uma visão sobre o impacto das políticas de desenvolvimento económico chinesas no meio ambiente no período Maoísta e posterior a este leiam se respectivamente (Shapiro, 2001), (Economy, 2004). Sobre os esforços de Pequim em desenvolver e implementer legislação ambiental veja se (Ortolano e Ma, 2000). Veja se ainda o número especial da The China Quarterly nº156 de Dezembro de 1998 intitulado China’s Environment e que a aborda as diversas realidades da política ambiental chinesa.
32 Para uma leitura sobre as mais variadas recensões críticas à obra consulte se http://www.mahbubani.net/book3.html
33 Definido por Mahbubani (2008, p. 101 102) como os EUA, a UE, a Austrália, Nova Zelândia, o Canadá e mais questionavelmente o Japão.
34 Nesta óptica as suas críticas particularizam alguns media ocidentais como o The Economist que apesar de prestigiado e influente define como um espelho dos valores e interesses ocidentais (p. 114 115). O The Economist teve oportunidade de reciprocar as críticas classificando a obra de Mahbubani “e o triunfalismo asiático [que defende] como tão fútil e pouco convincente como o triunfalismo Ocidental e o “fim da história” que tanto critica”. (The Economist, 2008)
35 Atente se nos mais recentes e violentos protestos dos agricultores sul coreanos relativamente à liberalização da importação da carne de vaca dos EUA entre Maio e Junho de 2008.
36 Empregando uma lógica Fénixiana de Robert Kaplan (2005, p. 7) ao abrigo da qual o colapso de impérios dá início ao surgimento de outros.
37 Se a China é um império não se percebe o recurso a Lucien Pye, que afirma que a “China sempre foi uma civilização imitando uma nação”. Este designio imperial extrapolado por Khanna a partir de uma vertente civilizacional, distorce a argumentação original de Pye (1990, p. 58). Ilustrativa e contraditoriamente o autor dedica um pequeno capítulo (pp. 78 84) às províncias chinesas do Tibete e de Xinjiang como peças do Great Game chinês. Se o império chinês, como refere, está estabilizado no interior das suas fronteiras clássicas (desde 1951) porquê inserir ambas as províncias no capítulo dedicado aos Estados da Ásia Central? Michael Doyle (1986, p. 12) define império como “um sistema de interacção entre duas entidades políticas, uma das quais, a metrópole dominante, exerce um controlo político sobre a política interna e externa - soberania efectiva - sobre a outra numa periferia subordinada”. Para Khanna (p. xiv) o critério de expansão dos impérios é o deterem poder suficiente em termos de união geográfica e militar, economia e demografia.
38 Para uma argumentação similar sem recorrer a uma caracterização estritamente imperial mas de competição entre Estados leia se (Klare, 2008). Por exemplo, na palestra ministrada em 11 de Setembro de 2008 no Museu do Oriente intitulada The Transatlantic Community and Asia, Christopher Patten (ex governador de Hong Kong, antigo Comissário da União Europeia e actual reitor da Universidade de Oxford) caracterizou os Estados Unidos mais como um empório do que um império.
39 Como tive oportunidade de declarar aquando de uma palestra dada aos alunos do 4º ano de Infantaria em Março de 2008 sobre novos desafios regionais às Crisis Response Operations das NATO e às missões de Peterberg da UE: com o reconhecimento da independência do Kosovo por parte da maioria dos países da UE e dos Estados Unidos, iria abrir se uma caixa de Pandora que justificaria a manipulação das consequências políticas estabelecidas por este precedente. A Rússia iria, em princípio, manobrar geopoliticamente para reforçar a sua posição na Abcázia, na Ossétia do Sul, e na Moldávia, com a Ucrânia e a sua divisão sócio cultural, religiosa e de política interna (onde a população da parte Ocidental advoga uma adesão à UE e à NATO e a população da parte Oriental a defender uma maior aproximação à Rússia reforçada pela questão da Crimeia e o eventual retorno da base naval russa de Sevastopol a Kiev em 2017) a serem os próximos flashpoints em termos de desafios de gestão de crises tanto para a UE como para os EUA.
A Guerra na Ossétia do Sul iniciada a 8 de Agosto de 2008 por Tbilisi e a subsequente contra ofensiva militar russa, que culminou numa primeira fase, num acordo de cessar fogo patrocinado pelo Presidente francês Nicholas Sarkozy (que preside à UE no segundo semestre de 2008) e, posteriormente no reconhecimento por parte de Moscovo da independência daquelas duas províncias secessionistas da Geórgia, não significa que tenhamos entrado num período de uma nova Guerra Fria, como alguns observadores já se apressaram a caracterizar. Para Denis MacShane o conflito da Geórgia foi uma guerra sem base ideológica e no seio de um sistema capitalista liberal, com a primeira a tentar tornar se numa “pequena subsidiária” do capitalismo transatlântico, onde o governo da Ossétia do Sul é essencialmente um adepto de um sistema capitalista militar mafioso e a Rússia adoptou um sistema capitalista nacionalista estatizado (MacShane, 2008). Numa perspectiva mais lata, e para aqueles que advogam a adesão da Ucrânia à NATO, a Geórgia oferece um argumento perfeito a favor de uma aceleração deste processo. Para Moscovo a Geórgia representa o perigo de deixar que os Estados Unidos manipulem um Estado vizinho capaz de condicionar o espaço de manobra estratégico russo na região. Neste contexto, a Ucrânia fica pois numa posição intermédia. O que é patente é que tanto a UE como os EUA estão a colher a tempestade que semearam com os ventos da independência do Kosovo, mas esta é uma questão que só por si justificaria um outro artigo.
40 Saul Cohen já utiliza esta designação nas suas obras de 1964 e 2003.
41 Que Khanna vê como a reformulação do conceito de “esfera de co prosperidade” definido pelo Japão antes da 2ª Guerra Mundial.
42 Neste ponto não coloco a questão se Taiwan é um “Estado informal” pois não declarou a independência de jure ou se é uma província chinesa, mas o recurso à força militar por parte da China já foi feito no passado recente. Leia se (Carriço, 2006).
43 Critérios generalistas avançados pela série documental The Rise of the Great Nations, produzida e exibida pela estação de televisão chinesa CCTV. Veja se (Zakaria, 2008, p. 107).
44 Para uma correlação entre estabilidade e abertura política na potenciação do desenvolvimento económico dos Estados leia se (Bremer, 2006; p. 216 236 e 237 264 que abordam respectivamente a Índia e a China).
45 Veja se (Layne, 2006, pp. 11 19).
46 Não obstante a superioridade nas componentes the hard power (PIB, poder militar e população) e de soft power (persuasão social e cultural). Para cada uma das componentes veja se respectivamente (Mearsheimer; 2001) e (Nye, 2002).
47 Existem vários tipos de distribuição de poder ordenadas de forma crescente quanto ao nível de centralização: não polaridade, multipolaridade, tripolaridade, bipolaridade, unipolaridade não hegemónica, hegemonia, e estado universal/império universal. Para uma defesa da maior estabilidade dos sistemas unipolares leia se (Wohlforth, 2008).
48 Embora possa não parecer, o recente conflito na Geórgia não é uma excepção a esta norma de soft balancing da Rússia face aos EUA.
49 Sobre esta temática leiam se (Pape, 2005), (Paul, 2005), (Brooks e Wohlforth), (Lieber e Alexander, 2005), (Layne, 2006).
50 Reavivada recentemente pelo candidato presidencial republicano John McCain. Para uma perspectiva sobre este debate veja se a conferência de 29 de Maio de 2008 no (Carnegie Endowment for International Peace, 2008).
51 O seu conceito de Jus Bellum assenta no end state “[one that] leaves affected societies more connected than when we found them, with the potential for self driven connectivity either restored or left intact”. Para este autor os dez mandamentos da globalização são: (1) Look for resources, and ye shall find; (2) No stability, no markets; (3) No growth, no stability; (4) No resources, no growth; (5) No infrastructure, no growth; (6) No money, no infrastructure; (7) No rules, no money; (8) No security, no rules; (9) No Leviathan (US superpower), no security; e (10) No will, no Leviathan. (Barnett, 2004, p. 199 205 e 326). Esta é uma variação intelectualmente mais sofisticada daquela avançada por (Singer e Wildavsky, 1996).
52 Uma sintomatologia que Robert Kagan (2003) já havia caracterizado, argumentando que a Europa estava a “entrar numa fase de pós história de um paraíso de paz e prosperidade relativos avançado por Immanuel Kant” enquanto os EUA continuavam “reféns da história, exercendo o seu poder num mundo Hobbesiano anárquico onde as normas do Direito Internacional raramente são observadas”. Para ele, os europeus eram “venusianos” e os americanos eram “marcianos” (no sentido mitológico grego).
53 O que não significa que os conflitos não possam ser transpostos para o território dos países em desenvolvimento como arena da competição e de ganho de influência entre estas potências, naquilo que Parag Khanna define como o segundo mundo. Veja se ainda (Kagan, 2008). Kagan é conselheiro informal de John McCain.
54 À margem da última reunião do G8, em Sapporo, no Japão em Julho de 2008, Hu Jintao propôs que os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) aprofundassem quatro vectores de cooperação mutual: fortalecimento da solidariedade, coordenação e da promoção do desenvolvimento conjunto; incrementar a coordenação e a cooperação Sul Sul; estabelecer objectivos de longo prazo no diálogo Norte Sul; e trabalhar em conjunto e partilhando responsabilidades.
55 Veja se (Wilson e Purushothaman, 2003). Atente se nas notícias vindas a público sobre um jantar com 24 pratos no dia em que se debateu o combate à fome e as despesas com a segurança das comitivas e o alojamento dos jornalistas que dariam para financiarem durante dois anos programas de combate à malária e ao SIDA no continente africano.
56 Para uma leitura muito interessante sobre o papel e a influência de pessoas singulares e pessoas colectivas não estaduais no sistema internacional veja se (Rothkopf; 2008).
57 Neste contexto leiam se (Haass, 2005), (Lind, 2006), (Lieven e Hulsman, 2006). O reavivar do conceito de parcerias estratégicas proposto aquando da presidência de Bill Clinton (direccionado para a China e a Rússia) pode também ser uma solução, agora que a etiquetagem de ambos os países como competidores estratégicos avançada no primeiro mandato da administração de George W. Bush está demodè.
58 Mas formulada inicialmente por internacionalistas democratas como Ivo Daalder (conselheiro de política externa do candidato democrata Barack Obama), Anne Marie Slaughter e John Ikenberry. O Primeiro Ministro dinamarquês Anders Fogh Rasmussen propôs por sua vez uma “Aliança de Democracias”, conferindo um carácter ainda mais coesivo e militar de obrigações na adesão a este eventual “clube”. O termo aliança foi avançado inicialmente por Ivo Daalder e James Lindsay num editorial publicado, em Maio de 2004, no Washington Post, ainda que sem referirem a componente militar.
59 Para uma crítica a esta estratégia de John McCain veja se (Zakaria, 2008d).
60 Para uma apaixonada defesa da “geografia da democracia” e o seu impacto no desenvolvimento dos Estados leia se (Siegle et al, 2004, pp. 57 71).
61 Mahbubani é um crítico desta proposta. Veja se (Mahbubani, 2008, pp. 242 245).
62 O estudo avançava também com aquilo que denominou de wild cards: ambientais, político culturais e tecno científicos, os quais a materializarem se teriam o condão de alterarem drasticamente os três cenários descritos (p. 34 37).
63 No dia 3 de Setembro de 2008 em entrevista à Euronews, o Presidente russo Dmitri Medvedev elencou os cinco princípios da política externa russa (uma espécie de doutrina Medvedev): (1) a Rússia reconhece a primazia dos princípios fundamentais do Direito Internacional; (2) o mundo deve ser multipolar, sendo que a unipolaridade é inaceitável, porque torna o sistema internacional mais instável; (3) a Rússia não deseja uma confrontação com qualquer país, nem deseja isolar se; (4) a protecção da vida e da dignidade da vida dos cidadãos russos, qualquer que ela seja, é uma prioridade inquestionável para o governo e um vector da política externa. A Rússia responderá a quaisquer actos de agressão que sejam cometidos contra os seus cidadãos; e (5) no que concerne a outros países, a Rússia reconhece que tem interesses privilegiados em determinadas regiões vizinhas (i.e. antigas Repúblicas Soviéticas da Ásia Central), e neste contexto desenvolverá relações de amizade com os países localizados nessas áreas.
64 Esta sequência escrita pelo autor é intencional, indo da menor para a maior complexidade do jogo em si e que é paralela aos tipos de objectivos e da mecânica operativa subjacente a cada um dos actores citados.
65 Sobre o Great Game a melhor análise histórica é a de (Hopkirk, 1994). Dois emolumentos sobre o Great Game contemporâneo e de leitura obrigatória são (Kleveman, 2003) e (Levine, 2007).
66 Os arcos de tipologia conflitual são da minha autoria.
67 Leia se por exemplo (Bellamy e Weinberg, 2008).
68 Citada em (Nye, 2008, pg. 5).
69 O sucesso relativo das Six Party Talks sobre o programa nuclear norte coreano são um bom exemplo e onde o papel da China foi relevante.
70 É relevante notar que na década de 50 do século vinte os conservadores norte americanos acusavam Dwight Eisenhower de se limitar a conter em vez de derrotar o comunismo. Esta paranóia sobre o comunismo conduziu internamente ao acentuar do McCarthismo e ao apoio de regimes politicamente duvidosos noutros países. John Kennedy decidiu flanquear politicamente Richard Nixon ao afirmar que existia um défice no número de mísseis face à União Soviética (quando na verdade os Estados Unidos tinham cerca de 20 mil contra os 2 mil da URSS). Na década de 70 reforçou se o argumento de que a URSS havia ultrapassado militarmente os Estados Unidos e que a Europa iria ser “filandizada”, quando na verdade Moscovo estava a iniciar o seu processo de lento colapso. Desde o final da Guerra Fria passou se pela chamada ameaça chinesa, com o Relatório Cox a exagerar a capacidade militar de Pequim. Depois foi Saddam Hussein, descrito como uma ameaça poderosa e iminente, quando o perigo relativo estava na Al Qaeda. Esta retórica de grandes ameaças acabou por ficar inculcada na psiche americana, a qual acaba por distorcer a política externa provando por vezes ser extremamente onerosa tanto para o país como para o mundo.
71 Lu Xun foi um ensaísta chinês que viveu entre 1881 e 1936. Os seus ensaios, quase iconoclastas, satirizavam a herança do tradicionalismo Confuciano e o carácter nacional chinês da época, tendo sido usados como referência por activistas políticos reformadores chineses durante a primeira metade do século vinte.