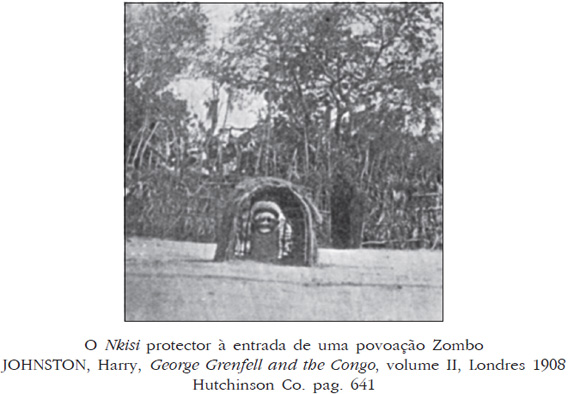O assunto pode não ser inédito no âmbito desta publicação, mas é seguramente bastante invulgar a descrição que se segue. Já lá vão mais de quarenta anos, porém alguns factos das nossas vidas ficam de tal modo gravados na memória que por muito teimarem em ficar vivos dificilmente se apagam. Acontece de uma forma geral a todos nós.
Trata-se de uma descrição que tem a intenção de recordar momentos excepcionais vividos pelas populações do Norte de Angola, nos últimos anos da década de 50 e princípios da década de 60 do século passado.
Ao repousarmos a vista sobre determinadas fotografias, factos, que julgávamos adormecidos, acordam as nossas recordações. Há bem poucos dias fui dar com uma fotografia que tirei com um amigo negro, o Pazito (corruptela de paizinho), por volta dos meus dez anos. Durante cinquenta anos falei dele, mas a sua imagem já quase se tinha esfumado da memória. Porém, bastou-me encontrar a fotografia e logo me vieram à lembrança pormenores que de outro modo jamais recordaria. O mesmo acontece quando alguém desfolha um álbum de família. Por vezes dá-se o caso de não ter vivido determinados momentos, mas de tanto ouvir falar daquelas pessoas e daqueles tempos, tudo se passa como se tivesse vivido os acontecimentos.
Antes de me debruçar sobre a figura do meu amigo kasengo (leia-se Kassengo) e das suas raízes, seja-me permitido situar-me no contexto. Abordarei uma forma do conceito de Pátria (no sentido de património espiritual e cultural dos nossos pais). Dando um significado consensual (não confundir pátria com estado, um conjunto de comunidades vivendo sob as mesmas leis) onde seja perceptível uma alma, isto é, uma sensibilidade, uma inteligência e uma vontade a um só tempo. A Pátria exige um ideal que se fundamenta em lembranças dum passado comum, das suas glórias e das suas aflições; é verdade que o sentimento de pátria leva ao conflito de umas nações contra as outras... A seguir debruçar-me-ei sobre o conceito de País, não só no sentido de reino, império ou república onde se nasceu, mas sobretudo na ideia de “nosso chão”.
Fui para Angola em 1943, com apenas quatro anos de idade, na companhia de meus pais. Foi lá que aprendi que Angola, “a Minha Terra”, fazia parte de um país que se chamava Portugal. Camões era o seu grande poeta, tinha escrito uma epopeia “Os Lusíadas” e dele fixei, entre outros, dois episódios: o de Inês de Castro e o do tremendo Adamastor (canto quinto); este último fazia parte dos textos de português da minha 4ª classe e reza assim:
“... Porém já cinco Sois eram passados
Que dali nos partimos cortando
Os mares nunca d’outrem navegados,
Prosperamente os ventos assoprando
Quando uma noite estando descuidados...” (canto V,est. 37)
Foi lá, que ouvi, pela primeira vez, o nome do Sporting, do Benfica e do Porto. Havia um negro, chamado Matateu, que foi glória do futebol metropolitano. Por esse tempo aprendi a ser benfiquista e ouvi falar do Eusébio, a Pantera Negra do futebol europeu.
Na escola primária fiquei a saber como amar a Deus sobre todas as coisas e a rezar o Padre Nosso e a Avé Maria e fiz a primeira comunhão. Recordo, com muita saudade, os meus amigos de infância do muceque Rangel, do Kaputo e do Sambizanga que me ensinaram a fazer gaiolas de bordão, a caçar passarinhos, peitos celestes e januários... Com eles aprendi a colocar o visco em finas hastes, onde os pássaros iriam descuidadamente pousar. Armei alçapões e Kalobos nas mesmas gaiolas, fiz fisgas com borrachas de câmaras de ar, tornei-me mestre a fazer papagaios e a saber, quando ia às matinées do cinema Nacional, que havia um país chamado América onde existiam cowboys, índios e bandidos.
Passado o tempo da Escola Comercial, meu pai obrigou-me a ir para o Mato (a 700 quilómetros da Capital), como prémio de ser um bom aluno, em vez de continuar os estudos em Lisboa. Assim cheguei à povoação comercial do Quibocolo, onde conheci o meu amigo Kasengo. Pela sua mão, rapidamente aprendi a deixar de ser menino e comecei a “ler” a arte e as manhas da caça. Se existem mestres em seguir pistas de animais, distinguindo pela peugada se o animal caminha tranquilo ou se o faz assustado, também os mesmos mestres percebem também pelos vestígios deixados (por mais que disfarcemos) vasculhando nas cinzas apagadas, nos detritos comestíveis deixados, neste caso observando se os restos já estão secos, ou, ainda húmidos de saliva, nunca perdendo o sentido da orientação do vento, mesmo que pareça não haver uma réstia de aragem.
O caçador negro em África é antes do mais um Nsongila Nzila o que mostra o caminho (no dizer dos kikongo) e que por norma não se descuida pisando as peugadas já lidas (não vá ter que as reler, buscando pormenores que lhe tivessem passado despercebidos), faz a sua leitura de lado, um ou dois passos atrás dos sinais a ler, utilizando, para tal, uma pequena haste. Aplica ancestrais conhecimentos como sejam o impregnar a roupa que leva vestida com o odor de um animal previamente escolhido, elimina assim o seu próprio odor. Com este saber, não interfere no ambiente como estranho, tudo se passa como se ele lá não estivesse. Ao Kasengo devo estes conhecimentos. Nunca o vi utilizar cães, atitude muito estranha se levarmos em linha de conta que o negro da África dos Matos adora cães. E tem razões para isso. Não há sanzala onde não se oiça pelo menos uma boa dúzia de cães. Nestas circunstâncias o cão frequentemente deixa de ser alimentado pelo seu dono, tem que se governar. E governam-se como podem: caçando.
Tudo isto o Kasengo sabia e não utilizava cães! Os animais têm os seus terrenos favoráveis e desfavoráveis, têm o seu retiro numa mata própria e nem todas as presas preferem os mesmos terrenos. Às vezes, no meio do capinzal (de mais ou menos metro e meio de altura) dizia-me para perscrutar, subindo ao cimo de qualquer pequena árvore. Bastava que se visse acima do capim um ou dois metros, que olhasse com muita atenção o capim e verificasse uma pequena ondulação. Isso seria sinal de que algo se movia. Mais tarde, de 1961 a 1963, apliquei estes conhecimentos que de muito me serviram...
Embora este artigo seja dedicado ao Kasengo, abro aqui um parêntesis para me lembrar de ensinamentos de outro mestre: o David (neste momento é uma autoridade governamental importante no distrito do Uíge) dizia-me ele que nenhum caçador deixa de querer tanto aos seus cães como a si mesmo. O caçador nunca se esquece que pode cair na sua própria armadilha. Jamais se esquece da psicologia da presa se for perigosa. Pode não estar morta, e, sem nenhum aviso, atacar de repente. Nestas circunstâncias o cão é dum valor inestimável. Rodeia com a maior precaução o sítio onde sabe que o animal está acoitado. Volta atrás dando sinal de perigo, levando a presa a mexer-se o que obriga o tronco armadilhado a dar sinal.
Quando o David era jovem e armava o seu laço, tendo escolhido o pau que serviria de tensor, fazia a cama onde o animal se debruçaria para cheirar o sinal. Aí despejava o conteúdo de uma garrafa que para o efeito trazia consigo (urina de cabra recolhida em época de cio). Sabia que o seu odor se propagava com grande intensidade atraindo os machos ao local. Era-lhe depois muito fácil verificar, à distância, se o animal tinha caído na armadilha. Bastava olhar para o sítio, onde estava o tronco escolhido para tensor, e ler os sinais. Quando caçavam em grupo eram escolhidos para ir à frente aqueles que conseguissem vislumbrar movimentos estranhos o mais longe possível. Eram chamados “Salu Ya Mubemba” o que traduzido à letra será “o trabalho da águia”. Muitos leitores ao passarem os olhos por estas linhas recordar-se-ão de momentos extraordinários...
A distância da povoação do Quibocolo ao sopé da Serra da Kanda, núcleo geo-histórico da UPA, andava pelos 15 quilómetros. Foi, provavelmente, da povoação Makanda que, internamente, saíram as ordens para o início das actividades da UPA, em Março de 1961. Lá casei e continuei a viver até que o ano de 1975 ditou o regresso. Em 1992 fiz uma breve visita a Angola, para rever velhos amigos e actualizar conhecimentos sobre diversos temas acerca dos Kikongo (aqueles que falam a língua kongo) do norte de Angola.
A vivência escolar (com meninos negros e mestiços, tanto pertencentes às elites urbanas como às tribais) e a posterior convivência de duas décadas com as populações da tribo Bazombo permitiram o aprofundamento do conhecimento do ambiente local, dos usos e costumes. A força das circunstâncias levou-me a aprender a falar, ler e escrever a língua Kikongo, conhecimento que me valeu o ângulo de visão e de opinião “fonte” para mais tarde intensificar e sistematizar os “Estudos Africanos”na especialização de estudos Políticos e Sociais.
Fui incorporado, para prestação de serviço militar no ano 1959, em Nova Lisboa, sendo colocado em Maquela do Zombo (fronteira norte de Angola). Desmobilizado em Dezembro de 1960 e reincorporado novamente em Abril de 1961, prestei serviço nas zonas mais conflituosas, até Janeiro de 1963.
A Maria Cândida, minha mulher e companheira desde a primeira hora da guerra colonial, sempre me ajudou a reflectir e ponderar sobre os assuntos mais delicados que ambos vivemos. Com grande frequência, e sempre que elaboro textos com a finalidade de serem publicados, recorro ao seu invulgar senso de crítica. Passamos muitas horas a recordar Angola... Tem toda a paciência do mundo para me “ver” deambular pelas recordações do passado e, não raras vezes, relendo os textos corrige alguma imprecisão. Este caso não fugiu à regra.
Maquela do Zombo é a capital do Concelho do Zombo, do antigo distrito do Uíge. Está situada no extremo Norte de Angola, junto à fronteira com a República Democrática do Congo. A região tem uma altitude média superior a 900 metros, com grandes manchas florestais que, na direcção Damba-Maquela do Zombo, apresentam, de quando em vez, frondosas matas. Através de densas neblinas matinais ficamos impressionados com esse mar encapelado de nuvens a perder-se de vista. De repente abre-se a cortina e pasmamos pelo aspecto sublime e grandioso da vegetação, comprimida em vales profundos, onde se encontram grandes árvores e, no seu cume, volta a ver-se o denso nevoeiro. A água é frequente, abundante e de óptima qualidade, correndo tanto em leito de rocha como em areia limpa. O clima é altamente benigno. Não foi por acaso que lá se instalou, desde 1899, a Missão Baptista do Quibocolo. Perto também, o Governo Português criou a povoação comercial do Quibocolo. Fica a 1 100 metros de altitude, os seus terrenos são riquíssimos, as colheitas de milho, feijão, amendoim, leguminosas etc., são de especial qualidade. A língua falada é o Kikongo.
Entre os Bakongo, povo de origem Bantu (designação aplicada a um grande grupo etnolinguístico negro da África Meridional, constituído por cerca de 150 milhões de pessoas e que vivem ao sul do Saará, com excepção de pigmeus, bosquímanos e hotentotes). O termo bantu é demasiadamente conhecido como significando “homens”, generalização que se refere a povo, população, gente. O singular da palavra é Muntu, de onde se vai buscar o radical Ntu, que é universalmente aplicado pelos cerca de trezentos dialectos espalhados pela África Negra. O que se não refere por norma é que 1º Muntu deve ser traduzido por Pessoa Human; Ba, por sua vez, tal como foi mencionado, como “povo”, e Ntu finalmente, por cabeça, o que sugere Bantu: povo da frente, e, seja-me permitida a similitude: Bantu “povo escolhido”.

A Natureza entra toda em vibração. “O semelhante age sobre o semelhante”, o ser humano pode reforçar directamente outro ser humano, porque a força vital, concedida ao homem, pode influenciar directamente no ser de forças inferiores. O dinamismo espiritual do povo Bakongo deverá ser analisado em função do seu universo mental. Nesses espaços, e não só, todos os assuntos que se prendem com o seu cosmos começam na sua própria casa... O seu conceito familiar matricêntrico, pauta-se por normas diferentes das do Ocidente. Nestas populações de economia agrícola, as relações de parentesco têm como base os irmãos da mãe, esta e os seus filhos. Os filhos dum casal têm como “mãe grande” a irmã da mãe, se a mãe tiver uma irmã, por seu lado aquela que no Ocidente, é considerada a mãe, lá não é senão a “mãe pequena”.
Isto não diminui o amor da mãe biológica, embora, por vezes, superficialmente observadas pareça não dedicarem o mesmo afecto aos filhos que as mães brancas. Os sinais exteriores de meiguice e mesmo as lágrimas que estas vertem quando vêem os filhos maltratados, doentes, ou mortos parecem indicar um menor amor maternal. Não é assim. Em caso de perigo eminente, a mãe preta põe a salvo as suas crias. Se têm pouca comida reserva-a só para eles e fá-lo com alegria e satisfação. Lá no meio do mato qual é a preta que deixa, por dias ou por horas, os seus filhos, nos primeiros três anos, entregues ao cuidado de estranhos? Muito poucas são as ocasiões.
O pai grande é o tio, irmão da mãe. Tudo isto se considera por via uterina. O marido é sempre considerado o “pai pequeno”, nunca tendo os mesmos direitos que a mãe exerce sobre os filhos. De igual modo se processa o direito sucessório. Apesar do que muito vagamente se deixa dito, sugere-se a maior cautela com as generalizações dos usos e costumes dos Bakongo. Existe sempre a necessidade de perscrutar todos os meandros da sua política familiar.
Os Bantu tomam a sua cultura como parte da religião. De uma forma geral, os Negro-Africanos consideram a religião como elemento primordial da sua cultura. A experiência religiosa Bantu é um lenho demasiado bravo para que se deixe penetrar facilmente por enxertos, venham eles de onde vierem. O mesmo acontece com outras milenares religiões.
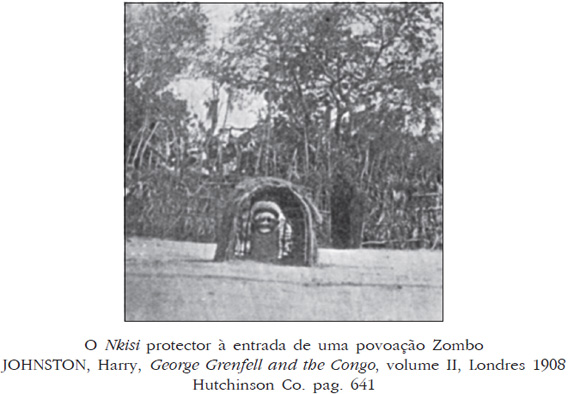
Para o Bantu e para a sua comunidade, viver é participar num drama religioso, e este ponto é fulcral, porque significa que vive no seio de um universo religioso. O padre Tchouanga explica que “Todos os actos da vida são expressões teológicas”. A característica essencial da religião dos Negros reside nas ligações da religião com a vida quotidiana. Daí que seja pertinente a introdução do Conceito de magia. Não é nada fácil a tarefa de encontrar um fio condutor que leve os leitores a entender este tipo de discurso e, assim sendo, sugiro a seguinte ideia de magia. Significa tanto criação como destruição. Criação duma primeira forma e principalmente a criação da forma suprema que encerra em si todas as outras, para posteriormente as libertar. A magia é exigida pela interacção vital. Brota como uma necessidade básica. É como que uma solução, conquanto resulte ambivalente visto que explica, propaga e remedeia o mal gerando também o medo.
De Caçador a Guerrilheiro
O meu amigo “Kasengo”
Neste caso muito particular o nome do Kasengo (estou hoje convencido tratar-se de um nome de guerra) assumia particular importância. Explicava a natureza própria do ser individual, era um distintivo, encerrava alguma coisa de essência pessoal. Ka-se-ngo: Ka (espírito) Se (pai) Ngo (força vital) pressupunha que o pai e, em especial, o avô, grandes caçadores já falecidos, estariam a protegê-lo permanentemente.
O meu amigo tinha uma bela apresentação, estatura acima da média “Muzombo”, solidamente constituído, fisionomia insinuante, com um invulgar espírito de vivacidade, vigoroso, orgulhoso e altivo. Como caçador tinha desprezo pelo trabalho, em especial pela agricultura (dizia que lavrar a terra era trabalho de mulher). Hoje acrescentaria às suas características a irrequietude derivada da altivez propensa à rebelião. Digamos sem eufemismos, o tipo de homem que se manifestaria como guerrilheiro pronto a lutar pelo seu chão.
Todas estas observações terão a sua razão de ser e, se tomarmos como referência o ano de 1960, facilmente percebemos que à data existiriam vivos muitos revoltosos das guerras dos Dembos. A propósito, seja-me permitido transcrever o Major David Magno em “Guerras Angolanas”:
“...Em um de Março de 1917 (a quarenta e três anos de distância de 1960) o Chefe da Missão dos Dembos, Padre António Miranda de Magalhães, envia as seguintes notícias para a Metrópole. Os Dembos continuam na mesma. O Cavunga Capacaça já tem vindo pernoitar à Missão. O Caculo Caenda (considerado a maior autoridade dos Dembos), porém, foi ainda consultar o Rei do Congo, sobre se deve apresentar ou não, julgando-se contudo que o seu regresso ao nosso convívio esteja para breve, visto os seus sobetas já frequentarem o Forte. Os diversos capitães mores têm tido cada um o seu plano administrativo mais ou menos pacífico, mas ainda nenhum fez pela região coisa que se visse...
O senhor Alto Comissário da República em Angola, manifestou-me há dias o desejo de convidar David Magno, para vir pôr em prática o seu plano que, pelos vistos, parece ser o único sensato.
Com este oficial podia eu fazer o sacrifício da minha saúde, para avançar com a missão dos Dembos para Caculo Caenda, para onde deixou de avançar, em 1913, por motivo de sublevação, ficando aqui detida em Camabela. Em 24 de Abril, por sua vez, o Coronel Genipro de Almeida de Eça, chefe do Estado Maior, comunica-nos:
Como isso lhe dá prazer, informo-o de que não descuramos a ocupação dos Dembos, cuja história da região vamos lendo com interesse. Andamos fazendo a ocupação lentamente, mas quanto possível com segurança. Ultimamente foram montados postos junto das Banzas do Calandula e do Caculo Cabaça. Atacando de Encoge, que já está reocupado, para Sul, espero que em breve cavalguemos o rio Dande, para cortar as comunicações do Nambuangongo para os Dembos do Sul. Ante ontem mandei uma nova companhia Indígena para Leste de Caculo Cabaça, a qual dali avançará para Oeste, ligando com o Caculo Caenda...”
O autor é contemporâneo de velhos Sobas (autoridades tradicionais), testemunhos vivenciais do tempo em que os portugueses e outros estrangeiros, chefes de caravanas, ao transitarem pelas suas terras, pagavam impostos pelas mercadorias que transportavam, sujeitos a pagar o caminho. Só os Sobas Grandes, chefes de Banza ditas capitais distritais da tribo, tinham suficiente capacidade económica para exercer a autoridade política nesse tipo de pressão. Eram os “donos dos caminhos”. Entre os grandes dignitários tribais, a figura do caçador de caça grossa merecia destaque especial. Em tempos de conflito era o chefe de guerra por excelência, fazia parte inclusivamente de uma sociedade secreta: os Bango, conhecidos das autoridades coloniais por “homens leopardo”, uma espécie de franco maçonaria...

De todos estes factos e de muitos mais tinham conhecimento o soba Nanga, o soba Kiluango, o Soba de Banza Pete quando, em 1961, orientaram as suas populações para os ataques na zona da vila da Damba, à povoação do 31 de Janeiro e mandaram colocar as valas que dificultaram o avanço das tropas portuguesas.
Qualquer deles era iniciado nos poderes que lhes tinham sido conferidos pelos seus antepassados, em especial o Nwa Maza. Traduz-se por: beber água, no sentido de “purificação da palavra”, ou melhor, invocação dos espíritos, fonte inspiradora, protectora e premonitória do sentimento Bakongo. As aldeias dos seus antepassados são denominadas Maza. Ao invocar os espíritos esperam a sua protecção para as suas necessidades derivadas de conflitos internos ou externos.
Com esta achega muitos leitores compreenderão melhor a insistente invocação do termo Maza proferido pelas hostes da UPA, em 1961. De facto, ao invocarem os seus notáveis antepassados, como escudo invisível, apelavam para que as balas dos brancos os não matassem e, se por acaso tal acontecesse, a ressurreição estava prometida e próxima...
A actividade de caçador de caça grossa impregnava aspectos fundamentais da cultura Kongo. Ainda em 1992 encontrei sobrevivências culturais, exaltando o espírito Kongo (Caçador), em canções e complexas práticas mágico venatórias a que tive o privilégio de assistir. Não poucos foram os caçadores que deram origem a grandes aglomerados populacionais. Para se tornar caçador, ao homem era exigida uma excepcional resistência física, perícia, audácia, obstinação e sangue frio. Por isso os pais caçadores tinham enorme orgulho quando iniciavam os seus filhos varões na caça aos Txitxis (pequenos roedores que habitam as margens dos rios). Nem todos os caçadores tinham o mesmo estatuto. Alguns eram denominados Capita, termo que tem origem no personagem “capitão de feitoria”. Quando atingiam esse posto eram considerados os mais destros. Embora não formassem uma classe distinta, orgulhavam-se do seu estatuto social, associado a poderes sobrenaturais que fomentavam a adivinhação e magia protectora na caça. Os amuletos, sacrifícios e preces faziam parte dos seus rituais onde se encontrava integrada a sua arma de caça. Não admira que fossem alvo preferido da cobiça das mais proeminentes mulheres. Tudo faziam ao insinuarem-se, durante os batuques, com a finalidade de chamar a atenção do “grande caçador”, esperando com isso conseguir os seus favores sexuais e, consequentemente, engravidar de tão mítica personagem.
O Kasengo não teria mais de vinte e cinco anos. Na caça usava uma espingarda caçadeira de origem espanhola de dois canos, dos quais só um funcionava, e assim abatia desde pacaças (búfalos) a galinholas. Andava sempre de calções, mesmo em noites frias. Sabia que o sussurrar do tecido entre as pernas era facilmente audível pelos animais. Era aquele tipo de pessoa que maravilhava qualquer jovem da minha idade.
A primeira coisa que tive de aprender foi andar a corta mato às escuras. Calçava então sapatilhas, para que os dedos fossem mais sensíveis ao chão irregular. Lia melhor o chão com os pés. Com os contactos diários, fui aperfeiçoando os meus conhecimentos de Kikongo, tanto na forma falada como na escrita, tal como os laços tecidos pelas relações de proximidade que me permitiram os fundamentos para aprofundar conhecimentos que, de outra forma, me estariam vedados. Aprendi, por exemplo, ao passarmos pela árvore Mulemba, como veneranda representante matricêntrica do povo, a reconhecer nela a árvore da vida, onde, debaixo das mais velhas e frondosas, os sobas se reúnem ainda hoje para decidir das suas questões familiares. As famílias Bakongo têm as suas conversas ao serão, os célebres Mambu, no dizer do Norte de Angola. É fundamental Saber Ouvir os “Mambu”, válvula de escape tipicamente africana que é a palavra tornada conversa. Faz parte da introdução à cultura Bakongo e de todos os outros povos Bantu. Trata-se de discussão debate e negócio. Acontecimentos, decisões e preocupações comunitárias dão azo a longas conversas e acesas discussões. A conversa diminui o conflito e a discussão dilui a violência.

Com o Kasengo aprendi o significado correcto de nkisi: “a Voz da Terra, ou melhor, a voz dos antepassados. E como os nkisi passavam a ser Minkisis. De uma forma coloquial e rápida, será o mesmo que dizer: determinada força vivente de um antepassado possui uma pessoa e esta, uma vez possuída, passa a ser o “Munkisi”, o intérprete pronto para invocar os antepassados Maza.
Entre os Bakongo, como aliás em toda a África negra, existem peritos que se dedicam a estas actividades: o adivinho, o curandeiro e o feiticeiro. O Kasengo não sendo nem um curandeiro nem adivinho, e muito menos feiticeiro, conhecia bem as praticas que apelam ao sobrenatural. A partir de 1960, deixei de o ver. Soube, no princípio de 1961, que tinha ido para o lado de lá da fronteira. Encontrei-o mais tarde, em 1967, no Mercado fronteiriço de Pangala. Por vezes o único estrangeiro e branco era eu. Aí conversámos sobre muitos Mambu. Só hoje dou o devido valor ao muito que me ensinou sobre o fenómeno Kindoki. Só hoje sou capaz de compreender o grito: Maza, Maza e a razão porque fomos separados pela vida.
O termo vernáculo Kindoki não é reproduzido com fidelidade pelo nosso termo feitiçaria. De facto o termo Kindoki só diz respeito a feitiçaria maléfica ilícita. Geralmente o seu agente é exterior à linhagem da povoação onde o fenómeno se manifesta. O Kindoki sugere noite, sabedoria profunda o que confere àquele que o possui um enorme poder sobre os seres e as coisas. Esse poder permite modificar e desviar o curso normal do universo Bakongo produzindo a maior angústia, a doença e perdição...
O mito fundador do kindoki conta que ele, na origem, era bom, ou melhor, era uma propriedade dos chefes de linhagem. Infelizmente um tratado deu este poder aos mais novos, que o utilizaram para fins ilícitos. Isto faz pensar noutras similitudes em tempos recentes e noutros continentes.

A possessão demoníaca tem lugar próprio na cultura Kongo. Hoje a profunda crise económica das famílias faz crescer em flecha um florescente comércio da tradicional superstição ambiente, o Kindoki. As famílias vivem uma tal pressão de necessidades básicas (às vezes miséria) que não encontram outra explicação para a sua precária situação. Acreditam estar debaixo da influência de forças do maligno que encarnam nos seus familiares, levando-os a serem os agentes de todos os males invasores da família. Uma mulher “esclarecida” e interessada afirmou-me com uma simplicidade desconcertante: temos duas personalidades: uma de Deus e outra pérfida que é do Diabo. Se não amar a Deus acabo feiticeira. Depois de quarenta anos de guerra fratricida o Norte de Angola está potencialmente exaurido do seu melhor capital populacional. Pessoas vítimas de conflitos existem em todo o mundo, mas culpados de feitiçarias são um fenómeno especificamente Kongolês. Abandonados, votados ao ostracismo, não têm nenhuma expectativa de vida a viver. Deambulam pelas cidades vivendo do roubo e da prostituição. As mulheres e mesmo crianças, absolutamente abandonadas, vendem o corpo para sobreviver. Não têm como se defender e, extremamente vulneráveis, estão no términus da vida.
Resumindo, estas práticas de ontem e de hoje, embora numa escala muito menor não nos são estranhas. Todos os dias, ao percorrermos com o olhar os jornais diários nos damos conta deste fenómeno. Os homens e mulheres, que dele vivem, não são estúpidos. São mesmo muito inteligentes e hábeis no seu trabalho. Há os que enganam intencionalmente. Outros, só para conseguirem mais lucro e publicidade, implicam-se em práticas duvidosas.
Foi o Kasengo, volto a repetir, quem me abriu as portas de tão fascinante assunto, embora mais tarde tivesse quem me descobrisse o fio da meada... O fenómeno kindoki ainda vai durar muitas gerações nesta região africana. Apesar de todos os aspectos positivos mencionados da cultura Kongo, esta influência maligna é um enorme obstáculo à saúde mental e física das suas populações. A verdade é que a coacção mágica do Kindoki faz com que sofram e morram todos os anos muitos milhares de africanos. África tem necessidade urgente de se ir libertando deste tipo de fenómeno.
Muito do que aprendi com o Kasengo serve-me hoje como motivo de reflexão. Não fora muitos desses avisos, estaria hoje profundamente afectado, como muitos milhares de Angolanos e Portugueses estão. Por exemplo, os meus sentimentos patrióticos estariam muito abalados. Aos 65 anos de idade estou convicto de que aprendi a apaziguar os meus fantasmas e embora cá longe, existe ainda aquele sentimento de ternura que me leva a pensar o que Alexandre Herculano escreveu acerca da Pátria em Eurico o Presbítero:
“... Sei por quais meios Roderico subiu ao Trono, que não obteria pela eleição dos Godos: Mas não é a sua coroa que os filhos das Espanhas têm hoje que defender; é a liberdade da pátria; é à nossa crença; é ao cemitério em que jazem os ossos dos nossos pais; é o templo e a Cruz, o lar doméstico, os filhos e as mulheres, os campos que nos sustentam e as árvores que nós plantamos.” (Pág. 72 edição Livraria Bertrand 1979.)
* Mestre em Ciências Sociais e Políticas, Antropologia Cultural e Estudos Africanos pelo ISCSP/UTL.