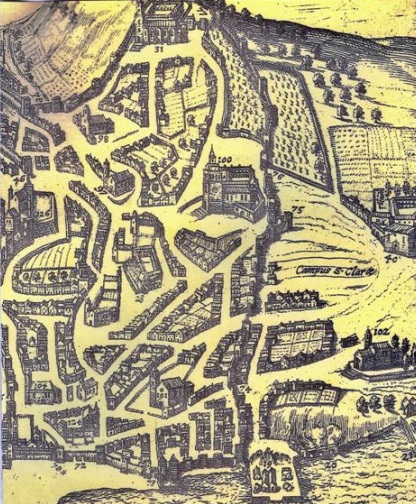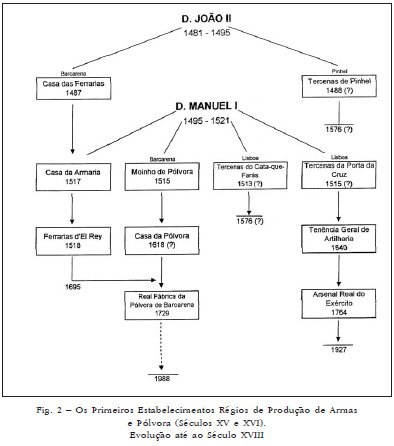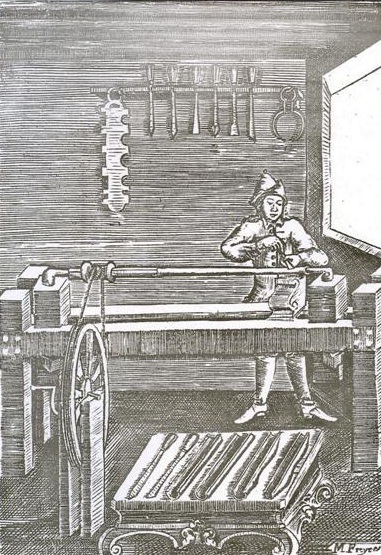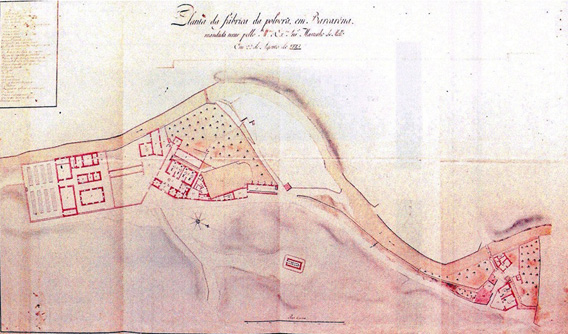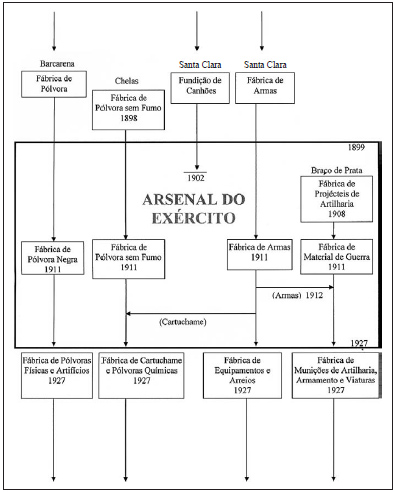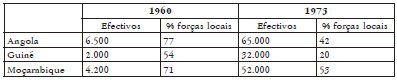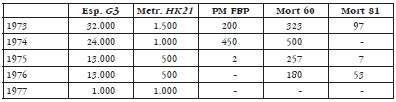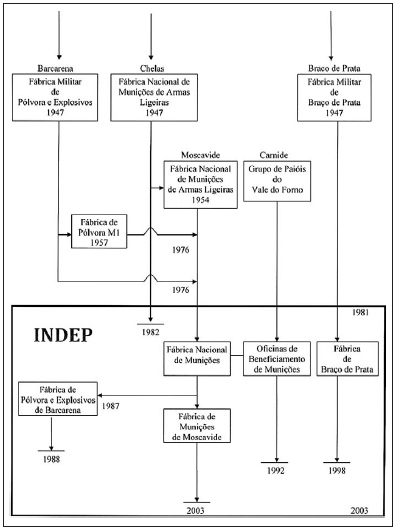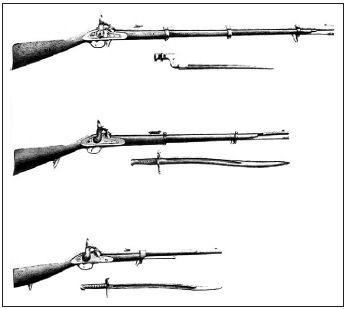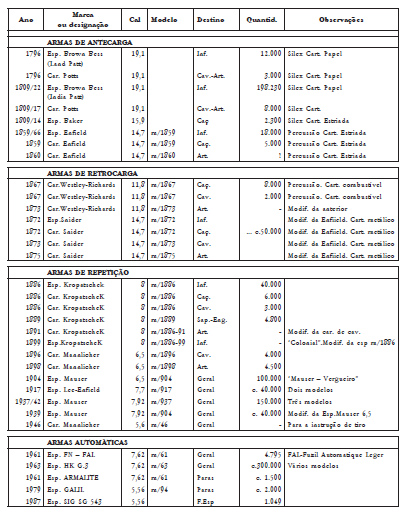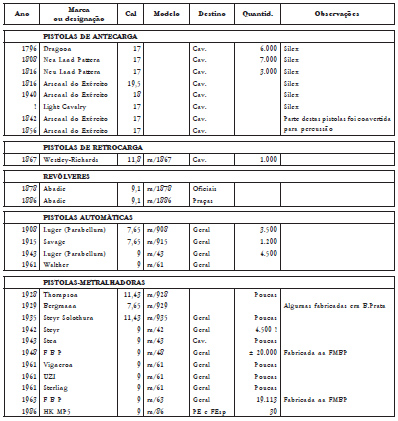A Ferro e Fogo
Portugal nasceu e consolidou-se pela força de vontade dos primeiros reis e pelos braços armados dos seus homens. Lanças, piques, espadas, adagas, fundas, maças, arcos, bestas, machados, paus ferrados e até instrumentos agrícolas tiveram um papel importante, senão fundamental, na conquista e defesa do território. Foi “um parto traumático, feito a ferros e manu militari”[1].
Estas primeiras armas portáteis eram simples e fáceis de fabricar em pequenas oficinas e unidades artesanais. Mas, depois que, pela primeira vez se empregaram armas de fogo em Portugal na defesa de Lisboa contra a esquadra castelhana em 1381
[2], uma nova era se começou a abrir.
As primitivas armas de fogo - canhões de mão, trons e bombardas - e a pólvora começaram por vir do estrangeiro e depois procurou fabricar-se no país e da “própria lavra”. Mas não foi fácil nem rápida esta transição: a técnica de trabalho do ferro estava nos seus inícios (principalmente a construção de canos), o fabrico da pólvora era complexo e perigoso, obrigando à importação de enxofre e salitre, e as armas eram pesadas, lentas de pôr em acção e perigosas.
Uma lei de D. João I, de 1410, isentava de direitos as armas e os arneses que viessem do estrangeiro. A medida destinava-se à defesa do Reino e “pollos nossos naturaes poderem melhor aver armas”, pelo que a isenção se aplicava tanto aos comerciantes como aos compradores
[3]. E por privilégio do mesmo rei, de 1416, foi concedido a João Peres e Afonso Peres “o não pagamento de pedidos nem fintas, por serem armeiros mandados vir de Castela”. Este privilégio foi confirmado por D. Duarte em 1435 e por D. Afonso V em 1440
[4]. No que parece ser a primeira menção ao emprego de armas portáteis, refere-se que na expedição do Infante D. Henrique a Tanger (1437) “ía gente armada com arcabuz de morrão”
[5].
Quanto ao fabrico de pólvora conhecem-se duas cartas de D. Afonso V, de 1442 e 1443, em que o rei faz mercê de tenças anuais a Afonso Vasques, nomeado no ano seguinte “mestre-mor de fazer o salitre e a pólvora”.
E noutra carta de 1470, também de D. Afonso V, aos procuradores de mesteres da cidade de Lisboa, proíbe-se a recolha de pólvora em casas e armazéns, devendo ser guardada na torre da Pólvora, cuja localização exacta se desconhece
[6].
Embora não houvesse ainda uma indústria régia de armas e pólvora, as oficinas privadas devem ter atingido algum desenvolvimento, como se deduz da proibição citada, destinada a evitar que explosões acidentais provocassem mortes e destruições em zonas urbanas.
Ferrarias, Tercenas e Armarias
“Referências pouco precisas apontam para a preexistência de uma primeira ‘ferraria’ concedida por D. Afonso V á família Bragança e situada no termo de Lisboa, localização que pode associar-se às margens da Ribeira de Barcarena. É no entanto, com D. João II (1481-1495) que formalmente se terá tomado a iniciativa de construir a ‘casa das Ferrarias’ na ribeira de Barcarena.”[7] De facto, uma carta de privilégio de 1487 dá a saber que o armeiro Fernão Rodrigues e dois outros indivíduos trabalham “na casa das ferrarias que mandamos fazer na ribeira de barquerenas... que he cousa de muito nosso serviço e bem do Regno”. Três anos depois, outra carta reconhece que o contrato inicial não tinha sido cumprido devido a cheias na ribeira, despesas com a contratação e vinda dos melhores armeiros biscainhos e com a instalação de maquinaria diversa - forjas, bigornas, malhos, fráguas (forjas), “aparelho de madeiras” - pelo que não se exigem compensações.
“A presença das mencionadas fráguas impõe assim que se considere a possibilidade de, nas ferrarias de Barcarena e pelo menos no período joanino se ter realizado o tratamento do minério em bruto, para subsequente extracção do ferro e transformação do metal em armas de diversos tipos.”
[8]
Estudos arqueológicos e bibliográficos realizados em 2006 demonstram a localização das ferrarias na margem esquerda da ribeira, a cerca de 5 km da foz em Caxias. “Concretizou-se paulatinamente um dos objectivos da investigação: a demonstração da sua localização... no espaço actualmente designado Fábrica de Cima da Fábrica da Pólvora de Barcarena.”
[9]
Talvez no ano seguinte (1488) D. João II mandou estabelecer as Tercenas
[10] de Pinhel, com oficinas e armazéns de armas. Pouco se sabe sobre estas Tercenas; no Museu de Pinhel existe um bacinete (capacete) de ferro e, na sua dependência há duas bombardas de ferro forjado de 34cm de calibre, 2,88m de comprimento e cerca de 1.500 kg de peso, uma delas parcialmente desmontada. Material de artilharia desta dimensão, numa zona de fronteira distante da capital mas com jazidas de minérios de ferro, sugere que tenha sido produzido nas Tercenas. É esta a opinião dum erudito oficial, estudioso da artilharia em Portugal.
[11]
Como o uso das armas de fogo portáteis se começasse a desenvolver em Portugal, foi criado o cargo de Anadel-Mor
[12] dos Espingardeiros
[13], como já havia para outras categorias de homens de armas.
Garcia de Resende, na sua Crónica de D. João II, refere um episódio curioso sucedido em 1486, durante o cerco de Málaga pelos Reis Católicos, Fernando e Isabel. “Estando a cidade quase toda tomada, faleceu (faltou) no arraial a pólvora”, pelo que a mandaram pedir ao Rei de Portugal D. João II que estava em Santarém. Logo o Príncipe Perfeito mandou aparelhar uma grande caravela, no qual enviou “uma grande soma de pólvora e salitre, tudo de graça” com o qual socorro El Rey e a Rainha e todo o arraial receberam mui grande prazer e contentamento e o estimaram tanto como se tomaram a mesma cidade e daí a poucos dias mandaram dizer a El Rey (D. João II) a quem ficavam muita honra e muita mercê”.
Diz Sousa Viterbo, um estudioso da armaria e da pólvora em Portugal: “Este facto prova que o fabrico da pólvora era muito moroso naquela época e que Portugal, sob este ponto de vista, ou era mais providente ou estava mais adiantado que a Espanha.”
[14]
D. Manuel I (1495-1521) continuou a acção política e estratégica do seu cunhado na descoberta e ocupação de posições Além-Mar. Para armar as praças em Portugal e no Ultramar, para artilhar os navios e prover armas brancas e de fogo para os homens de guerra, era necessário um esforço de fabrico que as oficinas privadas, as Ferrarias de Barcarena e as Tercenas de Pinhel não podiam satisfazer.
Assim, para tentar resolver este problema, em Outubro de 1517 - trinta anos depois do inicio da construção da “casa das ferrarias” - D. Manuel ordenou ao Almoxarife das obras de Lisboa que desse de empreitada obras “na casa darmaria de barquerena” como agora lhe chamava. No ano seguinte um medidor de obras referia-se às “ferrarias d’el Rey” num relato sobre os trabalhos aí feitos. Foi este o nome por que passou a ser conhecido o estabelecimento, certamente para o diferenciar das pequenas oficinas privadas.
Desde a sua fundação, as ferrarias aproveitaram o desenvolvimento tecnológico das indústrias de ferro da Biscaia no País Basco. Muitos biscaínhos, mestres de ferro, espingardeiros ou coronheiros, trabalharam por contrato em Barcarena, por vezes em lugares de direcção. Eles traziam o conhecimento e as ferramentas dando origem ao que se chamaria hoje “transferência de tecnologia”.
Porquê esta ligação? Antes de tudo, a Biscaia era muito rica em minério de ferro de bom teor e à superfície de solo, permitindo a sua fácil extracção; tinha também bons recursos florestais e hídricos (bom regime pluviológico); tinha dois bons portos para exportação: Bilbau e S. Sebastião; e disponha dum regime jurídico-fiscal muito favorável para os produtores. Compreende-se assim o desenvolvimento que atingiu, com centenas de oficinas de redução do minério e de fabrico de armas e ferramentas. Além disso, para nós estava mais perto que outros centros industriais como a Flandres ou a Itália... e não havia grandes problemas com a língua.
Embora haja pouca informação sobre a produção das Ferrarias é provável que, de inicio, estivesse centrada nas armas brancas (ferros de lanças e de piques, adagas, espadas, bestas e virotões), nas armas defensivas ou “corpos de armas” (peitorais ou “peitos fortes”, espaldares e bacinetes) e, depois, nas armas de fogo da época (arcabuzes e mosquetes), além de pregos e peças de ferro necessárias para as embarcações.
D. Manuel mandou também construir, em 1515, na proximidade da Casa da Armaria, uma oficina com moinho de pilões para o fabrico de pólvora
[15]. Ao mesmo tempo mandou prover à obtenção dos três ingredientes necessários para o fabrico: carvão vegetal, salitre e enxofre. A pólvora, bem como as armas, era um produto essencial para a defesa do território e para a projecção de forças para o ultramar, o que explica o interesse do Rei neste campo.
Barcarena foi uma escolha lógica para o fabrico de armas e principalmente, de pólvora. Dispunha de água corrente para accionamento dos engenhos (pelo menos na maior parte do ano), tinha recursos florestais para a produção de carvão para os fornos e forjas e estava longe de zonas habitadas. As ferrarias mantiveram-se cerca de 200 anos e a Casa da Pólvora (depois Real Fábrica de Pólvora de Barcarena, além de outras designações) quase 500. Num quadro nacional relativamente modesto, foram instalações importantes para o fim a que se destinavam. Tiveram altos e baixos ao sabor da situação do país, das necessidades de material e até dos desejos e capacidades dos homens. Todavia, a memória histórica foi mantida
[16].
D. Manuel determinou também a construção de oficinas e fundições em dois locais de Lisboa:
- As Tercenas do Cata-Que-Farás (na zona a norte do actual Cais do Sodré) para fundição e fabrico de artilharia. Uma carta de 1513, do Mestre Estevão Pais destas Tercenas para o Rei, refere experiências de tiro feitas daí para a Pontal de Cacilhas com berços e camelos, artilharia de ferro forjado, de pequeno calibre e de retrocarga, que tanta importância teve no estabelecimento do nosso poder marítimo. Em 1578 explodiu nesta zona um grande carregamento de pólvora (25 quintais - cerca de 1.300 kg) que tinha sido importada da Flandres. É provável que as Tercenas tenham sido destruídas por esta explosão, pois não se conhecem referências posteriores à sua actividade.
- As Tercenas da Porta da Cruz
[17] (na zona onde é actualmente o Estado-Maior do Exército e o Museu Militar), obra que se iniciou provavelmente em 1515, com fundição de artilharia, oficinas de espingardaria e fabrico e armazenamento de pólvora. Aqui não havia água corrente, pelo que os moinhos de pólvora teriam de ser movidos “a sangue”, por bois ou muares. Estas Tercenas viriam a dar origem à Tenência-Geral de Artilharia (1640) e, depois, ao Arsenal Real do Exército (1764).
Determinou também o Rei que houvesse oficinas de armeiros para o fabrico e consertos nas principais povoações do Reino e Ultramar, incluindo os Açores, Madeira, Cabo Verde, Ceuta, Brasil, Goa e Chaul. E para superintender sobre estas oficinas, provê-las de pessoal e “vigiar pelos seus privilégios”, foi criado o cargo de Armador-Mor, que teve regimento em 1507.
No reinado de D. João III (1521-1557) foram concluídas e ampliadas as Tercenas da Porta da Cruz e é possível que a coroa tenha tomado conta de fundições privadas, reunindo as do Postigo do Arcebispo e de S. Engrácia numa só, que se passou a designar por Fundição da Coroa de Portugal (viria depois a ser a Fundição de Cima).
Uma carta de quitação de D. João III aos herdeiros de João Rodrigues que tinha sido almoxarife da Casa da Pólvora de 1524 a 1531 dá ideia das quantidades recebidas durante esses 7 anos: “... a pólvora que ele recebeu dos oficiais que a fabricavam montou a 3 023 quintais e 12 arráteis da de bombarda e 32 quintais, 2 arrobas e 29 arráteis da de espingardas”
[18]. Como cada quintal correspondia a 4 arrobas e estas a 14,7kg, conclui-se que a Casa da Pólvora recebia cerca de 25 toneladas por ano, uma quantia muito razoável para a época. Verificou-se também que se fazia distinção entre pólvora para artilharia e para espingarda, esta mais fina.
Quanto ao fabrico de armas de fogo militares, as Tercenas e as Ferrarias não conseguiam ainda produzir em quantidade para satisfazer as necessidades. Não faltavam oficinas privadas de armeiros em Portugal, mas apenas faziam consertos ou produziam pequenas quantidades de espingardas.
Fig. 1 - A Zona das Tercenas da Porta da Cruz no Século XVI.
Esta gravura é parte do “Atlas Urbium Proeciarum Mundi Theatrum Quintu”
de Giorgio Braunio Aggripinato, editor alemão de Colónia, datado de 1593.
Representa uma vista panorâmica esquemática e algo fantasiosa da zona oriental
de Lisboa. Seguindo a Cerca Fernandina, de Norte para Sul, encontra-se
a Porta da Cruz (74) e depois o Cais do Carvão (19) e os Fornos da Cal (20).
A Porta da Cruz situava-se no cimo da actual Rua do Museu de Artilharia.
Embora as Tercenas tenham começado a ser construidas possivelmente em 1515,
não se nota qualquer edifício de porte no local.
Origem: A Cerca Fernandina de Lisboa, A. Vieira da Silva, Lisboa, 1987
“A armaria deixou marcas na vida militar, económica e social de Quinhentos, sendo muitas as terras portuguesas que tiveram oficinas de espadas, arcabuzes e espingardas, não apenas para a feitura, mas também para “
alimpar e guarnecer” armas brancas... Compreende-se que tenha havido armeiros em Ceuta, Alcácer Ceguer, Azamor, Safim e Tanger; que se abrissem tendas no Funchal, Cabo Verde, Cochim e Goa; e que D. Manuel tivesse nomeado armeiros para muitas povoações da raia.”
[19]
“É expressivo o caso de Tavira onde chegou a haver 10 armeiros com variadas especializações: oficiais de couraceiro, fabricantes de lanças, reparadores de arcabuzes, o que supõe uma indústria permanente, em ligação com as praças do Norte de África. Pode mencionar-se a existência de armeiros em Chaves, Moncorvo, Miranda do Douro, Viana da Foz do Lima, Aveiro, Vila Boa (termo de Guimarães), Portalegre, Beja, Campo Maior, Lagos, Ponte de Lima e outros mais. Os maiores centros de armaria foram, como é evidente, Lisboa, Évora, Porto, Santarém, Barcarena, Elvas e Tavira”.
[20] Apesar desta proliferação, ainda em 1549 D. João III teve de mandar encomendar 3.000 arcabuzes a armeiros da Boémia.
No reinado de D. Sebastião (1557-1578), incluindo o período da regência por menoridade do Rei, tentou generalizar-se o serviço militar aos homens válidos. Pelo Regimento das Ordenanças (1569) todos eram obrigados a servir a pé ou a cavalo, devendo estar armados; os que tivessem 50.000 réis de “fazenda” tinha de ter arcabuz ou espingarda “aparelhada” (em condições de funcionar). O Regimento dos Capitães-Mores (1570) referia o armamento da época: arcabuz, espingarda, besta, lança e pique. As espingardas de fechos de sílex (ou de pederneira, como se chamaram em Portugal) começavam a aparecer, mas a confiança nelas era tão pequena que por provisão de 1574, se determinou que quem tivesse arcabuz ou espingarda de pederneira era obrigado a ter serpe ou morrão, para garantia do funcionamento da ar-
ma.
A pretensa generalização do serviço militar obrigava à existência de armas de fogo em quantidade. Em 1571, o legado do Papa visitou os armazéns da Ribeira, junto ao Paço Real. “Ficou espantado com o que viu nas três salas que compunham a armaria, as quais estavam cheias de cassoletes (meias-armaduras) para 50.000 homens, lanças para igual número, morriões, arcabuzes, etc., que dariam para 80.000 homens, além de 30.000 armaduras para cavalaria”
[21]. Há aqui um enorme exagero: três anos depois o Rei determinou aos mercadores que comerciavam com a Flandres, Alemanha ou Biscaia, que tivessem “aquela quantidade de armas... para dali se poderem prover as pessoas... porque no presente não há no Reino a quantidade de armas que é necessária”.
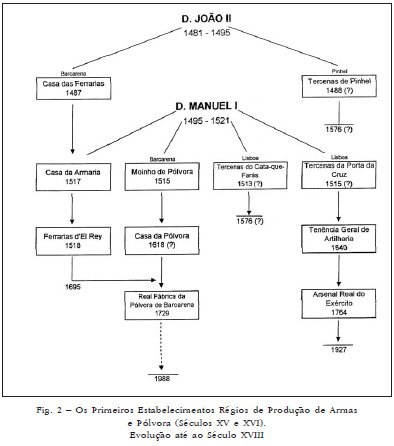
Certamente que muitas armas estavam a bordo dos navios e nas guarnições ultramarinas. Não faltavam expedições e campanhas no Além-Mar: na Índia as rebeliões e combates eram constantes, para Angola foi mandado Paulo Dias de Novais com uma expedição, no Brasil lutava-se contra os franceses, em Moçambique havia problemas na Zambézia e no Norte de África faziam-se incursões próprias ou em auxílio de Filipe II. Era uma dispersão de objectivos e meios que os nossos limitados recursos humanos e materiais dificilmente suportavam.
Antes da desastrosa expedição ao Norte de África de 1578, o Rei mandou Nuno Álvares Pereira à Flandres e à Alemanha para recrutar estrangeiros e para comprar 3.000 mosquetes, 4.000 arcabuzes, 1.200 morriões e 23 quintais de pólvora. Mesmo assim, não conseguiu reunir mais que cerca de 20.000 homens, portugueses e estrangeiros, que o acompanharam ate à sua morte em Alcácer-Quibir.
O Domínio Filipino
Os 60 anos de domínio espanhol (1580-1640) foram desastrosos para Portugal e para os territórios ultramarinos: os inimigos da Espanha passaram a ser inimigos de Portugal. Os corsários ingleses passaram a atacar as nossas costas e os navios vindos do oriente; Ormuz foi investida e conquistada, também pelos ingleses; os holandeses atacavam no Brasil e em Angola; os franceses ameaçavam o Brasil; e os holandeses estabeleciam territórios no oriente. Em Portugal continental os nossos meios de defesa foram espoliados. O General J. M. Cordeiro escreve sobre o assunto: “Ou foram os apuros em que a Espanha se achava pela guerra que sustentava na Europa, ou a política de enfraquecer Portugal... o que é certo é que o governo espanhol esgotou Portugal de homens e tirou-lhe os meios principais de defesa... os nossos canhões foram também fazer parte dos seus parques e trens do exército. Para obviar à grande falta de armas e munições em Portugal... foi ordenado às câmaras que as mandassem vir da Biscaia, pagando-as logo a dinheiro, sendo depois distribuídas aos povos e pagas por estes em prazos estipulados. Conclui-se destas disposições que o fabrico de armas de fogo em Portugal pouco tempo se conservou ou foi inteiramente abandonado, promovendo-se o comércio de armas e munições vindas de Biscaia”[22]. Esta visão do ilustre General peca por parcialidade, porque não refere a especial atenção de Filipe III (1589-1621) em relação a Barcarena, mandando remodelar e modernizar as Ferrarias e a Casa da Pólvora. Para o efeito, determinou ao Engenheiro-Mor do Reino, o milanês Leonardo Turriano, que estudasse a situação das duas instalações, então abandonadas, e fizesse projectos para a sua recuperação. Estes teriam sido apresentados em 1617. “Os projectos de Turriano... incluíam três propostas: a remodelação da Casa da Pólvora, a ampliação das Ferrarias e o estabelecimento duma cordoaria. Os estudos apresentados para a Casa da Pólvora foram de imediato levados a efeito, tendo sido construídos os quatro engenhos inicialmente previstos, No caso das Ferrarias ter-se-á optado pelo restauro dos engenhos já instalados. Quanto à intenção de implementar uma terceira oficina em Barcarena para fabricação de enxárcia não terá merecido aprovação”[23].
O salitre necessário para o fabrico da pólvora negra (cerca de 75% da mistura) vinha, em grande parte, da Índia após a descoberta do caminho marítimo. Em 1618 Filipe III escreveu ao Vice-Rei reforçando os pedidos de envio de salitre “para os novos engenhos mandados fazer em Barcarena”. Também em Panelim, próximo de Goa, se construiu uma importante fábrica de pólvora no governo do Vice-Rei D. Francisco da Gama, que foi concluída em 1630 por D. Miguel de Noronha; estava cercada de altos muros, com instalações separadas, sendo usados búfalos para mover os engenhos; a pólvora era guardada na Fortaleza da Aguada.
Também o fabrico de artilharia não foi descurado, tanto que a Fundição da Porta da Cruz era na ocasião conhecida por Fundição dos Castelhanos.
Restauração. A Tenência
A revolução de 1 de Dezembro de 1640 e a restauração da monarquia portuguesa levariam forçosamente à guerra com a Espanha. Seguiu-se um período de actividade febril para preparar o país para esta contingência. Ainda em 1640 foram criados o Conselho de Guerra e a Tenência-Geral de Artilharia; esta tinha por funções o alistamento, instrução e jurisdição sobre os “artilheiros de nómina” destinados ao serviço nas praças, fortalezas e navios; e a aquisição, conservação e distribuição de todo o material de guerra. Instalada nas Tercenas da Porta da Cruz, era dirigida pelo Tenente-General de Artilharia (um civil, embora pareça estranho) e ficou na dependência da Junta dos Três Estados, criada em 1641, para superintender na “administração financeira da guerra”, o que incluía o pagamento dos soldos e o financiamento para uniformes, munições, fortificações e outras despesas.
A Tenência teve de importar grandes quantidades de armas ligeiras e de artilharia, dado o estado em que se encontravam as unidades e os depósitos. Logo no início de 1641, “o monarca fez prover a fronteira do Alentejo com milhares de arcabuzes e mosquetes e 100 quintais de pólvora”
[24].
As indústrias militares foram adaptadas para as nossas necessidades; foram criadas novas fundições no Prado (Tomar) e em Machuca (Figueiró dos Vinhos), áreas de minérios de ferro; e estabelecidas oficinas de armas no Porto, Braga, Ponte de Lima e Guimarães. Nota curiosa: em Dezembro de 1644, foi confirmado um contrato com um serralheiro de Alcobaça, em que este se comprometia a entregar 400 arcabuzes por ano; não há indicações sobre o cumprimento do contrato. As Ferrarias d’El Rey de Barcarena devem ter produzido arcabuzes e mosquetes, utilizados em campanha e também nas Fortalezas e navios
[25].
Porque o salitre era necessário para o fabrico de pólvora, foram criados “feitores de salitre” nas comarcas de Alenquer, Leiria e Setúbal. Multiplicaram-se em Lisboa os estabelecimentos privados de fabrico de pólvora, com os consequentes acidentes, pelo que foram mandados encerrar em 1651, ficando praticamente só Barcarena e a torre da pólvora das Portas da Cruz em laboração. A última encerrou em 1673: a sua produção devia ser pequena. Restauraram-se as ordenanças de D. Sebastião, constituindo-se o Exército de Linha e as Milícias, compostos por terços de infantaria e companhias de cavalaria. Foram também recriadas as Ordenanças, espécie de depósito de pessoal dos outros escalões, organizadas em companhias.
De início a guerra limitou-se a algumas escaramuças nas fronteiras do Minho, Beira e Alentejo; em 1644, tivemos um importante sucesso na batalha de Montijo (em Espanha, entre Badajoz e Mérida), vencida por Matias de Albuquerque, general experimentado no Brasil. Quinze anos depois, D. Sancho Manuel e André de Albuquerque venceram os espanhóis na batalha das Linhas de Elvas (1659). No ano seguinte contratámos o Conde de Schomberg, notável militar alemão, e grande número de militares estrangeiros, que deram uma ajuda importante na reorganização do Exército e na conduta das operações.
Na última fase da guerra (1660-68), o comandante espanhol D. João de Áustria lançou operações ofensivas no Minho, Beiras e Alentejo, vitoriosas nos primeiros tempos. Mas a acção enérgica do Conde de Castelo Melhor fez mudar a sorte das armas. Em 1663, D. Sancho Manuel (Conde de Vila Flor), Schomberg e Pedro Jacques de Magalhães venceram a batalha do Ameixial e recuperam Évora. Dois anos depois o Marquês de Marialva obteve a grande vitória de Montes Claros. Ainda houve acções importantes no Minho e na Galiza, sob o comando do Conde do Prado e de Schomberg.
No início de 1668, na regência de D. Pedro II, foi assinado o tratado de paz com a Espanha. Terminou uma guerra de 28 anos, em que a capacidade dos comandantes e o sacrifício dos nossos homens asseguraram a independência ao país. Mas perdemos Ceuta, o que foi um erro político.
Depois dum esforço tão intenso e tão longo, o país estava exausto. O exército foi reduzido e as indústrias militares acompanharam a tendência.
Em 1675, D. Pedro criou o “Troço dos 300 Artilheiros, para que estivessem prontos para o serviço da Armada” na permanente vigilância da navegação costeira, o que retirou à Tenência o recrutamento e preparação dos artilheiros navais. Por essa altura as espingardas de pederneira tinham começado a substituir os arcabuzes e os mosquetes de morrão; e a cavalaria passou a dispor de clavinas (corruptela de carabina) e de pistolas. Embora D. Pedro desejasse ter o Exército todo armado com armas de pederneira, não o conseguiu por falta de meios. Assim, em 1679, foram ainda adquiridas 5.000 espingardas em França.
Fabricava-se então pouca pólvora em Portugal, pelo que se importava da Holanda. Nesse ano de 1679, o polvorista Carlos de Sousa Azevedo obteve alvará para produzir pólvora em Barcarena, obrigando-se a entregar 2.400 arrobas por ano e a reconstruir a fábrica então abandonada. Na mesma situação estavam as Ferrarias d’El Rey que, em 1685, foram entregues a dois franceses, por 10 anos, para produção de canos de espingarda e arame. Parece ter sido pouco produtiva esta exploração: em 1695, terminou o contrato, sendo mandadas encerrar as Ferrarias. E o Tenente-General de Artilharia mandou entregá-las a Sousa Azevedo para aí montar dois moinhos de pólvora e reparar a levada e o açude, porque “era mais precisa a fábrica de pólvora que as de armas”. Como as oficinas da Tenência não produziam armas portáteis em quantidade, entende-se esta decisão como o reconhecimento de que nessa ocasião não seriamos capazes de prover às nossas necessidades dessas armas, mas sim em pólvora. Desta forma, Barcarena deixou de produzir armas, 208 anos depois de estabelecida a “Casa das Ferrarias”.
As Guerras do Século XVIII
Em 1704, envolvemo-nos na Guerra de Sucessão de Espanha. Nesse ano o arquiduque Carlos, pretendente ao trono de Espanha, desembarcou em Lisboa com uma força anglo-holandesa, a que se reuniram unidades portuguesas. Apesar dos esforços de D. Pedro II para construir um exército pequeno e capaz, ainda não estávamos preparados para a guerra. O auxílio britânico em oficiais e armas (7.000 espingardas) veio dar-nos novo alento. Estas armas provavelmente já traziam baionetas de alvado[26], porque “em 1697 a maioria dos mosqueteiros ingleses já as usavam”[27].
A guerra teve início com a invasão da Beira Baixa e do Alentejo pelo exército franco-espanhol, mas a reacção do Marquês das Minas obrigou-o a retirar. Entretanto, o arquiduque Carlos tinha-se deslocado para a Catalunha, o que obrigou as forças espanholas no Alentejo a retirar para lhe fazer face. Aproveitando a situação, o Marquês das Minas penetrou em Espanha e num gesto de audácia, progrediu até entrar em Madrid (1706). A partir daí as coisas começaram a correr mal para nós, por razões políticas e militares, obrigando-nos a retirar.
Durante a guerra houve alterações importantes no nosso exército. Por aviso de Maio de 1704, D. Pedro II determinou que os “terços de infantaria se armassem com bocas-de-fogo (armas de pederneira) com baioneta (de alvado) sem que haja neles picaria alguma”
[28].
Acabavam, assim, os piqueiros na infantaria. Em 1707, já no reinado de D. João V (1707-1750) foram publicados as novas ordenanças: os terços de infantaria foram substituídos por regimentos; criaram-se também regimentos de cavalaria. Em 1708 regulamentaram-se as operações militares e o serviço nos aquartelamentos. A seguir foram publicados os “artigos de guerra”, espécie de código de justiça militar, e reposto o “Regimento das Ordenanças” de D. Sebastião.
A guerra terminou em 1712, com um tratado de suspensão de hostilidades. Por fim, o tratado de Utreque (1712-15) teve alguns resultados favoráveis para Portugal, como o reconhecimento do domínio sobre a Amazónia e a restituição pela Espanha da chamada Colónia do Sacramento, no sul do Brasil. A aliança Luso-Britânica saiu fortalecida e a Inglaterra recebeu a ilha Minorca e Gibraltar, chave do Mediterrâneo.
Em 1715-16, começaram a construir-se novos edifícios para a Tenência, criando-se a Fundição de Baixo, com oficina de espingardeiros na sua parte Norte. Todavia, um grande incêndio destruiu estas instalações, em 1726.
Em 1718, dois irmãos espingardeiros de Lisboa, José Francisco e Joam Rodrigues, publicaram um livro com o título de “A Espingarda Perfeyta”, dedicado a D. João V. É um verdadeiro manual, completo e pormenorizado, embora escrito na linguagem gongórica da época, sobre a organização mecânica da espingarda, o seu fabrico e manutenção, que prova o conhecimento que os espingardeiros do Sec. XVIII tinham sobre o seu mister. Curiosamente os autores assinam com anagramas dos seus nomes, Cesar Fiosconi e Fordam Guserio.
Em 1725, foi aberto concurso para arrematação das fábricas de pólvora de Alcântara e Barcarena, que foi ganho pelo cidadão holandês Augusto Cremer, Comissário Geral do Almoxarifado e antigo pagador das tropas do seu país em Portugal durante a Guerra de Sucessão de Espanha. Cremer reconstruiu as duas fábricas, ambas em estado de ruína. Em Barcarena, num edifício construído de raiz, foram montados 4 engenhos cada um com duas mós rolantes verticais (galgas, como lhes chamavam) de calcário, importadas de Namur. Em Alcântara foram colocados 7 moinhos, movidos a energia hidráulica e a “sangue”.
A Real Fábrica de Pólvora de Barcarena, como se passou a designar, foi inaugurada em 1729, “à vista dum grande concurso de gente, assim da corte como daquelas vizinhanças e de alguns estrangeiros”
[29]. Não há referências à inauguração de Alcântara, mas foi designada não oficialmente por Real Fábrica de Pólvora de António Cremer.
Foi um período alto para as duas fábricas que, produzindo segundo tecnologias modernas, conseguiram tornar o país auto-suficiente em pólvora. Tão bem se desempenhou Cremer que o Rei lhe concedeu o título de Intendente e Administrador das Fábricas de Pólvora do Reino. Após a sua morte, a administração ficou a cargo da viúva, até 1753. A partir daí as duas fábricas voltaram para a gerência do Estado, através do Ministro da Marinha.
Protegido por um tratado com Inglaterra, Frederico II da Prússia invadiu a Saxónia, em 1756, dando início ao que se veio a designar por Guerra dos Sete Anos. Nela se envolveram as principais potências europeias e as acções militares estenderam-se ao Canadá, Índia e Filipinas. Foi a primeira guerra à escala mundial.
Portugal, enfraquecido pelo terramoto de 1755 e, tentando recompor-se, jogou na neutralidade. Mas em 1761, recusou aderir ao “Pacto de Família” que unia as casas reinantes dos Bourbons - Espanha, França, Nápoles e Parma. Em consequência, uma força espanhola de cerca de 40.000 homens, depois reforçada por um contingente francês, entrou em Portugal pela Beira, em Maio de 1762.
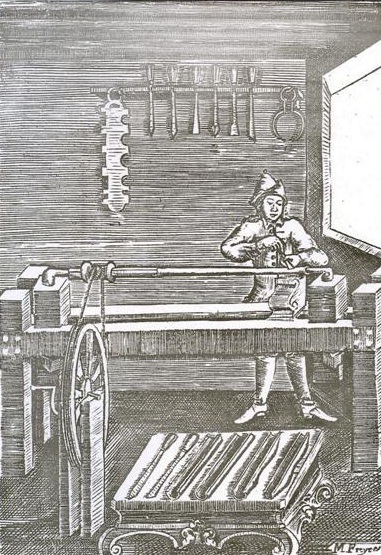
Fig. 3 - Uma Oficina de Armeiro no Séc. XVIII.
Nesta gravura de M. Freyre, um armeiro trabalha num cano de espingarda.
Na mesa em primeiro plano, estão quatro canos em processo de fabrico;
estas eram peças difíceis de construir.
Origem: A Espingarda Perfeyta, Lisboa 1718
Mais uma vez, Portugal não disponha de forças capazes de resistir e expulsar o invasor. Desde o fim da Guerra da Sucessão de Espanha tínhamos gozado 50 anos de paz, com o habitual descuido em relação às forças militares. Fortunato de Almeida dá-nos a sua ideia da situação:
“O Marquês de Pombal (então Conde de Oeiras), ou porque desafecto às instituições militares, ou porque de todo o absorvia o delírio de aniquilar a nobreza e a Companhia de Jesus, não só deixou o Exército no mísero estado em que o encontrou, como até reduziu os quadros existentes em 1735. Tornou-se tão sensível a penúria, que teve dificuldade em reunir tropas que policiassem Lisboa depois do terramoto.”
[30]
Assim, teve-se de pedir ajuda ao estrangeiro. D. José recorreu ao monarca britânico Jorge III, da casa de Hanover
[31]. Este recomendou um alemão nascido em Londres, então, ao seu serviço, Frederico Guilherme Ernesto, conde-reinante de Schaumburg-Lippe-Buckeburg, que chegou a Portugal em Julho de 1762, com dois batalhões suíços. Um corpo britânico de cerca de 6.500 homens, que tinha chegado em Maio, juntou-se a ele. Nomeado Marechal-General do Exército Português, o conde de Lippe (como passou a ser conhecido), rapidamente, reuniu as tropas portuguesas ao seu contingente e, praticando uma acção estratégica defensiva, na Beira e no Alentejo, conseguiu conter as forças espanholas e francesas. A chegada do inverno e a assinatura dum tratado de paz preliminar em Fontainebleau acabaram com a guerra que, por ter sido tão curta e sem batalhas importantes, passou a ser conhecida por “Guerra Fantástica”.
No início do conflito, em 1762, prestava serviço na Tenência o, então, capitão Bartholomeu da Costa, homem conhecido pela sua preparação técnica e capacidade de realização. A Tenência sofria ainda as consequências do terramoto de 1755 e tinha apenas a funcionar uma oficina de espingardeiro, outra de carpinteiro (que não faziam mais que reparações) e armazéns.
Bartholomeu da Costa teve a sorte de poder dispor de dezenas de espingardeiros alemães e ingleses que tinham vindo por ordem do conde Lippe. Por outro lado, foram “mobilizados” pela Tenência muitos mestres e oficiais de oficinas privadas de armeiros, que permitiram arrancar com o que foi então chamada “Fábrica Real”.
O General João Manuel Cordeiro refere o seguinte no que toca a espingardas: “Consta que, neste ano de 1762, havia nos armazéns da Tenência 30.905 espingardas novas, ordenando o Ministério da Guerra ao Tenente-General da Artilharia do Reino que aumentasse a reserva com mais 8.000. Estas armas, na nossa opinião, haviam sido adquiridas na Inglaterra, na sua maior parte.”
[32] Não se conhecem outras referências a esta aquisição, sendo possível que as armas tenham vindo com o Conde de Lippe.
Entretanto continuavam as obras na Tenência, sendo concluída uma fundição de artilharia com oficinas anexas, nos terrenos da Fundição da Coroa de Portugal; passou a designar-se Fundição de Cima para a distinguir da de Baixo que estava também em fase de reconstrução.
O Conde de Lippe permaneceu pouco mais de dois anos em Portugal, mas conseguiu reformar e reorganizar muitos sectores do Exército: publicou regulamentos sobre o ensino e a prática em campanha e nos aquartelamentos, fez reconstruir fortificações, lançou as bases dum sistema de inspecção e organização administrativas, criou campos de manobras, regulou as admissões e promoções, alterou os uniformes e estabeleceu regras de disciplina e de justiça. Conhecendo as capacidades do capitão Bartholomeu da Costa, visitava-o na Tenência: “... ia-o procurar no seu próprio quartel (residência) que era no mesmo edifício (Fundição) e juntos discorriam largamente sobre objectos relativos à artilharia e ao serviço do Exército.”
[33]
O Arsenal do Exército
Por alvará de 24 de Março de 1764, no conjunto das reformas do Conde de Lippe, a Tenência passou a chamar-se Arsenal Real do Exército, continuando sob as ordens do Tenente-General de Artilharia, na dependência da Junta dos Três Estados. Era então Tenente-General Manuel Gomes de Carvalho e Silva, “promovido de paizano a Marechal de Campo por influência de B. da Costa que servia sob as suas ordens”.[34]
O Arsenal deixou de ter funções no que respeita ao pessoal e material de artilharia dos navios de guerra. Em boa verdade, já não recrutava e instruía artilheiros para a Marinha desde que, como se referiu atrás, D. Pedro II mandara criar o “Troço dos 300 Artilheiros.”
[35]
Fig. 4 - A Fábrica de Pólvora de Barcarena em 1775.
Esta é a primeira planta conhecida da Fábrica. Foi mandada executar
por Martinho de Mello e Castro, Ministro da Marinha. Notam-se as instalações
das Fábricas de Cima e de Baixo. Nesta ocasião, ainda não havia edifícios
na margem direita da ribeira.
Origem: Centro de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar.
Em 1772, B. da Costa foi nomeado Superintendente das Ferrarias de Tomar, Figueiró e Foz do Alge; e, dois anos depois, tornou-se “Intendente Geral das Fundições de Artilharia e Laboratórios dos Instrumentos Bélicos destes Reinos”, com o posto de Brigadeiro de Infantaria e exercício na Artilharia. Em 1776 mandou construir um edifício sobre as ruínas do convento das Clarissas, em Santa Clara, para um grande depósito, que se passou a chamar Parque de Artilharia. Em 1780, estando em más condições as Fábricas de Pólvora de Barcarena e Alcântara, foi B. da Costa encarregado da sua direcção técnica; conseguiu alterar a situação, instalando novos engenhos em que as galgas e pratos de pedra foram substituídos por outros de madeira e bronze. Passou a ser produzida pólvora de qualidade para consumo interno e para exportação. A média de produção entre 1780 e 1797 passou a ser de 315 toneladas por ano.
Em 1782, B. da Costa tomou conta duma fábrica de ferro de Paço d’Arcos (possivelmente privada) e renovou-a introduzindo o fabrico de “balas, bombas e granadas”. Tentou também estabelecer um modelo de espingarda portuguesa, a que chamou “de novo padrão”; estas armas foram fabricadas em 1791, certamente em pequeno número, e distribuídas ao Regimento Gomes Freire, mas “não houve seguimento ao projecto, por razão de custos.”
[36]
Cabe aqui dizer que nos séculos XVIII e XIX fabricámos espingardas e pistolas de boa qualidade, em oficinas privadas e nas da Tenência, depois Arsenal do Exército. Eram principalmente armas de aparato, de defesa e de caça, produzidas individualmente, por encomenda. Alguns dos nossos armeiros deixaram nome em Portugal e no estrangeiro pela perfeição dos seus trabalhos, como Xavier dos Reis, Bartholomeu Gomes, Veríssimo de Meira e Jacintho Xavier.
Mas, quando se tratava de fabricar armas militares portáteis, não o conseguíamos (como sucedeu em 1791) por razões de tecnologia ou de custos; estes só poderiam ser reduzidos se houvesse encomendas substanciais.
Voltemos a Bartholomeu da Costa. A acumulação de funções tão importantes no mesmo homem, em locais diferentes como Lisboa, Barcarena e Tomar, juntamente com as suas extraordinárias capacidades criativas e de direcção, criaram situações de atrito, especialmente com a Junta dos Três Estados de quem o Arsenal dependia. “Homem singular e extraordinário, de génio forte e arrebatado” como era considerado, Bartholomeu da Costa chegou a estar sob prisão domiciliária; duma vez tentou fugir do país numa embarcação sendo detido à passagem pela torre de Belém.
A Revolução Francesa e a Guerra Peninsular
A Revolução Francesa, iniciada em 1789, fez cair a monarquia e alterou por completo a situação política e social interna e o equilíbrio externo. Receosas da propagação das ideias revolucionárias e de agressões militares, a Inglaterra, Áustria, Prússia e Espanha coligaram-se contra a França. Em 1793, a Espanha preparou uma força de cerca de 24.000 homens para invadir o Rossilhão pelos Pirenéus Orientais; e pediu-nos auxílio. Mal preparados, mobilizámos uma unidade de 6 regimentos de infantaria (5.600 homens) e 22 bocas-de-fogo, que designámos pomposamente Exército Auxiliar à Coroa de Espanha. Sob o comando do general John Forbes-Skellater[37]; transportada em 14 navios mercantes escoltados por 3 vasos de guerra, chegou à Catalunha em 9 de Novembro e incorporou-se na força espanhola comandada pelo general Ricardos. Tendo atravessado a fronteira, o exército luso-espanhol ocupou praticamente todo o Rossilhão, mas a morte de Ricardos e uma contra-ofensiva francesa obrigaram à retirada para território espanhol em Abril de 1794. Os espanhóis assinaram a Paz de Basileia com os franceses e aliaram-se a eles. O nosso “Exército” teve de voltar para Portugal, nada tendo ganho com esta acção, embora se tenha portado bem - e agora tínhamos os espanhóis contra nós. Não sendo possível produzir armas militares em quantidade suficiente no Arsenal do Exército, mais uma vez recorremos à importação. “Em Agosto de 1796, a
Ordnance estava em condições de informar o ‘Chevalier d’Almeida” que 12.000 mosquetes, 3.000 carabinas, 3.000 pares de pistolas e 2.000 espadas estavam prontas para ser despachadas para Portugal.”
[38] As espingardas eram as designadas
Brown Bess[39] de calibre 19,1mm, alma lisa e fechos de sílex, regulamentares no Exército Britânico desde há cerca de 60 anos, o que mostra a perfeição do fabrico e a lenta evolução do sistema de fechos. As carabinas seriam provavelmente as
Potts, também de 19,1mm, para artilharia (com baioneta de alvado) e cavalaria. As pistolas deveriam ser as designadas
Dragoon ou
Light Dragoon.
No início de 1801, Napoleão e Carlos IV de Espanha acordaram na partilha de Portugal. Em Fevereiro a Espanha declarou-nos guerra e em Maio o Príncipe da Paz, Godoy, penetrou no Alentejo com uma substancial força militar. As nossas tropas no local, comandadas pelo velho Marechal Duque de Lafões, tiveram um comportamento desastroso. Olivença, Juromanha e Campo Maior caíram em poder do invasor, mas Elvas resistiu. O Tratado de Badajoz, em Junho, pôs termo à Guerra das Laranjas, como foi chamada - mas perdemos Olivença. Alguns historiadores consideram esta guerra como a primeira invasão francesa, embora conduzida pelos espanhóis.
Entretanto, no Arsenal do Exército, após a morte de Bartholomeu da Costa (1801), as coisas não corriam bem, apesar de haver novas construções e um grande quadro de pessoal: 33 oficiais, 26 mestres, 15 contra-mestres, 72 aparelhadores, 9 apontadores, 1.259 operários, 263 aprendizes, 370 porteiros, guardas, moços, etc. e 390 costureiras. Em Setembro de 1801, foi nomeado inspector o tenente-coronel emigrado italiano Carlos António Napion (como de costume, os nomes próprios eram aportuguesados). Em 2 de Janeiro de 1802, foi publicada uma carta de lei cujo relatório diz o seguinte: “tendo presentes os graves e mui consequentes prejuízos que na repartição do Arsenal do Exército... sofria o meu real serviço e fazenda; assim pela falta total dum sistema de administração e economia, como pela carência de uma escrituração e contabilidade claras, exactas e metódicas; circunstâncias que não se encontram na que se formaliza no almoxarifado...”
Nota-se aqui o “dedo” dos inimigos de Bartholomeu da Costa, invejosos do seu génio empreendedor e inventivo. É possível também que ele se preocupasse pouco com questões administrativas e que os seus colaboradores neste campo não o ajudassem. Esta lei extinguiu a Junta dos Três Estados (que durou 161 anos) e estabeleceu a Junta de Fazenda do Arsenal do Exército, composta por 5 vogais: o ministro da guerra, o inspector das oficinas, o intendente, o contador e o fiscal. Mas os problemas do Arsenal não acabaram. O tenente-coronel Napion, em ofício de 8 de Agosto de 1805, escrevia para o ministro: “... Vossa Excelência pode ver... por consequência, se um homem honrado pode ficar um só momento neste emprego e em um arsenal onde não reina senão a intriga, a calúnia e a impostura.” Todavia, Napion manteve-se “no emprego” e não há registo de que tenha posto a casa em ordem. Dois anos depois acompanhou a corte para o Brasil.
Pelo Tratado de Fontainebleu (1807), a França e a Espanha decidiram a invasão de Portugal, que seria dividido em três partes. No Outono o general Andoche Junot tomou o comando do Corpo de Observação da Gironda, uma força de cerca de 26.000 homens, estacionado na região de Bayonne. Em marchas forçadas atravessou a Espanha e penetrou em Portugal pela margem direita do Tejo, enquanto outras forças espanholas entravam pelo Alentejo e pelo Minho. Em 27 de Novembro, Junot chegou à Golegã e dai proclamou ao povo português: “o grande Napoleão, meu Amo, envia-me para os proteger, eu vos protegerei.”
Nesse mesmo dia, o Príncipe Regente D. João embarcou com a família real e um imenso séquito, na esquadra portuguesa que pairava no Tejo, composta por 31 transportes mercantes e 23 navios de guerra. Entre 10 a 15.000 pessoas constituíam esse séquito, um número impressionante se nos lembrarmos que a população de Lisboa não ultrapassava 200.000 almas. “Fidalgos, cirurgiões reais, confessores, damas de honor, pajens, conselheiros de estado, militares, juízes, sacerdotes e homens de negócios, todos acompanhados das famílias e criados, apinhavam os navios”
[40]. Entre os militares iam praticamente todos os oficiais de marinha e cerca de um terço dos do Exército; do Arsenal do Exército ia o tenente-coronel Napion, certamente acompanhado dos principais oficiais, mestres, fundidores e espingardeiros. O Arsenal ficou sob as ordens dum coronel francês, Carlos Julião, a partir de 27 de Novembro, data do embarque do Regente, da Corte e do séquito.
Os navios só zarparam do Tejo, em 29, em virtude de uma tempestade no mar, recebendo uma escolta adicional de 13 vasos de guerra britânicos do Almirante Sir Sydney Smith, que aguardavam à saída da barra. Na proximidade do paralelo 37º nove navios britânicos regressaram à costa portuguesa, seguindo os outros 4 até ao Brasil com a esquadra portuguesa.
No dia 30, Junot entrou Lisboa, ficando a “ver navios”. Vinha “à frente dum regimento de granadeiros descalços e esfomeados... Três semanas depois (da saída de Bayonne) o exército invasor contava apenas com metade dos homens; os que faltavam ficaram pelo caminho ou encontravam-se hospitalizados. A concentração de alguns regimentos portugueses e o desembarque de dois regimentos ingleses embarcados nos navios britânicos, como desejava fazer o almirante Smith, teria podido afastar de Lisboa o exército invasor e destrui-lo”
[41]. Mas assim não decidiu o Príncipe Regente. Aliás, estava manietado pela Convenção Secreta com o Rei Jorge III da Grã-Bretanha, assinada em Londres, em 22 de Outubro (trinta e oito dias antes da entrada de Junot em Lisboa), e ratificada, em 8 de Novembro. Esta convenção regulava a transferência para o Brasil da sede da Monarquia Portuguesa, a ocupação temporária da Ilha da Madeira por tropas britânicas e o compromisso de se fazer um tratado de comércio com a Grã-Bretanha depois do governo português se instalar no Brasil.
O êxodo da Corte e os acontecimentos sequentes viriam a provocar uma reviravolta completa na História de Portugal, orientando-nos para a África.
Por ordem de Junot e dos generais espanhóis seus aliados, foram reduzidas as unidades militares e licenciados uns 20.000 homens incluindo as milícias. O General Marquês de Alorna, tendo como segundo-comandante o Tenente-General Gomes Freire de Andrade, reorganizou as forças sobrantes e, em Fevereiro de 1808, tinha cerca de 9.000 homens para servir ao lado dos franceses, divididos por 6 regimentos de infantaria, 1 de caçadores, 3 de cavalaria, 1 de caçadores a cavalo e 1 de artilharia. Esta força, designada Legião Portuguesa por decreto de Napoleão, partiu para França, vindo a tomar parte nas campanhas em Espanha, na Áustria, na Alemanha e na Rússia. Alguns dos seus oficiais viriam mesmo a ter parte activa, com os franceses, na terceira invasão, de Massena.
Entretanto, em Maio de 1808, houve um sangrento levantamento em Madrid e a formação de Juntas para resistir aos franceses. O exemplo foi seguido em Portugal e formou-se, no Porto, a Junta Provisional do Supremo Governo do Reino, sob a presidência do Bispo, e o Governador de Armas de Trás-os-Montes, General Manuel Gomes de Sepúlveda aclamou o Príncipe Regente e mobilizou as populações. A insurreição estendeu-se ao Minho, ao Alentejo e ao Algarve. Perante estes factos, o Governo Britânico decidiu intervir militarmente na Península. Uma força expedicionária de cerca de 9.000 homens estacionada em Cork, na Irlanda, sob o comando do Tenente-General Sir Arthur Wellesley e destinada a seguir para a América de Sul, foi desviada para a Península. Dirigindo-se em transportes de guerra, à Corunha e, depois, ao Porto, onde Wellesley contactou com a Junta Provisional, foi pairar em Lavos, a sul da foz do Mondego, em 30 de Julho. O desembarque realizou-se entre 1 e 5 de Agosto, juntando-se aos homens de Wellesley mais cerca de 5.000 do General Spencer e 2.600 que o General Bernardim Freire de Andrade reunira à pressa.
Foi o início da Guerra Peninsular. Wellesley, que era o oitavo na linha de comando definida por Londres para a campanha, viria a tornar-se o primeiro, devido à sua capacidade e visão estratégica. Foi nomeado Comandante-Chefe do Exército Anglo-Luso, depois também espanhol, até à rendição dos franceses em Toulouse, em 1814.
Quando foi iniciada a campanha e liberto Portugal dos invasores, havia que reorganizar o Exército praticamente desfeito por Junot, excepto no que diz respeito à Legião Portuguesa. A tarefa foi iniciada por D. Miguel Pereira Forjaz, Ministro da Guerra, dos Estrangeiros e da Marinha. Em fins de 1808, estavam a ser formadas 24 regimentos de infantaria, 12 de cavalaria, 4 de artilharia, 6 batalhões de caçadores, 48 regimentos de milícias e companhias de ordenanças e de tropas auxiliares.
Em 7 de Março de 1809, por decreto do Príncipe Regente no Rio de Janeiro, o General irlandês William Carr Beresford foi nomeado Marechal e Comandante-Chefe do Exército Português. Deu-se então o salto qualitativo: passámos a receber oficiais, material de guerra, fardamentos, equipamentos militares... e até dinheiro para pagamento das tropas. Com uma população inferior a 3 milhões, conseguimos levantar forças superiores a 150.000 homens. O Exército de 1ª linha atingiu os 57.000, organizados em brigadas independentes ou integradas em divisões britânicas, as milícias ultrapassaram os 50.000 e as ordenanças entre 60 a 70.000.
[42] Para enquadramento, cerca de 350 oficiais e 23 sargentos britânicos foram integrados nas unidades portuguesas durante a Guerra Peninsular.
[43]
Quanto a material de guerra portátil, entre 1808 e 1814, foram recebidas 160.000 espingardas
Brown Bess de 19,1mm, 2.300 espingardas estriadas
Baker de 15,9mm, 3.000 carabinas para cavalaria, 7.000 pistolas e 15.000 sabres.
[44] As espingardas
Brown Bess eram do modelo designado
India Pattern, mais simples e mais baratas que as
Land Pattern que tínhamos recebido em 1796. Eram armas pesadas e fortes, mas de alcance curto: acima dos 70-80 metros eram muito imprecisas. As
Baker eram muito mais modernas (1801) e de calibre menor; sendo estriadas, permitiam atirar três vezes mais longe que as
Brown Bess, mas eram mais caras e lentas a carregar; foram atribuídas a alguns homens das unidades de caçadores. Nesta época usavam-se cartuchos de papel, que dispensavam o emprego do polvorinho.
[45]
Ao mesmo tempo que se recebiam estas grandes quantidades de material, as oficinas e fundições do Arsenal do Exército foram repostas a funcionar, produzindo cópias de armas (espingardas, carabinas e pistolas) bem como peças de artilharia. Em Barcarena foi reconstruída a Fábrica de Cima (1817), uns 300 metros a norte da Fábrica de Baixo, para permitir a continuação do fabrico de pólvora em caso de explosão numa delas. O comportamento das nossas unidades durante a guerra foi considerado muito bom, merecendo referências elogiosas de Wellington e Beresford e até de Napoleão (este no que se refere à Legião Portuguesa).
Pronunciamentos e Guerras Civis
Terminada a guerra, em 1814, e regressados a Portugal os milhares de homens que se bateram em Espanha e França, havia que reconstituir o país, reduzir o Exército e reequipá-lo - as grandes quantidades de armas portáteis recebidas de Inglaterra tinham já mais de cinco anos de serviço activo.
Fig. 5 - As Armas da Guerra Peninsular (1807-14).
Espingarda Brown Bess de 19,1 mm, de infantaria; Carabina T. Potts de 19,1 mm,
de artilharia; Carabina T. Potts de 19,1 mm, de cavalaria; Espingarda Baker
de 15,9 mm, de caçadores; Pistola Arsenal do Exército de 17,3 mm, de uso geral.
Estas foram as principais armas portáteis utilizadas durante a Guerra Peninsular.
São todas de antecarga e fechos de pederneira. Vindas de Inglaterra
em grandes quantidades, foram reproduzidas em parte no Arsenal do Exército.
Depois de 1855 as que sobravam em boas condições foram transformadas
para usar fechos de percussão. Fotos: João de Figueiredo
Por regulamento de Fevereiro de 1816 o Exército foi organizado em 24 regimentos de infantaria, 12 de cavalaria, 12 batalhões de caçadores, 1 batalhão de artífices engenheiros e 4 companhias de artilheiros condutores. Ainda nesse ano se enviou uma expedição ao Brasil de 4 batalhões de caçadores, 6 esquadrões de cavalaria e dois parques de artilharia, para a campanha de Montevideu.
Como o Arsenal do Exército não pudesse produzir armas portáteis para substituir as destruídas, perdidas ou avariadas na guerra, tivemos que importar de novo. Entre 1816 e 1817 recebemos de Inglaterra, Bélgica e Alemanha 18.230 espingardas, 5.000 clavinas
[46] para cavalaria, 1.500 pares de pistolas e 3.000 espadas. Nessa ocasião havia em reserva nos armazéns do Arsenal 20.571 espingardas. Estas aquisições e reservas, após ter terminado a guerra, demonstram o desejo de rearmar o Exército, para não sermos de novo surpreendidos, mas mostram também que nem espadas estávamos em condições de fabricar. Em 1822, comprámos mais 20.000 espingardas, das quais “rebentaram nas experiências mais da décima parte dos canos... acabou no país o fabrico de armas novas para o Exército”.
[47]
Vivia-se então uma situação agitada no país. Em 1817 houve uma conspiração contra a permanência de Beresford e dos muitos oficiais britânicos no Exército, que resultou na condenação à morte do General Gomes Freire de Andrade e outros oficiais.
Em 1820, um pronunciamento militar ordeiro no Porto instituiu o regime liberal e tentou dar alguma estabilidade ao país. Beresford, que tinha sido promovido a Marechal-General do Exército Português nesse ano, foi afastado juntamente com muitos dos seus oficiais.
Depois da independência do Brasil (1822) e da perda do monopólio da navegação no Atlântico Sul, sucederam-se os golpes e contra-golpes: revolta de Trás-os-Montes (1823), “Vila-francada” (1823), “Abrilada” (1824) e, depois a Guerra Civil (1826-1834).
Em Junho de 1833, o Exército Liberal entrou em Lisboa, sendo demitido o inspector e extinta a Junta de Fazenda do Arsenal de Exército, substituída pela Inspecção-Geral do Arsenal do Exército. O relatório do decreto de extinção refere: “... mais de 30 anos de funesta experiência têm provado que a Junta, longe de obter os fins da lei da sua criação, tem produzido consideráveis danos”.
E, em Julho de 1834, depois da convenção de Évora-Monte que pôs fim à Guerra Civil, foi aprovado novo regulamento do Arsenal; o correspondente relatório continua as críticas do anterior: “... a comissão descobriu a origem da monstruosa confusão que reina no Arsenal...”. Esta era a voz do vencedor, excitada pela vitória recente e dando a entender que iria fazer melhor.
Foram então criados 4 depósitos e 18 oficinas, continuando a funcionar alguns trens regionais (Porto, Elvas e Faro), mas não foi alterada a estrutura geral do Arsenal. A Fábrica de Pólvora de Barcarena passou a ser administrada no âmbito do Contrato do Tabaco, separando-se do Arsenal por 15 anos.
Os projectos para o futuro eram promissores: “O inspector propõe ao Governo os planos... para se conseguir que este estabelecimento venha a ser uma grande fábrica que, não só produza os armamentos e artilharia e seus pertences que foram necessários para o serviço do estado, mas também para se venderem para outros países com vantagens do mesmo estado”. Eram aspirações muito louváveis e importantes para Portugal, mas as convulsões políticas e as falhas dos homens impediram que se viessem a realizar. Só na segunda metade do Séc. XX se viriam a conseguir estes objectivos, embora parcialmente e por pouco tempo.
Em 1840, foi nomeado Inspector-Geral do Arsenal do Exército o Marechal de Campo José Baptista da Silva Lopes, Barão de Monte Pedral, que deixou nome pela sua competência e capacidade de organização. No ano seguinte teve como colaborador o tenente de artilharia João Manuel Cordeiro (o futuro General Cordeiro) outro oficial que marcou a sua passagem pelo Arsenal. Uns 30 anos depois, Cordeiro viria a escrever: “Em 1840, o Arsenal era mais um asilo que uma fábrica”.
[48]
As nossas espingardas, carabinas e pistolas eram então ainda de pederneira. Os exércitos europeus tentavam adaptar os fechos de percussão às suas armas, como já se fazia nas armas de caça, mas não foi fácil essa alteração: as pólvoras e cápsulas fulminantes estavam no seu início e pretendia-se transformar armas antigas em vez de fabricar novas. Em Portugal foi determinado que as armas enviadas para conserto ao Arsenal fossem transformadas e distribuídas aos regimentos de infantaria. Os resultados foram tão maus que, por ocasião da Guerra da Patuleia (1846), tiveram de ser distribuidas de novo armas de pederneira.
Entretanto, no Arsenal do Exército o Barão de Monte Pedral punha as coisas a mexer. Ampliaram-se as oficinas, introduziram-se novas máquinas de brocar e tornear, construíram-se fornos, estufas e caldeiras para balas de chumbo e montaram-se fundições de ferro. Manteve-se a produção de cópias de espingardas, carabinas e pistolas britânicas de pederneira, geralmente com canos importados; estas armas eram bem construídas.
Fig. 6 - O Arsenal do Exército no Início do Século XIX.
Esta gravura é parte da “Carta Topographica de Lisboa e seus Suburbios”,
levantada em 1807 sob a direcção do Capitão de Engenheiros Duarte José Fava
e reduzida e desenhada na “Caza do Risco da Obras Publicas” em 1826.
Para efeito deste artigo, foram realçados a linha da costa e os três núcleos locais
do Arsenal: 1. Fundição de Baixo. Corresponde aos actuais edifícios do Estado-Maior do Exército e do Museu Militar. 2. Fundição de Cima. Depois designada Fundição
de Canhões, foi sede da Direcção Geral de Artilharia, antecessora da Direcção
da Arma de Artilharia. Actualmente estão aqui instaladas a Revista Militar
e a Revista de Artilharia. 3. Parque de Artilharia. Em 1868 passou a ser a Fábrica
de Armas; em 1927 a Fábrica de Equipamentos e Arreios; em 1947 a Fábrica Militar
de Santa Clara. Actualmente, é a Zona Industrial das Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamento.
Origem: Núcleo Museulógico das OGFE
Em 1850, o Parque de Artilharia (Santa Clara) foi modificado, recebendo as oficinas de espingardeiros e coronheiros que estavam na Fundição de Baixo. Nesse ano, o Arsenal era constituído por um grande número de instalações:
- Fundição de Baixo: em fase de extinção;
- Fundição de Cima: fornos de fundição de ferro e bronze;
- “Obras de S. Engrácia”: arrecadação de artigos fora de serviço;
- Santa Clara: oficinas de espingardeiros, coronheiros, ferreiros e correeiros;
- Santa Apolónia: casa do inspector, colégio de aprendizes, oficina pirotécnica;
- Cruz da Pedra: arrecadação de projécteis;
- Alcântara: refino de salitre e enxofre;
- Barcarena: fabrico de pólvora (Fábricas de Cima e de Baixo);
- Rilvas (Rio Frio): armazéns para madeira e carvão, fornos para produzir carvão;
- Caxias: armazéns de retém, no antigo forte, para a pólvora em trânsito de Barcarena para os paióis de Beirolas;
- Forte da Areia: armazéns para pólvora recebida de particulares;
- Beirolas: paióis;
- Braço de Prata: armazéns para cartuchame e projécteis;
- Trem de Elvas: oficinas diversas;
- Foz do Alge: edifícios de ferraria e fundições em vários locais.
A Regeneração
Como já se referiu, a primeira metade do Séc XIX foi de grande agitação política e militar. As Invasões Francesas, a saída da Corte para o Brasil, a Guerra Peninsular, o “vintismo”, a expulsão de Beresford, a sensação de nos termos tornado “a colónia da colónia”, os pronunciamentos militares, a Guerra Civil, o movimento da Maria da Fonte e a guerra da Patuleia deixaram a nação cansada, desmoralizada, desorganizada.
A convenção do Gramido (1847), em consequência da intervenção da Inglaterra, França e Espanha, acabou com a Patuleia. Quatro anos depois, em Abril de 1851, o Marechal Saldanha chefiou um pronunciamento militar no Porto e proclamou o Movimento Regenerador para “sanear a justiça e fomentar as fontes de riqueza”. Desta vez, conseguiu-se estabilidade e progresso, durante uns 40 anos. Foi publicado um Acto Adicional à Carta Constitucional e o sistema político caracterizou-se pela rotatividade no governo dos dois partidos do centro. A economia, dinamizada pelo Tenente Fontes Pereira de Melo, Ministro da Fazenda e depois das Obras Públicas, modernizou-se e abriu-se ao exterior.
Ainda, nesse ano de 1851, foi mandado reorganizar o Arsenal do Exército. Em 1853 foi publicado o regulamento que o dividia em sete “Repartições Fabris”:
- Fundição de Cima: fundição de artilharia e peças metálicas;
- Santa Clara: fabrico e reparação de armas portáteis, carpintaria;
- Cruz da Pedra: pirotecnia;
- Alcântara: refino de salitre e enxofre;
- Barcarena: fabrico de pólvora;
- Elvas: carpintaria e serralharia;
- Rilvas: produção de carvão.
Desta lista, já não consta a Fundição de Baixo, porque a Fundição de Cima era suficiente, bem como outras dependências tornadas desnecessárias para o Arsenal como Santa Engrácia, Santa Apolónia, Caxias, Braço de Prata, Forte da Areia, Beirolas e Foz do Alge. A pirotecnia passou de Santa Apolónia para a Cruz da Pedra.
Foi também estabelecido um novo quadro de pessoal oficinal: 9 mestres, 21 aparelhadores, 473 operários, 81 aprendizes e 55 serventes, muito menor que o de 1801.
Também os serviços administrativos foram reorganizados, dada a anterior inoperância. Mais um comentário do General Cordeiro: “... o estado das coisas era tal que hoje não se pode saber coisa alguma acerca da produção das oficinas, das épocas anteriores a 1850.”
[49]
A transformação das armas de pederneira em percussão tomou também novo alento com a Regeneração, sendo dada ordem para a conversão generalizada em 1852. Mas só em 1855 se conseguiu produzir um sistema de fechos de ignição de confiança e, simultaneamente, um bom controle de fabrico.
Uma ordem do Ministério da Guerra, de 30 de Junho, determinava:
- Que todo o armamento do Exército fosse mandado vir do estrangeiro, sendo as espingardas e carabinas do sistema “Minié” (Enfield). Mas esta compra ficava adiada;
- Que se continuasse a transformar as armas de pederneira em percussão.
“É difícil saber o número de armas que foram convertidas... No entanto estimamos esse número em cerca de 23.000 espingardas, incluindo carabinas de infantaria ligeira.”
[50]
Embora houvesse dificuldades financeiras, a conjugação de esforços de três homens - O Rei D. Pedro V (1855-61), Fontes Pereira de Melo e o Barão de Monte Pedral - produziu alguns efeitos. O Rei tinha um grande interesse nas questões militares, visitava as unidades e o Arsenal, chamava oficiais ao Paço, para lhes pedir opiniões e enviava outros para o estrangeiro. Infelizmente, um monarca tão interessado morreu de doença aos 24 anos, reinando apenas seis.
Em 1858, o Ministro da Guerra pediu à Câmara dos Deputados autorização para contrair um empréstimo de 80 contos de reis para construir uma fábrica de armas para substituir a oficina de espingardeiros (Repartição nº 2 do Arsenal do Exército). Justificação do Ministro: “Temos no Arsenal do Exército mais de 1.500 armas de fogo, das quais metade em sucata. Uma fábrica de armas é sempre precisa, mas no estado em que está o armamento do nosso Exército é de primeira necessidade. As armas distribuídas e as que se vão distribuindo são boas para o serviço de tempo de paz e para a segunda linha”.
A proposta não foi logo atendida, mas, no ano seguinte decidiu-se a compra de 13.000 espingardas Enfield, com baioneta de alvado, e 5.000 carabinas para caçadores, com sabre-baioneta, regulamentares no Exército Britânico, desde 1853. Embora de antecarga, a Enfield era uma arma moderna para a época: estriada, com fechos de percussão, usando cartuchos combustíveis com balas Minié cilindro-cónicas, de calibre.577 (14,7 mm). Era feita na Royal Small Arms Factory (RSAF), em Enfield, que foi reequipada com máquinas americanas, em 1854, e também em Liège. O Governo Britânico desejava que a sua fábrica de Enfield fosse exemplar, de forma a evitar a dependência das indústrias particulares.
Para a aquisição do lote de armas que pretendíamos, foram nomeados dois oficiais, o Coronel Costa Monteiro e o Major Cordeiro, por sugestão de D. Pedro V. O Coronel Costa Monteiro foi para Espanha tentando, infrutiferamente, o fabrico das armas pela indústria espanhola. O Major Cordeiro, na Inglaterra tentou a compra ou o fabrico na RSAF, mas encontrou dificuldades por parte das autoridades britânicas: “O Governo britânico não fornecia armamento nem consentia, por razões de ordem política, que se manufacturasse para o estrangeiro nas fábricas do Estado.”
[51] Foi sugerido que o Major Cordeiro contactasse com os fabricantes Goodman ou Barnett, de Birmingham.
Depois de várias peripécias demonstrativas das “guerras” entre fabricantes, foram finalmente assinados contractos com Mr Goodman para o fabrico das espingardas; com a firma P. J. Malherbe de Liège para as carabinas; e com outras de Londres e de Leeds para o fabrico de correame e maquinaria.
As armas começaram a ser recebidas em 1860. Vieram também 6.000 canos de espingarda, correame e máquinas diversas para fabrico de cartuchos, balas e coronhas. Nesse ano começaram a ser fabricadas espingardas Enfield (parcialmente) em Santa Clara. Pretendemos também fazer carabinas Enfield para a artilharia, aproveitando canos de 19 mm, mas os resultados foram tão maus que se importaram canos novos, mas não melhorou a qualidade do material.
Como já se referiu, a proposta do Ministro da Guerra, de 1858, não foi logo aprovada, mas a intervenção do Rei permitiu que o Inspector-Geral do Arsenal Brigadeiro Fortunato José Barreiros ampliasse a oficina de espingardaria de Santa Clara e adquirisse máquinas novas, uma das quais a vapor que foi montada em 1864. Depois de uma paragem na construção, as obras acabaram em 1867, sendo a Fábrica aberta no ano seguinte.
Em Agosto de 1866, ainda se compraram mais 5.000 espingardas
Enfield. Foram examinadas no Arsenal, sendo o resultado desastroso: 1.100 aprovadas, 3.411 para conserto, 479 rejeitadas!
[52] Embora as contas não estejam bem feitas, duas conclusões podemos tirar: ou comprámos ao desbarato com a ideia de consertar as armas em Portugal ou fomos grosseiramente enganados. Um famoso autor britânico, escrevendo sobre a distribuição de armas neste período, refere: “Sempre que possível as armas de qualidade inferior não eram atribuídas às tropas regulares britânicas, sendo usadas para armar as muitas unidades estrangeiras na Inglaterra e os aliados estrangeiros .”
[53]
A evolução técnica era então muito rápida. Embora tenhamos recebido as Enfield, em 1860, cinco anos depois uma comissão propunha a sua transformação em armas de retrocarga pela aplicação de culatras Westley-Richards. A proposta não foi aprovada mas compraram-se a esta firma de Birmingham 8.000 carabinas para caçadores, 2.000 para cavalaria e 1.000 pistolas também para cavalaria. Foram recebidas, em fim de 1866 e em 1867, sendo as nossas primeiras armas portáteis de retrocarga. De calibre 11,8 mm, inferior ao da Enfield, eram armas leves e bem construídas. Com um cano de alma hexagonal (desenvolvido por J. Whitworth) tinham uma precisão notável, mas havia dificuldades de obturação devido ao emprego dum cartucho combustível. No mesmo ano em que foram adquiridas, o Exército Britânico adoptou a Snider, por transformação das Enfield em armas de retrocarga com cartucho metálico. Seguimos esta ideia, logo em 1869, pelo que a compra das Westley-Richards teria sido desnecessária.
Em 1868, por proposta do Presidente do Conselho de Ministros, Marquês de Sá da Bandeira, foi realizada mais uma reforma do Arsenal do Exército, com o propósito de o transformar em fábrica com administração própria. O Decreto de 26 de Dezembro (Reorganização do Arsenal do Exército) estabelecia que o Arsenal se compunha de três estabelecimentos fabris: Fundição de Canhões (antiga Fundição de Cima), Fábrica da Pólvora (Barcarena) e Fábrica de Armas, e um Depósito Geral de Material de Guerra. Ficavam “provisoriamente separados” o Refino de Salitre de Alcântara e a Oficina Pirotécnica transferida da Cruz da Pedra (Benfica) para Braço de Prata. As “repartições” mais afastadas (Rilvas e Elvas) deixaram de fazer parte do Arsenal. Continuava a haver um Inspector-Geral, oficial general ou coronel, designado Inspector do Arsenal do Exército, mas apenas com funções fiscais. Esta reforma foi um primeiro passo para a extinção do Arsenal; o segundo foi um decreto do ano seguinte, 11 de Dezembro de 1869 (Plano para a Reorganização da Arma de Artilharia). Passou a haver um Director-Geral de Artilharia com vários departamentos subordinados, entre os quais os “Estabelecimentos para Fabricar Material de Guerra”:
- Fundição de Canhões: fundição de toda a artilharia, fabrico de projécteis, espoletas, escorvas, instrumentos musicais, ferragens, etc. (terá 4 secções; pessoal fabril: 82);
- Fábrica de Armas: fabrico de armas de fogo portáteis e armas brancas, balas, cápsulas, reparos, viaturas, correame, arreios e equipamento para homens e cavalos (terá três departamentos; pessoal fabril: 226);
- Fábrica da Pólvora: manufactura de pólvora de guerra, de minas e de outras qualidades (terá na sua dependência o “armazém de retém” de Caxias; pessoal fabril: 66).
Estes estabelecimentos eram os mesmos da organização do ano anterior, mas agora definiam-se detalhadamente as suas funções. Deixou de haver o Inspector do Arsenal do Exército, o que significa que o Arsenal foi extinto, embora não se refira explicitamente no plano.
Em 1869, o Director Geral de Artilharia propôs a transformação das nossas espingardas Enfield em Snider, como tinha feito o Exército Britânico, mas salientava que a “arma do futuro” deveria ser a Martini-Henry. Adquiriram-se então Sniders novas, culatras para transformar as nossas Enfield (estas culatras vieram em muito mau estado) e maquinaria para produzir munições. E em Liège compraram-se espingardas Enfield para transformar. O trabalho foi feito na fábrica de Armas (Santa Clara) que também fabricou munições - os primeiros cartuchos metálicos produzidos em Portugal. Foram também fabricados cartuchos Snider na Oficina Pirotécnica de Braço de Prata, pelo menos em 1880. Em 1875, tínhamos cerca de 50.000 Sniders e grande quantidade de munições. Foram empregadas nas campanhas de África onde provaram bem.
Entretanto, no que toca às indústrias militares, o General de Brigada João Manuel Cordeiro foi nomeado Director-Geral de Artilharia, em 1877, passando a dirigir os estabelecimentos produtores. Como se referiu atrás, foi um dos nomes que marcaram neste sector.
Na busca da “arma do futuro” mandámos vir 20
Martini-Henry de Inglaterra, nesse ano de 1877. Sendo experimentadas, a comissão entendeu que seria preferível a junção da culatra
Martini-Francotte ao cano francês
Gras. Mandaram-se montar 60
Martini-Gras e 60
Martini-Francotte-Gras a partir de componentes importados. As
Martini-Henry foram distribuídas a Caçadores 5 e Infantaria 16 para continuação das experiências. Foi decidida a adopção da
Martini mas a decisão não se concretizou. Em 1879, foi nomeada outra comissão onde o consenso pareceu ir para a
Martini-Francotte-Gras, mas alguns elementos foram a favor duma arma de repetição. Mais uma vez se protelou a decisão, mas nas colónias foram adquiridos lotes de
Martini-Henry pelos governadores e por particulares.
[54] A arma foi adoptada na Marinha.
[55]
Em 1878, adquirimos revólveres Abadie de 9,1 mm, como armas de defesa para oficiais, à firma belga L. Soleil et Fils, de Liége. Era uma arma de acção dupla, de excelente construção. Utilizava cartuchos de pólvora negra inicialmente vindos de Liége e, depois, fabricados na Oficina Pirotécnica e na Fábrica de Armas. Oito anos depois foram também adquiridos Abadies com um cano mais comprido, para sargentos e praças de cavalaria e artilharia. Estes revólveres foram utilizados nas campanhas de África onde se revelaram precisos, seguros e fiáveis, embora pouco potentes. Na Metrópole foram também distribuídos a forças policiais e a regedores. A Marinha também o adoptou.
As Campanhas de África (Fins do Séc XIX - Princípios do Séc XX)
A necessidade de matérias-primas para as indústrias europeias, na segunda metade do Século XIX, despertou o interesse pela África, onde elas existiam em quantidade e pouco guardadas... Por isso, começaram as viagens de exploração para o interior e as movimentações para garantir essas matérias-primas, como a ocupação do Egipto pelos britânicos (1876), a primeira guerra anglo-boer (1880-81), a criação da Associação Internacional do Congo (1882) e do Sudoeste Africano (1882) e a ocupação de Madagáscar pelos Franceses (1896).
A assinatura do Tratado do Zaire (1884), em que a Grã-Bretanha reconhecia a soberania portuguesa na foz do Zaire e em que Portugal fazia algumas cedências, criou discordâncias entre as potências europeias, levando à Conferência de Berlim (1884-85), convocada pelos alemães e franceses. O Acto Geral de Berlim (1885), que terminou a conferência, reflectiu a política de Bismarck, não revalidando o Tratado do Zaire, reconhecendo o Estado do Congo e criando um novo direito colonial com base na ocupação efectiva do território.
Com os nossos direitos históricos ameaçados, teríamos que enviar expedições para África, onde a nossa ocupação efectiva era essencialmente no litoral. Já tínhamos problemas de pacificação em algumas áreas da Guiné, Angola e Moçambique e outros, mais graves, se anteviam. Nessa altura as nossas armas portáteis eram ainda as espingardas e carabinas Snider de tiro a tiro (muitas delas resultantes da transformação das Enfield) e as carabinas Westley-Richards dos caçadores e da cavalaria. Era necessário adquirir armas mais modernas e de repetição
No ano do Acto Geral de Berlim (1885), assinámos um contrato com a firma Ostereichische Waffen Fabrik Gesellschaft (OE.W.F.G.) em Steyer, na Áustria, para o fabrico de 40.000 espingardas Guedes, de tiro-a-tiro, e 9.000 carabinas de repetição Kropatschek (6.000 para caçadores e 3.000 para cavalaria). Todas as armas deveriam ser de 8 mm, utilizando os mesmos cartuchos.
As espingardas Guedes tinham sido propostas pelo alferes Guedes Dias, com uma culatra de sua invenção, e tinham sido consideradas por uma comissão de escolha “boas armas de guerra” para substituir as Snider e as Westley-Richards. Quanto às carabinas Kropatschek, eram armas notáveis para a época, robustas, precisas e de calibre reduzido.
Com este contrato mudámos de fornecedor habitual de armas portáteis, passando da Inglaterra para a Áustria. Nessa ocasião o Exército Britânico estava atrasado, utilizando a espingarda Martini-Henry; só, em 1889, adoptou a Lee-Metford de repetição e carregador central.
É estranho que se adquirissem espingardas de tiro-a-tiro simultaneamente com carabinas de repetição. A única explicação foi o desejo de ter uma espingarda “portuguesa” e poupar dinheiro com o pagamento de “royalties” por patentes. Foi um erro grave de previsão das situações de combate que se viriam a verificar em África: grandes massas de guerreiros, parte deles com armas modernas, fustigando e atacando forças relativamente pequenas.
Fig. 7 - As Armas das Campanhas de África. (Fins do Séc. XIX - Princípios do Séc. XX).
As forças do Exército empenhadas nestas campanhas estavam armadas inicialmente
com a espingarda Snider de 14,7 mm mod/1872 (1ª linha) e com a espingarda
Martini-Henry de 11,43 mm (2.ª linha). Esta última, embora não adoptada
efectivamente, foi adquirida pelos governos ultramarinos e utilizada no Exército
Colonial. Depois de 1886 foram usadas as espingardas e carabinas Kropatschek
de 8 mm (3ª e 4ª linhas) e, a partir de 1904, a Mauser Vergueiro de 6,5 mm
(5ª linha). Como armas de mão utilizaram-se o revólver Abadie de 9,1 mm
e, a partir de 1907, a pistola Parabellum de 7,65 mm (6ª linha).
Fotos: Mário Álvares
Mas, desta vez, tivemos sorte: as
Guedes apresentaram problemas mecânicos no manejo da culatra e na extracção dos invólucros. O contrato com a firma austríaca foi renegociado, sendo substituídas as 40.000
Guedes por igual número de espingardas
Kropatschek, com o aumento de despesa de 132.000 réis. Juntamente com a França (espingarda
Lebel) fomos o primeiro país na Europa a adoptar um calibre reduzido. Escreveu o General Cordeiro: “o novo contrato cumpriu-se sem inconveniente e o Exército adquiriu uma arma excelente”.
[56] A Marinha adquiriu também 3.000 espingardas e 1.000 carabinas.
A
OE.W.F.G. procurou vender as
Guedes em fase de produção. Encontrou bons compradores nas repúblicas boeres do Transvaal e do Estado Livre de Orange, então no intervalo entre as duas guerras com os britânicos
[57] e sequiosas de equipamentos militares. Entre 1888 e 1889, enviou-lhes cerca de 13.000
Guedes, com os problemas de culatra resolvidos. Nas mãos de atiradores bem treinados, revelaram-se precisas e de confiança.
Depois do contrato inicial adquirimos à OE.W.F.G. mais 4.800 carabinas para a engenharia, sapadores e Guarda Fiscal (1888).
As
Kropatschek foram distribuídas às unidades metropolitanas, a algumas unidades ultramarinas
[58] e às expedições enviadas para a Guiné e, principalmente, para Angola e Moçambique. Em Portugal foram alteradas na Fábrica de Armas para utilizarem cartuchos de pólvora sem fumo, o que deve ter sido completado, por volta de 1896.
O Tenente Ayres de Ornelas dizia numa carta para sua Mãe, em 8 de Fevereiro de 1895, após o combate de Marracuene, em Moçambique: “... o fogo terrível das
Kropatschek fez o resto e às 6 horas da manhã o inimigo estava em fuga”.
[59]
Quando foram substituídas por armas mais modernas (a Mannlicher em 1896 e a Mauser-Vergueiro em 1904), as Kropatschek foram sendo retiradas das Unidades da Metrópole. Em 1916, havia apenas 4.860 em depósito. As restantes tinham ido para África ou tinham sido inutilizadas em serviço.
O prolongado uso em África, certamente com dificuldades de manutenção, levou a problemas: “No combate de Naulila, em 18 de Dezembro de 1914”, a 16ª Companhia Indígena de Moçambique (Landins) estava armada com a
Kropatschek... já incapaz de bom serviço pelo muito uso, não funcionando na maioria o mecanismo de repetição.”
[60] Todavia, quando bem tratadas, foram utilizadas por caçadores profissionais durante muitos anos.
Quanto a Barcarena, estava a trabalhar bem nestes finais do Séc XIX: “Na Exposição Industrial de 1888, realizada na Avenida da Liberdade, em Lisboa, é patente o grau de desenvolvimento adquirido pela Fábrica de Pólvora de Barcarena nos anos anteriores. Este período de florescimento é atestado por documentos coevos: ... nos últimos anos têm tomado um grande desenvolvimento satisfazendo não só as exigências do Exército como da Armada (...) a produção anual tem sido em média de 120 toneladas.”
[61] Grande parte da pólvora produzida destinava-se ao comércio, caça e minas. Em 1879 tinha sido instalada maquinaria a vapor em edifícios na margem direita da ribeira. Em 1887 o refino de salitre que se fazia em Alcântara passou para Barcarena; e no ano seguinte encerrou a Oficina Pirotécnica de Braço de Prata, passando as suas actividades no campo da pirotecnia também para Barcarena.
Em 11 de Janeiro de 1890, foi recebido em Lisboa um lacónico telegrama do governo britânico, exigindo a retirada imediata das forças militares portuguesas de territórios que são actualmente do Zimbabwe e do Malawi. Foi o tristemente famoso Ultimato que punha fim às nossas pretensões de ligação terrestre entre Angola e Moçambique, expressas no “Mapa Cor-de-rosa”. Ferindo o orgulho nacional, o Ultimato desencadeou uma grande onda de indignação e agitação no País, exacerbando os sentimentos nacionalistas e até colonialistas.
Seguiu-se um período de crise, com D. Carlos a tentar reformar a Monarquia e o modelo económico, sem resultados visíveis. “Cria-se em pouco tempo outro (modelo), marcado por um forte proteccionismo, pelo abandono do padrão ouro, pelo fim da liberdade financeira e por uma viragem para a edificação do 3º Império em África. O modelo rotativista deixa de funcionar, o que provoca o fim de 40 anos de estabilidade... os militares são essenciais nestas tentativas de auto-reforma e são eles que apoiam e incentivam o Rei. São os chamados Africanistas, a melhor parte do corpo de oficiais que passou pelas dezenas de campanhas em África.”
[62]Em meados da década de 90, o Ministério da Guerra procurava uma carabina para substituir as
Kropatschek na cavalaria e na artilharia. A escolha recaiu na
Mannlicher de 6,5 mm também produzida pela
OE.W.F.G. de Steyr. Eram armas leves e curtas, com depósito central, mais fáceis de carregar, embora mais caras. Em 1896 adquirimos 4.000 para a cavalaria e, dois anos depois, 4.500 para a artilharia.
[63]
As Mannlicher traziam munições de pólvora sem fumo, que se começaram a generalizar nos anos 90. Desde 1846, conhecia-se o algodão-pólvora, um explosivo fracturante, impróprio como propulsor. Em 1886 o químico francês de pólvora e explosivos Paul Vieille conseguiu, a partir do algodão-pólvora, produzir um explosivo propulsivo que foi empregue nos cartuchos da espingarda Lebel. Mas foi o químico sueco Nobel que, em 1888, deu maior impulso à solução do problema dos explosivos, gelatinizando o algodão-colódio com nitroglicerina. Abriu-se então o caminho para as pólvoras nitroglicéricas e nitrocelulósicas.
Em Portugal, o General de Divisão João Manuel Cordeiro, Director-Geral da Artilharia, incumbiu em 1889 o então capitão António Xavier Correia Barreto de estudar o fabrico duma pólvora sem fumo para as armas portáteis e bocas-de-fogo de artilharia, de forma a ficarmos autónomos neste campo. O capitão conseguiu obter uma pólvora de boa qualidade, semelhante às produzidas na Inglaterra e na Alemanha.
Era necessário construir ou adquirir instalações apropriadas para o fabrico de pólvora. Correia Barreto não perdeu tempo: em 1898 abriu a Fábrica de Pólvora Sem Fumo, constituída por modestos edifícios na cerca do antigo convento das Religiosas Donas de Santo Agostinho, no “formosíssimo e fértil vale de Chelas”, como diziam às crónicas do tempo. No ano seguinte, a Reorganização do Exército (Decreto de 7 de Setembro) conduzida pelo General Sebastião Teles, criou a Direcção Geral do Serviço de Artilharia em substituição do Comando Geral da Artilharia e fez ressurgir o Arsenal do Exército. Este destinava-se ao “fabrico, conserto, guarda, conservação e distribuição de todo o material de guerra”. Tinha os seguintes estabelecimentos:
- Fundição de Canhões;
- Fábrica de Armas;
- Fábrica de Pólvora;
- Fábrica de Pólvora Sem Fumo;
- Depósito de Material de Guerra.
No Regulamento do Arsenal, publicado em 1902, faz-se referência à Fábrica de Braço de Prata, embora ainda não existisse; é manifesto o desejo de fabricar material de Artilharia e armas ligeiras o que a Fundição de Canhões (encerrada em 1902) e a Fábrica de Armas não conseguiram: estavam reduzidas a trabalhos de manutenção e de alteração de material. Em 1904 começou a ser construída a nova Fábrica, em Braço de Prata, junto ao Tejo, na proximidade do local onde tinham funcionado a Real Nitreira e a Oficina Pirotécnica. Foi inaugurada em 1908, com o nome de Fábrica de Projécteis de Artilharia, o que dá ideia dos limitados objectivos iniciais; começou por fabricar granadas para as peças de tiro rápido Schneider-Canet, adquiridas em 1904.
A comissão para a escolha de armas portáteis tinha indicado, em 1903, duas espingardas: a austríaca
Steyr-Mannlicker e a Alemã
Mauser M.98, mas preferiu a última devido ao preço menor e ao bom desempenho na 2ª Guerra Boer. Simultaneamente o capitão de infantaria Alberto José Vergueiro, director da carreira de tiro de Lisboa (Belém), propôs ao Ministro da Guerra a adopção duma culatra que inventara para aplicar nas
Mauser; baseada na culatra
Mannlicher, tinha menos peças que a da
M.98. A decisão não era fácil. Porque se iria colocar uma culatra não provada numa arma considerada impecável? Como no caso da
Guedes - 13 anos antes - um certo fervor patriótico pode ter tido influência, mas também deve ter contado o facto de se evitar pagar direitos de patente
(“royalties”) da culatra alemã. O ministro decidiu pela
Mauser com a culatra Vergueiro e, em Dezembro de 1903, assinou um contrato com a
Deutsche Waffen Und Munitionsfabriken (DWM) de Berlim para o fabrico de 100.000 espingardas de calibre 6,5 mm; até então foi o maior contrato de aquisição de armas pelo Exército Português.
[64]
A Mauser-Vergueiro, como ficou conhecida em Portugal e no estrangeiro (designação oficial: espingarda de 6,5 mm m/904) começou a ser distribuída às unidades metropolitanas e a expedições ultramarinas em 1905. Não lhe foram conhecidos problemas de maior; era uma arma com muito boas condições balísticas e de fabrico cuidado.
Com a adopção destas novas e modernas espingardas pensou-se que era a altura de substituir os revólveres Abadie, os mais velhos dos quais já com 28 anos de serviço e usando ainda cartuchos de pólvora negra. No princípio do séc. XX, talvez em 1901, tinha sido nomeada uma comissão presidida pelo Coronel Mathias Nunes para examinar as pistolas automáticas então exixtentes, decidindo que a Luger alemã era a melhor; para o efeito tinham vindo alguns exemplares da Luger de 7,65 mm modelo 1900. Além das características positivas da arma, ela tinha a vantagem de ser produzida pela DWM, a quem tínhamos adquirido as espingardas Mauser. Mas não foi tomada uma decisão imediata, após o parecer da comissão. Em 1907, outra comissão confirmou o parecer da primeira. Nessa altura, estava a ser preparada uma expedição a Angola, para actuar na zona dos Cuamatos.
“A comissão de Berlim teve a ocasião de fazer a recepção das pistolas
Parabellum para armamento dos oficiais da expedição ao Cuamatos. A urgência do fornecimento e o relativamente pequeno número de pistolas então compradas obrigou a
DWM a fornecer pistolas do comércio que tinha em armazém”
[65] Estas armas deviam ser do modelo alemão de 1906.
O “relativamente pequeno número” referido pelo Capitão Gonzaga deve ser cerca de 50; os quadros orgânicos do destacamento dos Cuamatos referem 97 oficiais, incluindo os que saíram de Lisboa e os que estavam nas unidades que se lhe juntaram em Angola, mas alguns conservaram os seus Abadie.
Em 1908, recebemos um lote de 3.500 (segundo alguns autores seriam 5.000) também de 7,65 e modelo alemão de 1906. Em 1910 a Marinha adoptou também a Parabellum, mas agora de 9 mm, num total de 650.
As Parabellum eram armas elegantes, de muito boa construção e acabamento, mas eram caras e com algumas peças frágeis. Mantiveram-se em serviço durante muitos anos, mas as forças enviadas para França, em 1917, foram armadas com pistolas americanas Savage.
No ano de aquisição das Parabellum para o Exército, a crise política tinha-se exacerbado em Portugal, com os ideais republicanos ganhando força. O Rei D. Carlos foi assassinado no Terreiro do Paço, em 1 de Fevereiro. E, em 5 de Outubro de 1910, depois dum breve movimento revolucionário, foi proclamada a República.
A República. A Grande Guerra
Naturalmente, o novo regime procurou remodelar o aparelho de Estado e as Forças Armadas. Foi decidido substituir o exército permanente por “um exército democrático, de chamada de massas, do tipo suíço”. Em Maio de 1911, foi publicada a Lei de Organização Militar do Exército que, completava por outros diplomas, procurava dar corpo àqueles desígnios.
Como muitas vezes sucede, os desejos não corresponderam aos resultados. “Consumada a Revolução Republicana, os partidos e os políticos continuaram a querer interferir no Exército e até controlá-lo... A permanente e exagerada, senão desnecessária, republicanização dos quartéis, de mistura com a passividade de muitos graduados, em especial dos oficiais, reflectia-se na ordem e era visível nas frequentes insubordinações, amotinações e até assassínios.”
[66]
Esta situação foi alterada, pelo menos em parte, pelo designado Movimento das Espadas, de Janeiro de 1915, em que os oficiais da guarnição de Lisboa pretenderam entregar as suas espadas ao Presidente da República, no Palácio de Belém. Depois de vários incidentes, o Governo pediu a demissão.
No que diz respeito às indústrias militares, criou-se um órgão designado Direcção do Arsenal do Exército (1911), dependente da Arma de Artilharia, em substituição do Conselho de Administração das Fábricas e Depósitos de Material de Guerra que tinha sido criada em 1907. Dois estabelecimentos do Arsenal mudaram de nome: a Fábrica de Pólvora (de Barcarena) para Fábrica de Pólvora Negra e a Fábrica de Projécteis de Artilharia (de Braço de Prata) para Fábrica de Material de Guerra. A Fábrica de Armas (de Santa Clara) passou os seus equipamentos de fabrico e reparação de armas para Braço de Prata em 1912, mas continuou com os sectores de fabrico de cartuchame e de equipamentos e arreios.
Entretanto, em 28 de Julho de 1914, teve início a Grande Guerra, na Europa. Em 4 de Agosto, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha e, no dia seguinte, o Governo Britânico comunicava-nos que “ficará satisfeito se o Governo Português se abstiver de proclamar a neutralidade.” Dois dias depois, o nosso Presidente do Ministério declarou termos sempre correspondido à amizade das outras nações “sem esquecimento dos deveres da Aliança com a Grã-Bretanha.” Em linguagem comum, declarávamos a não-beligerância, mas não deixaríamos de cumprir os deveres resultantes da Aliança, se necessário.
Em 13 de Agosto, o Governo Britânico pediu-nos autorização para a passagem de tropas suas para a Niassalândia, através do “território do Chinde ou noutro sítio” de Moçambique. Em retaliação forças alemãs do Tanganica atacaram o nosso posto fronteiriço de Maziua, em 24 de Agosto, e, em 19 de Outubro, houve um incidente grave em Naulila, no sul de Angola, em que foram mortos vários alemães. Uns dias depois, os alemães provenientes do Sudoeste Africano, atacaram vários postos de fronteira, Cuangar, Bunja, Dirico, Sâmbio e Mucusso.
Ainda, em Outubro de 1914, o Ministério da Guerra Britânico pediu-nos a cedência de 20.000 Mauser-Vergueiro e 20 milhões de cartuchos. Atendemos o pedido, mas reduzimos o número de cartuchos para 12 milhões. Estas armas foram enviadas para a África do Sul, sendo distribuídas a unidades de infantaria montada. Na previsão de mais problemas no Norte de Moçambique e no Sul de Angola, foram preparadas e enviadas seis expedições para as nossas duas grandes colónias de África:
Estas forças, no que diz respeito a armas portáteis estavam equipadas com a espingarda Mauser-Vergueiro e com a pistola Parabellum. Nos locais de actuação foram reforçadas com unidades locais, normalmente armadas com a espingarda Kropatschek.
Além destas expedições preparámos uma Divisão Auxiliar, depois designada Divisão de Instrução, para eventual envio para França. Esta Divisão transformou-se em Corpo Expedicionário Português (CEP), em 1916.
Era uma situação singular: combatíamos contra os alemães em África, mas estávamos neutros na Europa... A questão resolveu-se quando o Governo Britânico nos pediu a requisição dos navios alemães e austríacos imobilizados nos nossos portos. Acedemos ao pedido e a Alemanha declarou-nos Guerra, em 9 de Março de 1916.
As operações em Angola tinham terminado, em Julho do ano anterior, depois da rendição dos alemães na Damaralândia ao General Botha. Mas o General Pereira d’Eça teve ainda de submeter povos rebeldes do Cuamato e Cuanhama, ex-aliados dos alemães, até Setembro.
Em fins de Janeiro de 1917, as unidades do CEP começaram a seguir para França (Brest), em navios de transporte. O CEP era constituído por uma divisão reforçada mas, em França, foi reorganizado em corpo de exército, com duas divisões, sob o comando do General Tamagnini de Abreu.
Por razões de uniformidade com o equipamento das tropas britânicas em cujo sector iriam ser integradas, as nossas unidades receberam em França armas ligeiras iguais, entre as quais espingardas Lee-Enfield de 7,7 mm. Os oficiais e alguns sargentos iam armados com pistolas americanas Savage de 7,65 mm que tínhamos adquirido, em 1915. Não há elementos seguros sobre o número de Lee-Enfield recebidas, mas terão sido mais de 40.000. Se tivesse sido necessário levar as Mauser-Vergueiro para França, poderíamos fazê-lo. Um documento, de 1916, refere a existência de 61.708 no continente (48.500 nas unidades e 13.208 em depósito); as restantes tinham sido cedidas ao Ministério da Guerra Britânica e armaram as expedições para África.

Fig. 8 - As Armas da Grande Guerra em França (1917-1918).
Quando a Alemanha nos declarou guerra, em 9 de Março de 1916,
o nosso Exército estava armado com a espingarda Mauser-Vergueiro de 6,5 mm
m/904 e a pistola Savage. O Corpo Expedicionário Português começou
a ser enviado para França em princípios de 1917, recebendo aí espingardas
Lee-Enfield de 7,7 mm por razões de uniformização com as tropas britânicas
em cujo sector se integrou. Quanto à pistola, tínhamos adquirido as Savage
de 7,65 mm nos Estados Unidos, em 1915. Foram essas as armas de mão
levadas para França. Fotos: Mário Álvares
A guerra na Europa terminou com o Armistício, de 11 de Novembro de 1918. Na África Oriental Alemã o General Von Lettow-Voerbeck rendeu-se às tropas britânicas, em 25 de Novembro. As nossas unidades vindas da França trouxeram pouco mais de 15.000 Lee-Enfield, o que se explica pelo grande número de armas destruídas ou perdidas, na Batalha de La Lys (9 de Abril de 1918).
O pós-guerra foi um período de grande turbulência em Portugal. Em Dezembro, foi assassinado o Presidente da República, Sidónio Pais. Depois houve uma série de atentados, revoltas e movimentos: em 1919 as revoltas monárquicas no Norte e em Lisboa e o ataque ao Castelo de S. Jorge; em 1921 o episódio miserável da “Noite Sangrenta”, em que foram mortos o chefe do governo António Granjo e os políticos Carlos da Maia e Machado Santos; em 1922 a tentativa de revolta do General Gomes da Costa; em 1924 revoltas radicais e tentativas de ataque ao Castelo de S. Jorge e ao Ministério da Guerra.
Destruída a credibilidade das instituições políticas, renasceu entre os oficiais a crença de que as forças militares eram “o guardião e o baluarte da independência nacional e o conquistador e defensor das liberdades políticas”.
O Estado Novo
Em 28 de Maio de 1926, eclodiu em Braga um movimento militar, que rapidamente se estendeu a todo o país, e que fez cair o governo. De início houve conflitos entre os principais mentores do movimento, Gomes da Costa, Sinel de Cordes e Mendes Cabeçadas, sanados no princípio de Julho.
O novo regime começou por uma ditadura militar, depois civil, e, após a Constituição de 1933, deu lugar ao chamado Estado Novo. Houve dificuldades internas, como a Revolução da Madeira, em 1931, e as revoltas militares de 1934, 35 e 36. Os conflitos externos - Guerra Civil de Espanha (1936-39) e a II Guerra Mundial (1939-45) - e, depois, a constituição dos dois grandes blocos geoestratégicos. A Guerra-Fria, a nossa entrada na OTAN (1949) e as Campanhas de África (1961-74) influenciaram profundamente a acção governativa e as nossas instituições militares.
Ainda em 1926, foi publicada legislação sobre a organização do Exército (Metropolitana e Colonial) apontando para a intenção de “industrializar” os estabelecimentos que constituíam o Arsenal do Exército. No ano seguinte, o decreto 14.129, de 19 de Agosto referia: “Tendo-se reconhecido que a maneira por que até hoje se tem administrado e tem laborado alguns dos estabelecimentos produtores do Ministério da Guerra não é a que melhor serve os interesses do Estado... o Arsenal do Exército desdobrar-se-á nas quatro fábricas, cessando portanto a sua existência.”
As quatro fábricas referidas passaram a ter novas designações (Fábrica de Equipamentos e Arreios, Fábrica de Cartuchame e Pólvoras Químicas, Fábrica de Pólvoras Físicas e Artifícios e Fábrica de Munições de Artilharia, Armamento e Viaturas) e ficaram na dependência do Ministério da Guerra, através da Administração-Geral do Exército. E indicava ainda o decreto: “Os estabelecimentos produtores de material de guerra terão organização e funcionamento análogos aos dos seus similares da indústria particular... sem prejuízo do seu carácter militar”. A extinção do Arsenal e a industrialização “iraram as fábricas da cómoda tutela orçamental para a vida dura da concorrência.”
[67]
A Fábrica de Armas (de Santa Clara) que, em 1911-12, tinha transferido a sua secção de armas portáteis para Braço de Prata e, em data posterior (mas antes de 1914), a de cartuchame para Chelas, transformou-se, em Fevereiro de 1927, na Fábrica de Equipamentos e Arreios.
Braço de Prata teve então um bom período de actividade, passando a produzir morteiros de 81 mm, pistolas-metralhadoras Bergmann e Metralhadoras Vickers, em pequenas quantidades, a partir de 1929.
Em 1937, houve uma nova remodelação das Forças Armadas, que ficou geralmente conhecida por “Organização de 1937”. Foi definida a política militar, criados órgãos superiores de direcção (Conselhos Superiores de Defesa Nacional, de Direcção da Guerra, Militar e do Exército) e estabelecido que as unidades territoriais fossem constituídas em “sérios elementos de força com que a defesa nacional pudesse contar”.
A Fábrica de Munições de Artilharia, Armamento e Viaturas entrou numa fase de racionalização e modernização dos processos de trabalho, ampliando-se as instalações; passou a ser constituída por Secção de Armas Portáteis, de Munições, de Artilharia, de Fundição, de Fabrico de Ferramentas, de Electricidade e Laboratórios de Metrologia e de Química.
Culminando um período de cerca de 10 anos de estudos e experiências para a adopção duma nova espingarda, foi decidida a aquisição da bem provada Mauser M98K de 7,92 mm. Em Julho de 1937 foi assinado um contracto com a Mauser Werke para a aquisição de 100.000 espingardas. Estas vieram da Alemanha parcialmente montadas, sendo completadas em Braço de Prata. Em 1939 esta Fábrica adaptou cerca de 40.000 Mauser-Vergueiro para o calibre 7,92. E, em 1941, já com a Alemanha em Guerra, vieram mais 50.000 Mauser. Assim, em 1942, tínhamos cerca de 190.000 Mauser, o que revela a preocupação de podermos vir a ser envolvidos no conflito. Em 1942, adquirimos pistolas-metralhadoras Steyr de 9 mm. E, no ano seguinte, comprámos 4.500 pistolas Parabellum de 9 mm.
Depois da assinatura do Acordo Luso-Britânico para a concessão de facilidades nos Açores (17 de Agosto de 1943), tememos a possibilidade de uma reacção militar alemã e mobilizámos um Corpo de Exército a 3 divisões que realizou manobras de cobertura de Lisboa, em Setembro-Outubro. O grande número de armas portáteis de que dispúnhamos nessa ocasião, principalmente espingardas, permitiu equipar essas 3 divisões, além das forças expedicionárias que tínhamos destacado para os Açores, Madeira, Cabo Verde, Angola e Moçambique. Recebemos então muito material de guerra do Reino Unido, como aviões, carros de combate, viatura tácticas, artilharia, blindados ligeiros e canhões anticarro, mas não armas portáteis.
Fig. 9 - Estabelecimentos Militares de Produção de Armas, Explosivos e Munições.
(Fins do Séc. XIX e Séc. XX até 1927)
Terminada a II Guerra Mundial na Europa, com a derrota da Alemanha (Maio de 1945), os aliados ocidentais ocuparam militarmente a parte Oeste do país e a URSS a zona Leste. Mas, enquanto os EUA, França e RU reduziam os efectivos e desmobilizavam, a URSS manteve um forte dispositivo militar na Alemanha de Leste e forçou a constituição de regimes comunistas nos países que tinha ocupado. Foi o início da Guerra-Fria. Sir Winston Churchill descreveu a situação duma forma sintética e dramática, num discurso em Março de 1946 nos EUA: “Uma cortina de ferro desceu sobre a Europa do Báltico ao Adriático.”
Os antigos aliados eram agora adversários e começou nova corrida aos armamentos. As armas nucleares impediram o confronto directo na Europa, mas a tensão Leste-Oeste e as ideias independentistas deram origem a uma série de conflitos armados um pouco por todo o Mundo. As “guerras quentes da Guerra-Fria”, iniciadas com a Guerra Civil da Grécia (1945-1949), foram em boa parte incitadas e apoiadas pelo Bloco Soviético e por movimentos comunistas.
Em Portugal, após a abertura das Fábricas de Chelas e de Braço de Prata, na viragem do século XIX para o XX, melhorámos as nossas produções de explosivos e de cartuchame, mas não conseguimos dispor duma indústria militar capaz de prover as nossas necessidades de material de guerra. O decreto de 1927, que tentara “industrializar” os estabelecimentos produtores, não tinha conseguido recuperar o atraso técnico e aumentar as capacidades de produção. E assim, no pós-II Guerra Mundial, foi publicado o Decreto-Lei 2.020 (19 de Março de 1947) que, no enquadramento da Lei 2.005 (14 de Março de 1945) relativa ao Fomento e Reorganização Industrial nacionais, estabeleceu as bases gerais dos estabelecimentos fabris do Exército que se passaram a designar por Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras (FNMAL), Fábrica Militar de Braço de Prata (FMBP), Fábrica Militar de Pólvoras e Explosivos (FMPE) e Fábrica Militar de Santa Clara (FMSC).
Nesse ano de 1947, foi lançado pelos EUA o Plano Marshall de ajuda à reconstrução económica da Europa, parcialmente destruída pela II Guerra Mundial. A princípio recusámos o auxílio mas, em Setembro de 1948, alterámos essa posição, devido aos nossos problemas económicos e financeiros. Recebemos então apoio financeiro, parte do qual foi investido na modernização de algumas fábricas militares.
[68]
A Fábrica Militar de Braço de Prata recebeu 2,730 milhões de dólares, o que permitiu que a sua Secção de Munições passasse a ter duas linhas de produção, uma para artilharia e outra para morteiros. A Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras recebeu 1,800 milhões de dólares, e construiu novas instalações em Moscavide, inauguradas em 1954, para onde foi transferido o sector de fabrico de metálicos e de carregamento de munições.
Em 1951, a Fábrica Militar de Pólvora e Explosivos (Barcarena) foi dada de arrendamento por 25 anos a uma sociedade mista belga, a Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena; esta companhia recebeu também 300.000 dólares do Plano Marshall; igual quantia recebeu a Sociedade Portuguesa de Mecânica e Armamento (SPMA), uma empresa privada que produzia e carregava granadas.
A Fábrica Militar de Braço de Prata iniciou, em 1948, o fabrico da pistola-metralhadora FBP segundo projecto do, então, Major Francisco Gonçalves Cardoso, que procurou integrar o que havia de melhor em armas estrangeiras modernas como a Sten britânica, a MP40 alemã e a M3 americana. Era uma arma simples e barata, mas teve problemas de segurança que deram origem a acidentes; esta falha só foi resolvida em 1963, com a aplicação dum fecho de segurança.
Em 1949, aderimos à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN ou NATO), o que veio a produzir grandes alterações nas nossas Forças Armadas, principalmente na formação de pessoal, organização de unidades, procedimentos tácticos e modernização de equipamentos e armas.
“O clima da inovação potenciou o desenvolvimento da indústria militar. Esta sendo constituída por órgãos logísticos de apoio das Forças Armadas viu-se ‘obrigada’ a acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos que a introdução de novas armas acarretava, por forma a continuar a servir como eficácia as FA nacionais.”
[69] Em 1953, os EUA encomendaram-nos 350.000 munições de artilharia de 10,5 cm, a fabricar na FMBP. Também no mesmo ano a FNMAL recebeu encomendas de firmas estrangeiras, da Alemanha, Dinamarca, Suíça e Espanha. Em 1957, foi construída uma nova fábrica de pólvora na margem direita da Ribeira de Barcarena, aproveitando fundos do Plano Marshall. Ficou instalada na zona da Fábrica de Cima da FMPE, mas não na sua dependência. Designada Fábrica de Pólvora M1, fez um lote-piloto e foi logo encerrada e entregue à FNMAL, como reserva.
Em 1959 e no início da década de 60, a República Federal Alemã colocou-nos uma série de encomendas de munições de 10,5 cm, de granadas de mão, de espingardas G3 e de munições de armas ligeiras, em números substanciais para a nossa dimensão fabril, o que contribuiu para a modernização tecnológica de Braço de Prata e de Moscavide.
As Campanhas de África (1961-74)
As sucessivas independências na Ásia e em África, após a II Guerra Mundial, as posições anti-colonialistas da Organização das Nações Unidas, a hostilidade declarada de muitos países (incluindo alguns “amigos” da OTAN) e a criação de movimentos político-militares entre emigrantes de Angola, Moçambique e Guiné nos países limítrofes, conduziram Portugal a uma posição de isolamento.
Esta situação não deixava lugar a dúvidas: ou cedíamos, concedendo a independência às possessões ultramarinas, ou teríamos de enfrentar revoltas armadas. Em Agosto de 1959, o Conselho Superior de Defesa Nacional discutiu e aprovou um conjunto de textos, vindos do Gabinete do Ministro, em que se propunha o aumento do esforço de defesa do Ultramar, em detrimento da OTAN e dos compromissos militares com a Espanha. Foi uma decisão tardia, mas que permitiu que tivéssemos um conjunto mínimo de meios de reacção. Iniciou-se a preparação de doutrina de guerra subversiva, a instrução de subunidades de escalão companhia (caçadores especiais, caçadores pára-quedistas e, depois, fuzileiros) com pessoal escolhido e a orientação das indústrias militares para as contingências que se adivinhavam.
Parte do material então existente, adquirido antes, durante e depois da II Guerra Mundial, estava obsoleto. O equipamento mais moderno do Exército estava então na 3ª Divisão, atribuída à OTAN e estacionada no Campo Militar de Santa Margarida; muito deste material, recebido através do MDAP (Mutual Defence Aid Program) estava limitado ao uso na área da OTAN, a Norte do Trópico de Câncer.
As primeiras unidades enviadas para África, a partir de 1960, estavam equipadas, no que diz respeito a armas portáteis, com a espingarda
Mauser de 7,92 mm, com as pistolas-metralhadoras
Steyr e
FBP e com a pistola
Parabellum. Em 1961 adquirimos um pequeno lote de espingardas automáticas: 2.825 G3 da firma alemã
Heckler & Kock e 4.795
FAL da FN belga. Além disso, a RFA cedeu-nos por empréstimo 14.867
FAL e a África do Sul outras 12.500. Estas armas foram distribuídas a companhias e batalhões de caçadores em Angola para avaliação operacional. A escolha da arma, a construir na Fábrica Militar de Braço de Prata, recaiu na
G3, já porque era robusta e bem adaptada às condições da guerra em África, já porque a RFA nos deu grandes facilidades para o fabrico e nos encomendou 50.000 para as suas Forças Armadas. A FMBP adaptou-se, adquiriu maquinaria e passou a produzir componentes e a montar a
G3.
[70]
Ao contrário do que sucedera nas anteriores campanhas de África, em que foram sendo enviadas sucessivas expedições para resolver problemas locais, agora estabeleceram-se três teatros de operações, com comandantes-chefes dispondo de unidades vindas da metrópole (substituídas de dois em dois anos) e das forças locais. Os efectivos foram muito aumentados, conforme se pode ver no quadro seguinte:
Nota: Números redondos, considerando apenas efectivos do Exército. Não se contam os elementos de forças especiais locais, num total de cerca de 23.000 homens.
Em princípios de 1974 havia os seguintes números de unidades de combate de escalão companhia ou grupo de forças especiais:
- Angola | 322; |
- Guiné | 246; |
- Moçambique | 257. |
Estas forças necessitavam de armas em quantidade. Ainda em 1961, ano do início das operações militares em Angola foram adquiridas pistolas alemãs Walther para substituir as Parabellum e pistolas-metralhadoras belgas Vigneron, britânicas Sterling e israelitas UZI para complementar as Steyr e FBP. Esta profusão de modelos reflecte as dificuldades existentes na ocasião para adquirir material de guerra, devidas às dificuldades postas pelos vários governos.
A FMBP começou a produzir a
G-3 em 1962 (foi o modelo/63, por ter começado a ser distribuída nesse ano). Em 1963, foram fabricadas 11.867
G-3 e 5.572 pistolas-metralhadoras
FBP; em 1964, já eram 23.724 e 6.561; em 1969 os números eram 45.660 e 694. No total, até 1988, a fábrica produziu 442.197
G3, 11.153 metralhadoras
HK21, 19.113 pistolas-metralhadoras
FBP, 4.177 morteiros de 60mm e 931 morteiros de 81 mm
[71].. Se incluirmos 173.523 armas reparadas no mesmo período, teremos uma ideia de capacidade tecnológica e empresarial da fábrica que conseguiu satisfazer as necessidades nacionais de armas ligeiras durante e após as campanhas de África e permitiu ainda alguma exportação.
Quanto à FNMAL de Moscavide, em 1954, começou a fabricar cartuchame (com pólvora vinda de Chelas); em 1962, iniciou o fabrico de munição de 7,62 mm para satisfazer uma encomenda da República Federal Alemã. Com a guerra em África a produção aumentou: em 1962, fabricaram-se 130 milhões de cartuchos de 7,62 mm, 7,92 mm e 9 mm Parabellum.

Fig. 10 - As Armas das Campanhas de África (1961-74).
As primeiras forças do Exército empenhadas em combate em Angola (1961)
estavam armadas com a espingarda Mauser de 7,9 mm, a pistola-metralhadora FBP
e a pistola Parabellum, ambas de 9 mm (duas primeiras linhas). Ainda em 1961
foram distribuídas as espingardas automáticas de 7,62 mm: primeiro a FN-FAL
(terceira linha), substituída rapidamente pela G3 (quarta linha). A AR-10
(quinta linha) foi utilizada pelos pára-quedistas. A FBP foi complementada pela
Vigneron belga e pela UZI israelita e a Parabellum substituída pela Walther
(sexta linha). Fotos: MÁRIO ÁLVARES
Todavia, estes aumentos de produção não se traduziram na melhoria da situação económica das duas fábricas (ou dos outros estabelecimentos fabris do Ministério do Exército). As dificuldades financeiras sentidas pelo Exército a partir de 1961, devido às fracas dotações orçamentais para sustentar o esforço pedido, levaram a que não fossem totalmente pagos os fornecimentos de material necessário para as forças destacadas para África.
“Se por um lado a guerra trazia um aumento assinalável da produção” e consequentemente dos lucros (dos estabelecimentos fabris); por outro lado, ao contrário do que seria de esperar, os ganhos económicos resultantes foram rapidamente anulados por um conjunto de medidas que, embora tenha sido muito importante para o esforço de guerra, foi extremamente penalizador para os estabelecimentos... Entre essas medidas contam-se as reduções de margens de lucro, a rectificação de preços nas contas correntes com o Ministério do Exército e o fornecimento de munições a preço de custo. Os lucros alcançados com a exportação de munições e material cobriram o deficit das fábricas, mas as medidas tomadas abriram um precedente que veio a ser extremamente prejudicial”
[72].
Além destes problemas, “a partir de 1967, a FMBP e a FNMAL começaram a ter dificuldades na aquisição de matérias-primas no exterior (representavam então 67% das compras) por razões de ordem comercial e política e pelo aumento dos preços. Houve também problemas no planeamento da produção - teoricamente deveria ser feita a 3 ou 4 anos - devido às encomendas internas serem feitas com base nas necessidades anuais”.
[73]
Quanto à Fábrica Militar de Pólvora e Explosivos, de Barcarena, que, como se referiu atrás, em 1951 tinha sido dada de arrendamento, por 25 anos, a uma sociedade mista belga (Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena), fabricava pólvora negra para caça, pedreiras e minas, produzia artifícios pirotécnicos e fazia o carregamento de granadas de morteiro e artilharia e de bombas de avião. A produção de pólvora negra cessou, em 1972, devido uma explosão.
[74]
Com o passar dos anos a guerra em África tornou-se numa campanha de desgaste que afectou mais depressa as forças portuguesas. O golpe militar de 25 de Abril de 1974, em Portugal, veio alterar por completo o quadro político interno e ultramarino. Em 27 de Julho de 1974, foi publicada uma lei (7/74) que reconheceu o direito da independência às colónias.
O Regresso à Europa
O fim das campanhas, com a desmobilização das forças destacadas nos teatros de operações, fez baixar grandemente as necessidades de material e munições para as Forças Armadas.
Os estabelecimentos produtores, que tinham expandido as suas capacidades durante a guerra, viam-se agora em dificuldades, sem escoar os seus produtos e com a mão-de-obra largamente excedentária. Devido ao agitado período que se seguiu as exportações diminuíram e não havia possibilidades de dispensar pessoal mas apenas de limitar novas admissões.
A quebra de produção na FMBP, entre 1973 e 1977, foi a seguinte:
Fig. 11 - A Fábrica de Pólvora de Barcarena em 1967.
Nesta planta notam-se as instalações das Fábricas de Cima (1, 2 e 9) e de Baixo
(3 a 8). São visíveis os edifícios construídos na margem direita da ribeira.
Origem: A Fábrica de Pólvora de Barcarena, Oeiras, 1998.
Todavia, a FNMAL, em 1976, com recurso à exportação de cartuchos de 7,62 e 5,56 mm, aumentou o volume de vendas dos anos anteriores quase para o dobro, ocupando uma das primeiras posições internacionais na qualidade de fabrico de munições de armas ligeiras e de elos para fitas de metralhadora.
Nesse mesmo ano, a Fábrica Militar de Pólvoras e Explosivos (de Barcarena), tendo terminado o contrato de 25 anos em que foi explorada pela Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena, foi integrada na FNMAL, na tentativa de se conseguirem maior eficiência e economia na produção de pólvora e explosivos e no carregamento de bombas e granadas para exportação.
Ainda em 1976, foi desenvolvida na FMBP uma pistola-metralhadora FBP modernizada, com manga de refrigeração no cano, mas não foi adoptada em Portugal nem foi exportada. Este produto esteve a cargo do então Major Engenheiro Mário Tavares.
A difícil situação económica levou à criação, em 1980, duma empresa pública - Indústrias Nacionais de Defesa, abreviadamente INDEP, EP - englobando a FNMAL e a FMBP, que eram extintas. O decreto de criação da INDEP (515/80) reconhecia “haver uma certa rigidez na organização e gestão internas (das duas fábricas), bem como nas suas possibilidades de concentração” e que “a divisão entre elas impedia a unificação de certos serviços e o exercício duma função coordenadora”. Sob a tutela do Ministro da Defesa Nacional, a INDEP seria uma espécie de Arsenal do Exercito moderno, centralizando a produção de armas e pólvora.
Mas o sistema de direcção era pesado - um Conselho Geral com 11 membros, um Conselho de Gerência com 7 e uma Comissão de Fiscalização com 5. E as decisões do Ministro da Defesa careciam de autorização ou aprovação do Ministro das Finanças e, nalguns casos dos Ministros do Trabalho, dos Assuntos Sociais, da Indústria e da Energia e do Ministro responsável pelo planeamento. Se a difícil situação económica das duas fábricas não fosse suficiente, este sistema de direcção e decisão não augurava a vida fácil à INDEP.
Embora bem definida na lei a extinção das duas fábricas, elas continuaram a existir com os seus nomes reduzidos: Fábrica Nacional de Munições (FNM) e Fábrica de Braço de Prata (FBP).
“Com o definitivo encerramento, em 1982, da Fábrica de Chelas... foi decidido reabrir a Fábrica de Pólvora M1 para produção de pólvora de base simples”.
[75] A Fábrica de Barcarena tornou-se autónoma da FNM, na INDEP, agora com o nome de Fábrica de Pólvora e Explosivos de Barcarena (FPEB) em 1987, mas encerrou definitivamente no ano seguinte.
O carregamento de munições de artilharia ficou a cabo da SPEL, uma empresa civil comparticipada maioritariamente pelas duas fábricas da INDEP. Esta passou a sociedade anónima em 1991, com o nome Indústrias e Participações da Defesa, SA (INDEP, SA). Parece terem sido operações “cosméticas” que não resolveram os problemas da empresa.
A partir de 1986, foram desenvolvidos na Fábrica de Braço de Prata dois projectos para o fabrico de pistolas-metralhadoras, ambos coordenados pelo Capitão Engenheiro Rogério Prina,
então Director Industrial e Técnico. O primeiro foi o da
MP5, por contrato com a firma alemã
H&K (produtora da
G3); foi fabricada uma pequena pré-série, mas o projecto foi abandonado porque a Administração da INDEP optou pelo fabrico duma pistola-metralhadora portuguesa, a
LUSA. Elaborados os projectos de definição e fabrico, com base na
FBP mas com o mecanismo de disparar
HK e o cano desmontável para vários calibres incluindo o 22LR, foram construídos cerca de centena e meia de exemplares. As armas foram distribuídas aos três Ramos das Forças Armadas para avaliação. Mas foi superiormente decidido adquirir as
MP5 directamente na
H&K. Em 2003 a firma britânica
York Guns adquiriu 105
LUSAS; e a empresa americana
JLD (agora chamada
Atlantic Firearms) comprou os componentes que sobravam e passou a construir e comercializar a que chamou:
LUSA USA SP89 Pistol, em 9 mm
Parabellum.[76]
Assim acabou um projecto que permitiria equipar as Forças Armadas e de Segurança com pistolas-metralhadoras portuguesas modernas.
Em Dezembro de 1996, foi decidida uma nova remodelação nas indústrias de defesa. Foi criada uma sociedade “holding” com o estatuto de Sociedade Gestora de Participações Sociais, designada Empresa Portuguesa de Defesa, SA (EMPORDEF). Enquanto a INDEP era constituída por dois núcleos fabris do Exército, produtores de armas e munições, a EMPORDEF tinha um âmbito mais alargado. Referia o diploma fundador (DL 235-B96) que “o conjunto das empresas de defesa, OGMA e o grupo INDEP, apresentou, em 1995, prejuízos superiores a 4.100 milhares de contos … este sector carece de profunda restruturação”.
A EMPORDEF iniciou actividades, em Março de 1997, e foi expandindo a sua área de interesse para campos da tecnologia da informação, telecomunicações, engenharia de sistemas, construção aeronáutica e aeroespacial e construção e reparações navais.
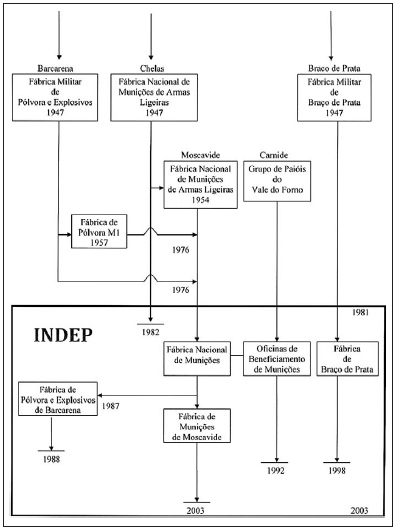
Fig. 12 - Estabelecimentos Militares de Produção de Armas,
Explosivos e Munições (de 1947 até início do Séc. XXI).
A pequena dimensão do mercado nacional, a competição com empresas estrangeiras muito fortes e bem implantadas e as contínuas dificuldades financeiras ditaram o fim do fabrico estatal de armas e munições militares em Portugal: a Fábrica de Pólvora e Explosivos de Barcarena encerrou em 1988 e a Fábrica de Braço de Prata em 1998. Sendo decidido alienar “empresas sem interesse estratégico”, a Fábrica de Munições de Moscavide fechou em 2003 e a própria INDEP foi desactivada em Dezembro desse ano e extinta em 2007.
Face à necessidade de renovar as armas ligeiras das Forças Armadas, houve vários concursos para aquisição no estrangeiro, sucessivamente adiados ao longo dos últimos 20 anos. Nitidamente as prioridades militares não estiveram orientadas para este campo. Finalmente, em 27 de Novembro de 2007, foi aberto novo concurso para a compra de 26.900 espingardas, 1.600 metralhadoras ligeiras e 4.100 pistolas.
Síntese e Conclusão
“Este Reino é obra de soldados”, lembrava Mouzinho de Albuquerque na sua famosa Carta, de 1901, ao Príncipe D. Luís Filipe. Os homens de guerra, enquadrando massas de camponeses equipados do início com armas brancas simples - espadas, piques, lanças, arcos - fáceis de produzir em oficinas artesanais, viram-se confrontados nos fins do século XIV com os desafios resultantes do aparecimento das armas de fogo.
Mais pesadas, complexas e perigosas que as armas brancas e exigindo a presença permanente de pólvora, desenvolveram-se lentamente, mas eram o caminho do futuro no equipamento militar. Começámos por importar da Biscaia e da Flandres, zonas então avançadas na tecnologia do ferro, sendo depois copiados por ferreiros e armeiros privados.
As primeiras oficinas da Coroa apareceram no reinado de D. João II, nos fins do século XV: a Casa das Ferrarias na Ribeira de Barcarena (depois conhecida por Ferrarias d’El Rey) e as Tercenas de Pinhel. D. Manuel I deu um novo impulso a estes incipientes estabelecimentos e mandou construir um Moinho de Pólvora, também em Barcarena e duas Tercenas em Lisboa: Cata-Que-Farás e Portas da Cruz.
Pinhel e Cata-Que-Farás duraram pouco tempo, talvez entre 60 a 90 anos. Ficaram assim definidas as duas zonas principais de indústrias militares: a ribeira de Barcarena, a oeste de Lisboa, em zona rural, para produção de pólvora e de armas portáteis brancas e de fogo; e as Portas da Cruz no interior da cidade, a coberto da extremidade leste da Cerca Fernandina, para o fabrico de pólvora, armas e artilharia.
Mas enquanto Barcarena tinha condições naturais para estas indústrias (pouca população, um vale apertado, um curso de água), o mesmo não se pode dizer das Portas da Cruz, inseridas no casario, em terreno acidentado e sem recursos hídricos ou florestais; as razões para a sua escolha seriam a segurança dada pela Cerca e a pequena distância à Corte e aos cais do Tejo.
Após a Restauração, ainda em 1640, foi criado um órgão de direcção das indústrias militares, a Tenência-Geral de Artilharia, com sede nas Portas da Cruz. A Tenência destinava-se a prover as forças terrestres e navais com material de guerra, pólvora e equipamentos e destinados às campanhas que se avizinhavam. De início recorreu à importação, tendo depois relançado Barcarena e as Portas da Cruz e criado novas fundições e ferrarias na região de Tomar. Todavia, não conseguiu fabricar armas portáteis nas quantidades necessárias.
Em 1695 foram encerradas as Ferrarias d’El Rey porque se considerava ser mais necessária a pólvora que as armas, o que é o reconhecimento tácito da dificuldade em produzir armas para equipar o Exército.
Há cerca de século e meio escrevia o então Major Cordeiro sobre este problema: “Em todas as épocas as nossas armas de fogo portáteis têm vindo do estrangeiro ou têm sido feitas pelo modelo destes”.
[77]
Isto não significa que fossemos incapazes de produzir boas armas de fogo. Fizemo-lo nos séculos XVIII e XIX em oficinas privadas e também na Fábrica Real, designação dada à Tenência durante algum tempo. Mas eram armas de aparato, de caça e de defesa, bem acabadas e fabricadas individualmente por mestres arneiros cujos nomes ainda hoje são citados em catálogos e livros.
A Tenência passou a designar-se Arsenal Real do Exército, em 1764. Tinha sido gravemente afectada pelo terramoto de 1755 e estava ainda em fase de reconstrução. Bem dirigido nesta ocasião, o Arsenal produziu artilharia de bronze de qualidade, reparou grande número de armas portáteis, mas, em 1791, falhou no fabrico duma espingarda portuguesa “de novo padrão”, por razões de custo: era mais barato importar que fabricar.
Quanto a Barcarena, produziu pólvora de boa qualidade e em quantidade quando ela era necessária, mas reduziu muito o seu trabalho em período de paz ou de má administração.
Durante a Guerra Peninsular recebemos de Inglaterra uma quantidade de armas como nunca tínhamos visto em Portugal: mais de 170.000 espingardas, carabinas e pistolas, que foram completadas por cópias feitas no Arsenal, geralmente de boa qualidade.
Apesar das sucessivas reorganizações do Arsenal e das mudanças de nome dos seus estabelecimentos, só no princípio do Século XX se abandonou e apertado “berço” original das Portas da Cruz - Santa Clara para a zona industrial a Nordeste de Lisboa, ampla e ainda com espaços rurais. Foram aí abertas as Fábricas de Chelas (pólvora químicas) e de Braço de Prata (armas e munições), inicialmente de dimensões modestas em relação ao que viriam a ser a partir de meados do século.
Por alturas das Campanhas de África (1961-74), reuniram-se as condições para o fabrico de armas: tínhamos necessidade delas, dificilmente as poderíamos adquirir no estrangeiro, dispúnhamos das fábricas e de tecnologia, estávamos organizados e continuávamos a aproveitar das habituais capacidades de improvisação. E assim, fabricámos espingardas (centenas de milhares), pistolas-metralhadoras, morteiros, granadas e munições suficientes para as alargadas forças de que então dispúnhamos. Mas foi um esforço pontual: o fim das campanhas (1974) e, depois, o da Guerra Fria, com a diminuição da procura e a competição com firmas estrangeiras muito fortes marcaram o fim das nossas indústrias bélicas.
Outros países com a nossa dimensão populacional, como a Bélgica e a Suíça, tiveram importantes indústrias de armas de qualidade, estatais e privadas, que ainda perduram. Nós não o conseguimos (senão no Século XX), apesar da permanente necessidade de armas desde os princípios da nacionalidade. Porquê? A principal razão foi a falta dum conceito estratégico no campo logístico da produção que nos permitisse acompanhar os desenvolvimentos políticos e militares. Por isso, funcionámos por pulsões, com orientação descontínua e reformas sucessivas que muitas vezes não foram mais que mudanças de nomes.
Outra razão foi a continuamente atrasada industrialização do país, resultante da falta de matérias-primas e de combustíveis e gravemente afectada pelas invasões estrangeiras, pelas convulsões internas e pelas capacidades dos homens.
Em resumo: fabricámos, e bem, produtos de pouca tecnologia e dependentes da habilidade individual como a pólvora negra e as armas de bronze, mas não nos adaptámos facilmente ao trabalho do ferro. Por isso as nossas armas de fogo portáteis foram importadas ou copiadas.
Uma virtude tivemos: soubemos escolher e o material que adquirimos no estrangeiro. Foi, quase sempre, de qualidade e adaptado às necessidades do momento.
Anexo
Origens e Características das Armas de Fogo Portáteis em Portugal nos Séculos XIX e XX
Armas de Antecarga
Durante muitos anos as armas de fogo portáteis nos exércitos europeus foram fabricadas em estabelecimentos do estado ou adquiridas a armeiros privados. Como nem uns nem outros podiam fornecer nas quantidades requeridas para armar todo o exército, não havia uniformidade nem se definiam “modelos”.
Na Inglaterra - e referimos a Inglaterra por ter sido daí que recebemos grande parte das armas de fogo portáteis até à década de 1880 - estabeleceu-se ... o que pode ser chamado
Sistema de Manufactura de Ordnance… o que aconteceu em 1715”
[78]. Por este sistema, armeiros privados fabricavam determinadas peças segundo padrões estabelecidos pelo
Board of Ordnance; havia então 4 grupos de armeiros “especializados” que faziam as mesmas peças: canos, fechos, guarnições e peças pequenas (gatilhos, parafusos, eixos, etc.). As peças eram enviadas para um depósito central na Torre de Londres, ou para depósitos regionais, onde eram separados e enviadas para oficinas privadas experientes na montagem das armas. Desta maneira, passou a haver maior uniformidade em cada tipo de arma.
As espingardas fabricadas segundo este sistema a partir de cerca de 1730 mantiveram-se em serviço durante uns 100 anos, com pequenas alterações. Eram armas robustas, com fechos de sílex de confiança, usando cartuchos de papel com bala esférica de .753 (19,5 mm) e baionetas de alvado
[79].
Estas espingardas foram designadas oficialmente por Long Land Muskets, mas ficaram conhecidas entre as tropas por Brown Bess, nome de origem obscura: o Brown (castanho) por ser a cor do cano e da coronha; o Bess, segundo alguns autores era uma homenagem à Rainha Elisabeth I (que tinha morrido em 1603); segundo outros era corruptela da palavra alemã büchse (arma).
A partir de 1740, passaram também a fabricar-se os Short Land Muskets, iguais aos anteriores mas com um cano mais curto cerca de 10 cm. Não se deve pensar que todas as armas britânicas da época eram as fabricadas segundo o Sistema de Manufactura da Ordnance. Também se adquiriram armas completas feitas por armeiros privados (especialmente pistolas e carabinas) e se importavam armas de Espanha da Holanda e da Alemanha.
A Revolução Francesa, iniciada em 1779, obrigou a aumentar as forças do Exército Britânico para fazer face às ameaças que viriam a surgir. Não havendo armas suficientes em depósito foram pedidas à East India Company (Companhia da Índia Oriental), uma poderosa e rica organização com sede em Londres.
Só, em 1794, a Companhia transferiu mais de 30.000 mosquetes, carabinas e pistolas dos seus armazéns em território britânico para os da Ordnance. Em 1797, passam a ser fabricado um modelo da Brown Bess mais simples e mais barato, semelhante ao das espingardas cedidas pela Companhia; este modelo tinha canos de 39 polegadas (99 cm), em vez das de 47 polegadas (1,20 m) da Long Land. Estas armas, designadas India Pattern, foram fabricadas em grandes números devido às Guerras Napoleónicas. Em Agosto de 1796 a Ordnance notificou o nosso encarregado de negócios em Londres que 12.000 mosquetes, 3.000 carabinas, 3.000 pares de pistolas e 2.000 espadas estavam prontas para ser despachadas para Portugal. As espingardas eram as Land Pattern (conhecidas como as Brown Bess), de 19,1 mm de calibre; as carabinas seriam as Potts, também 19,1, para artilharia (com baioneta de alvado) e cavalaria; as pistolas seriam as Dragoon ou Light Dragoon. Estas armas eram necessárias para repor as perdidas na campanha do Rossilhão (1973-94).
No período de 1809 a 1814, com o nosso Exército renascido e empenhado na Guerra Peninsular, recebemos da Inglaterra uma grande quantidade de armas portáteis: 160.000 espingardas Brown Bess (estas já do modelo India Pattern), 2.300 espingardas estriadas Baker, 3.000 carabinas para cavalaria, 7.000 pistolas e 15.000 sabres. As Baker eram muito mais modernas que as Land Pattern (já nossas conhecidas desde 1796); constituídas pelo armeiro Ezequiel Baker, de Whitechapel, usavam balas esféricas de menor calibre (0,626 polegadas = 15,9 mm) e tinham alcances práticos três vezes superiores; tinham sido escolhidas, em Fevereiro de 1800, pelo Exército Britânico após experiencias com outras armas estriadas, nacionais e estrangeiras. Em Portugal foram distribuídas aos batalhões de caçadores.
Depois da guerra, em 1816 e 1817, recebemos de Inglaterra, da Bélgica e da Alemanha 18.230 espingardas (provavelmente “Brown Bess” na sua maioria) 5.000 carabinas, 1.500 pares de pistolas e 3.000 espadas. E, em 1822 adquiriram-se mais 20.000 espingardas, estas em más condições.
Foi só nos princípios do Século XIX que o
Sistema de Manufactura do Ordnance foi alterado na Inglaterra e se passou a fabricar armas militares em Lewisham, Enfield, Birmingham e até na Torre de Londres. Lewisham foi a primeira fábrica a dispor duma máquina a vapor para suplementar a irregular energia hidráulica, o que permitiu acelerar a fabrico das peças para as armas
[80]. O período de 40 anos entre o fim das Guerras Napoleónicas (1815) e a Guerra da Crimeia (1854-56) foi predominantemente de paz, permitindo remediar as falhas e faltas nos equipamentos militares, nomeadamente as armas de fogo. Assistiu-se ao declínio dos fechos de pederneira, substituídos pelos de percussão, à gradual introdução das armas estriadas com cartuchos combustíveis e balas oblongas e às experiencias para adopção das armas de retrocarga. Em 1840 começou a ser distribuída aos regimentos de infantaria britânicos a espingarda
Brunswick, uma evolução da
Baker, mas com fechos de percussão; tinha apenas duas estrias e usava balas esféricas. Onze anos depois, em 1851, foi adoptada a espingarda
Minié com bala cilindro-original de expansão; e em 1853 apareceu a
Enfield Pattern 53 de .577 (14,7 mm) que teve grande êxito, sendo produzidos mais de 1 milhão de exemplares e vendida a ambos os lados da Guerra da Secessão da América (1861-65).
Em 1854 a fábrica de Enfield foi reequipada uma maquinaria americana e com uma máquina a vapor, o que permitiu grandes produções a partir de 1856.
Em Portugal, tentava-se, desde 1841, a adopção dos fechos de percussão. Uma espingarda belga foi estudada, concluindo-se que “não podia ser preferida à de sílex para o serviço do Exército”
[81]. O Coronel de artilharia Marcelino da Costa Monteiro propôs alterações ao fecho da espingarda belga; as experiências não foram totalmente conclusivas, mas foram transformadas algumas centenas de espingardas e distribuídas ao Batalhão de Caçadores 2, em Novembro de 1842 e, depois, ao Regimento de Infantaria 16 e ao Regimento de Granadeiros da Rainha. Novas alterações foram feitas, sem resultados práticos: por ocasião da Guerra da Patuleia (1846) foram retiradas às unidades as armas de percussão, sendo substituídas pelas de pederneira.
Ficaram, assim, nos armazéns do Arsenal 1.500 armas inúteis. Em 1850, o governo determinou que se voltasse a estudar o assunto e se fizessem mais experiências. Desta vez os resultados foram vantajosos.
[82] Em 1852, foi dada ordem para a conversão generalizada das armas de pederneira em percussão, mas só em 1855 se conseguiu um sistema de fechos de confiança e um bom controle de produção. “É difícil saber o número de armas que foram convertidas… No entanto estimamos esse número em 23.000 espingardas, incluindo carabinas de infantaria ligeira”
[83].
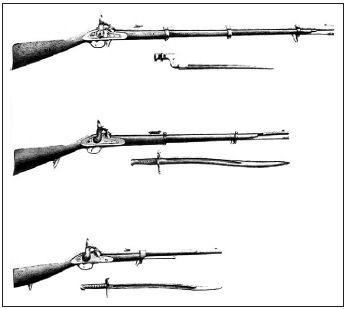
Fig. 13 - As Enfield de 14,7 mm.
Espingarda de infantaria m/1859, Carabina de caçadores m/1859
e Carabina de artilharia m/1860.
Adquiridas na Inglaterra e na Bélgica e também produzidas na Fábrica de Armas
do Arsenal do Exército, são armas de antecarga, mas já estriadas e com fechos
de percussão. Prestaram pouco tempo de serviço, devido ao advento das armas
de retrocarga. Depois de 1871 as que estavam ainda em condições de serviços
foram transformadas para retrocarga na Fábrica de Armas.
Tornaram-se, assim, em Snider.
Fotos: Rainer Daehnhardt
Apesar deste grande número de armas transformadas, em 1859 foi decidida a aquisição de armas de percussão feitas “de raiz”: 13.000 espingardas Enfield, 5.000 carabinas, também Enfield, mas já com sabre-baioneta, além de maquinaria para que a oficina de Santa Clara fabricasse também essas armas, pelo menos parcialmente; para esse efeito, viriam também 6.000 canos. Não sendo possível adquirir este material na Fábrica de Enfield (Royal Small Arms Factory), foram compradas as espingardas a Mr Goodman, Presidente da Sociedade de Fabricantes de Armas de Birmingham e as carabinas à firma P.J. Malherbe de Liège. Pretendemos também fabricar carabinas Enfield para artilharia, em Santa Clara, aproveitando canos velhos de 19,1 mm, mas os resultados foram tão maus que se importaram canos novos. Em 1866 ainda se compraram mais 5.000 espingardas Enfield; examinadas no Arsenal, apenas 1.100 foram aprovadas!
Armas de Retrocarga
Em meados do Século XIX, começava a ser evidente nos exércitos europeus, a necessidade de substituir as armas de antecarga, para se conseguirem maiores velocidades de tiro.
Mas já no Século anterior o Exército Britânico tinha experimentado armas de retrocarga: em 1776, um oficial escocês, Patrick Ferguson, apresentou uma espingarda de culatra de parafuso vertical, baseada num projecto desenvolvido pelo francês Isaac de la Chaumette 70 anos antes. Após demonstrações com esta arma, o Master General of Ordnance (Director do Material) mandou suspender o fabrico de armas de antecarga e produzir 100 espingardas Ferguson. Estas armas foram distribuídas à companhia comandada pelo próprio Ferguson, que foi enviada para América para experiências “ao vivo” na Guerra da Independência. Ferguson foi gravemente ferido em combate e a sua companhia dispersa por outras unidades.
Além das 100 Ferguson originais, outras foram fabricadas para uso na Índia e por particulares, mas a experiência perdeu-se. Havia problemas com a obturação; para que fosse completa seriam necessários cartuchos metálicos e estes só apareceram uns 80 anos depois!
Voltemos ao Século XIX. Na década de 50, o Exército Britânico decidiu adoptar armas de retrocarga para as tropas montadas. Primeiro foram 5.000 carabinas americanas
Sharp, de alavanca e cartucho combustível, que tinham sido patenteadas, em 1848. Eram armas tão seguras e precisas que chegaram a ser utilizadas cerca de 100.000 no Exército da União durante a Guerra da Secessão da América. A sua lendária precisão deu origem a uma palavra, que ainda hoje se usa na língua inglesa para atirador especial:
Sharpshooter. Depois, em 1861 foram adquiridas 20.000 carabinas
Westley-Richards à firma do mesmo nome
[84], de Birmingham. Estas armas eram muito precisas, devido ao seu cano com alma de secção octogonal (não tinham estrias) com os vértices rodando.
As tropas montadas britânicas dispunham destas duas armas notáveis, mas os regimentos de infantaria continuavam armados com as
Enfield Pattern 53 e na rotina do cartucho de papel enfiado pela boca do cano, da vareta calcando a bala e da cápsula fulminante sobre a chaminé... Nessa época o Exército Prussiano utilizava a
Dreyse[85] de agulha com culatra de escorregamento e rotação, a França dispunha do
Mousqueton des Cent Gardes de culatra de gaveta (e nome estranho) e nos Estados Unidos havia uma série de espingardas e carabinas de retrocarga.
Em 1864, o Ministério da Guerra Britânico nomeou uma comissão para estudar o assunto e propor uma arma moderna. Por razões de rapidez e economia, foi decidido converter as Enfield em armas de retrocarga, sem perder as suas qualidades balísticas. Aberto concurso, foram recebidas 47 propostas, depois reduzidas a 7. Em Abril de 1866, um americano da Pensilvânia, Jacob Snider, saiu vencedor. Seis meses depois foi ordenada a conversão de 20.000 espingardas. A modificação era simples e barata: cortava-se parcialmente o cano à retaguarda e adaptava-se uma culatra de bloco rodando para a direita sobre um eixo paralelo ao cano. Os cartuchos foram desenvolvidos, a partir de 1865, pelo coronel Edward Boxer, superintendente do Arsenal Real de Woolwick, sendo, a princípio, de papel reforçado com tiras de latão e depois totalmente metálicos com a cápsula fulminante incluída, permitindo uma obturação perfeita. Dos dois ou três tiros por minuto da Enfield passava-se para 8, com as correspondentes vantagens tácticas. A conversão foi feita em duas fábricas militares (Royal Small Arms Factories) de Enfield e Birmingham e em duas companhias privadas (Birmingham Small Arms e London Small Arms). A princípio houve dificuldades com o travamento da culatra e na extracção dos invólucros; resolvidas, deram origem à Snider-Enfield MR III nos formatos espingarda para infantaria e carabinas para cavalaria, artilharia, guardas prisionais, etc. A Snider-Enfield é o exemplo duma solução de sucesso, barata e de fácil execução. Adoptada em 1867, permitiu que unidades expedicionárias relativamente pequenas enfrentassem e derrotassem forças muito maiores. Apesar de ser uma boa arma, prestou pouco tempo de serviço como modelo das forças regulares. Ultrapassada por armas com maiores cadências de tiro, passou a ser usada por unidades coloniais.
A comissão que tinha recomendado a conversão das
Enfields decidiu, em 1868, que a melhor solução para o Exército Britânico seria a aplicação da culatra de alavanca
[86], proposta pelo engenheiro suíço Frederich von Martini ao cano apresentado pelo escocês Alexander Henry. Depois de experiências de campo, a
Martini-Henry de .45 (11,43 mm) foi adoptada em 1871. Em relação à
Snider-Enfield, duplicou a velocidade de tiro.
Ligados como estávamos à Inglaterra na aquisição de armas, era natural que seguíssemos na mesma via. Uma comissão nomeada em 1865 propôs a transformação das nossas Enfield com aplicação de culatras Westley-Richards e a aquisição de carabinas da mesma marca, adoptadas desde há 4 anos para as forças britânicas, A transformação das Enfield não foi aprovada, mas compraram-se à Westley-Richards de Birmingham 8.000 carabinas para caçadores e 2.000 carabinas e 1.000 pistolas para a cavalaria. Eram armas de calibre 11,8 mm, menor que o da Enfield. Recebidas, em fins de 1866 e em 1867, foram as nossas primeiras armas de retrocarga; leves e bem construídas, tinham uma precisão notável. A culatra rodava de trás para a frente sobre um eixo perpendicular ao cano; mas ainda eram de cartucho combustível, pelo que a obturação era deficiente.
Em 1869, o Director Geral de Artilharia, Marechal de Campo Fortunato José Barreiros propôs a transformação das Enfield em Snider, como tinham feito os britânicos, mas não deixava de salientar que a “arma do futuro” deveria ser a Martini-Henry. Dois anos depois receberam-se as primeiras 2.500 culatras Snider, das quais apenas 250 foram consideradas “sem defeito”… As outras foram para conserto.
Foram sendo adquiridas Sniders novas em Inglaterra e Enfields para transformar, em Liège. O trabalho foi efectuado na recém criada Fábrica de Armas de Santa Clara, também a produzir munições para Snider. Foram os primeiros cartuchos metálicos produzidos em Portugal (fabricaram-se também cartuchos metálicos na Oficina Pirotécnica que esteve na zona de Braço de Prata de 1876 a 1888).

Fig. 14 - As Westley-Richards, de 11,8 mm.
Carabina para caçadores m/1866, Carabina para cavalaria m/1867
e Pistola para cavalaria m/1867.
Importadas de Inglaterra, foram as nossas primeiras armas de retrocarga.
Eram bem construídas e muito precisas, mas tinham uma obturação deficiente
devido ao uso de cartuchos combustíveis.
Fotos: Jaime Regalado
Em 1874, o Ministro da Guerra Fontes Pereira de Melo referia na Câmara dos Deputados que tínhamos transformado 21.013 Enfield em Snider e que tínhamos 7.196 para transformar. No ano seguinte havia em Portugal um total de cerca de 60.000 espingardas e carabina de retrocarga, das quais 50.000 Snider e 10.000 Westley-Richards. As espingardas e carabinas Snider foram atribuídas às unidades de infantaria, artilharia e cavalaria (aqui substituíram-se as Westley-Richards). Empregadas na campanha de África, não houve reparos ao seu desempenho.
O Revólver Abadie:
A Revista Militar nº 1, de 1878, referia o seguinte: “Foi aprovado oficialmente para uso no Exército” o revólver Abbadie (sic) que é uma modificação do revólver Chamelet-Delvigne-Smith. A trajectória é muito tensa... de modo que, à distância de 39,5 m…, um homem de estatura regular (1,65 m) deverá sempre ser ferido no peito ou no estômago, quando a pontaria for dirigida à cintura... Serão adoptados dois padrões: um destinado a oficiais e outros às praças de pré de artilharia e cavalaria, este, um pouco maior e mais resistente... o seu preço é de 11 mil reis posto na alfândega.” A escolha do Abadie foi feita por uma comissão, nomeada em 1873, chefiada pelo Inspector do Material de Artilharia que analisou vários revólveres adequados ao serviço em campanha. É de notar que a Marinha usava o revólver britânico Beaumont-Adams, desde 1863, e a Guarda Municipal o Galand-Sommerville desde 1872. O Adams de percussão sobre cápsula fulminante estava já ultrapassado, mas o Galand podia considerar-se “moderno”. No Exército, a arma de mão era a pistola Westley-Richards de tiro a tiro, desde 1876... É de notar que, a partir da década de 70, se começou a generalizar o uso de revólveres Lefaucheaux entre os oficiais, adquiridos à sua custa. Eram armas de cartucho metálico, com percutor integrado.
Vejamos a origem do Abadie: a firma J. Dechourin, Fils, de St. Etiénne, em França, desenvolveu um revólver, cerca de 1876, utilizando o sistema inventado pelo engenheiro George Abadie. O revólver podia carregar-se em segurança quando se abria a janela do cilindro; este girava por acção do gatilho sem se armar o cão; outra notável inovação era o facto de se poder desmontar o sistema de disparar sem utilizar ferramentas, porque não havia parafusos exteriores, excepto o de fixação das platinas.
A firma Dechourin, talvez sem atentar bom nos méritos do revólver, vendeu os direitos de fabrico à firma belga L. Soleil et Fils, de Liège. Foi a esta sociedade que o Estado Português adquiriu os Abadie de 9,1 mm destinada a oficiais, em 1878. Como provaram bem, foi decidido adoptá-lo também para sargentos e praças de cavalaria e artilharia, com o cano mais comprido (14,2 cm em vez de 11,2 cm) que permitia maiores alcances. A compra foi efectuada em 1886, agora à firma Simons, Jarrisen & Dumoulin (S.J & D) que, entretanto, adquirira a L. Soleil et Fils (mas as marcações continuaram F. Soleil).

Fig. 15 - As Snider de 14,7 mm.
Espingarda de infantaria m/1872, Carabina de caçadores m/1872,
Carabina de artilharia m/1875 e Carabina de cavalaria m/1873.
Adquiridas na Inglaterra e também produzidas na Fábrica de Armas do Arsenal
do Exército (Santa Clara), por adaptação das espingardas e carabinas Enfield.
Foram as primeiras armas de retrocarga e cartucho metálico adoptadas no Exército.
Foram armas de transição devido ao rápido advento das espingardas de repetição.
Fotos: Jaime Regalado
As munições foram adquiridas também em Liège, mas passaram a ser fabricadas na Oficina Pirotécnica (pelo menos a partir de 1881) e pela Fábrica de Armas (pelo menos a partir de 1899). O Abadie era um revólver de excelente construção, seguro e fiável; todavia as munições de pólvora negra não permitiam grandes velocidades iniciais e as balas tinham pouca energia restante. Foi utilizado nas campanhas de África até ser substituído pela Parabellum, mas alguns oficiais continuaram a preferi-los, receosos do funcionamento das pistolas.

Fig. 16 - Os Revólveres Abadie.
São revólveres belgas, produzidos por L. Soleil et Fils, de Liège.
De calibre 9,1 mm e usando ainda cartuchos de pólvora negra,
são de muita boa construção, seguros e precisos. O de baixo foi o primeiro
a ser adquirido. É o m/1878, para oficiais. O de cima, praticamente igual,
mas de cano um pouco mais comprido, é o m/1886, para praças.
Foram usados nas Campanhas de África e estiveram em serviço
durante cerca de 30 anos.
Fotos: Hélder Duarte
Espingardas de Repetição:
A segunda metade do século XIX caracterizou-se pelo acelerado desenvolvimento industrial. No campo das armas de fogo portáteis passou-se da espingarda de antecarga, de pólvora negra e de percussão (e da correspondente pistola) para as armas estriadas de repetição, com cartuchos metálicos de pólvora sem fumo, de pequeno calibre e balas revestidas. A velocidade de tiro aumentou muito.
Uma das espingardas mais notáveis desta época foi criada pelo oficial austríaco Ferdinand Von Kropatschek, a partir da carabina de depósito tubular de Ferdinand Früwirth (1869) e da espingarda de tiro a tiro de Joseph Werndl (1873). As Kropatschek foram produzidas, a partir de 1874, no complexo fabril da firma Oestreichische Waffen Fabrik Gesellschaft (OE.W.F.G.) em Steyr, para utilizar cartuchos 11,15x58R, mas não foram adoptadas no Exército Austríaco, alegadamente por razões de ordem política.
Em 1878, a França adquiriu 25.000 destas Kropatschek para a sua Marinha. Em Portugal a comissão de rearmamento do Exército mandou vir da Áustria 5 exemplares para experiências, bem como armas de outras firmas. Entretanto, em Fevereiro de 1883, o alferes de infantaria Luiz Fausto Guedes Dias pediu autorização ao Ministro da Guerra para fazer uma prova de tiro na Fábrica de Armas com uma espingarda com culatra de sua invenção. Era uma arma de alavanca, como a Martini-Henry (que tinha sido adoptada pelo Exército Britânico em 1871), mas com mecanismo diferente.
Já anteriormente, em 1878 e 1880, o alferes Guedes Dias tinha apresentado duas propostas referentes a armas portáteis: a primeira para transformar as carabinas Westley-Richards para uso de cartuchos metálicos e a segunda para experimentar no Polígono de Vendas Novas “um novo sistema de carabina de precisão”. Tanto quanto se sabe estas propostas não foram consideradas.
Agora, em 1883, a comissão para a escolha de uma nova arma para o Exército experimentou a espingarda Guedes e mandou fazer 50 protótipos na Fábrica de Armas para continuação dos ensaios. E o alferes foi autorizado a ir à Áustria e estabelecer contactos com a firma OE.W.F.G para introduzir alterações necessárias na sua arma. Quando regressou, em finais de 1884, trouxe 19 espingardas Guedes de 11,5 mm e uma de 8 mm. As armas foram experimentadas em Vendas Novas e a comissão concluiu, em 1885, que “a espingarda de 8 mm era uma boa arma de guerra, enquanto que as de 11 mm tinham alguns defeitos”.
“Tinha sido dado o primeiro passo para a adopção militar dos pequenos calibres, de que tanto se falava na imprensa militar europeia mas que nenhum país ousara ainda adoptar.”
[87]
Em Outubro de 1885, foi assinado um contrato com a OE.W.F.G. para o fabrico de 40.000 espingardas
Sistema Guedes[88] e 9.000 carabinas
Kropatschek sendo 6.000 para caçadores e 3.000 para cavalaria, bem como máquinas para o fabrico de munições. Foram nomeados três oficiais portugueses para assistir ao fabrico. Durante o processo de fabrico (agora com cartuchos de carga ligeiramente reduzida) notaram-se deficiências nas operações de abertura da culatra e na extracção dos invólucros. Novas alterações foram sendo introduzidas, com poucos resultados, e a firma declarou não se responsabilizar pela segurança durante o tiro. O Ministro da Guerra decidiu suspender o fabrico em Março de 1886, quando já havia 18.000 espingardas em fase de acabamento. Ouvida a Comissão de Arma de Artilharia, esta concluiu que a
Guedes “devia ser rejeitada como arma de guerra” e que se devia adoptar a espingarda
Kropatschek. O contrato foi renegociado e foram substituídas as 40.000
Guedes por igual número de
Kropatschek de 8mm, com o aumento de despesa de 132.000 reis. Mantiveram-se as 9.000 carabinas e assim se conseguiu alterar uma ideia estranha: adquirir armas tiro-a-tiro e de repetição ao mesmo construtor, simultaneamente! Desta vez a sorte esteve connosco. As
Kropatschek eram armas muito boas e serviram eficazmente durante as Campanhas Ultramarinas. Depois da chegada a Portugal utilizaram-se com os seus cartuchos de pólvora negra, mas foram alterados para cartuchos de pólvora sem fumo; estas alterações devem ter sido completadas em 1896. Embora o invólucro do novo cartucho fosse mais curto, o comprimento total era o mesmo, não havendo necessidade de alterar os canos das armas, mas apenas o aparelho de pontaria.
Depois da compra inicial de 40.000 espingardas e 9.000 carabinas, outras se seguiram: 3.000 espingardas em 1887 para a Marinha, 4.800 carabinas (para sapadores, engenharia e Guarda Fiscal) em 1888 e 1.000 carabinas em 1894 (para a Marinha). Em 1891 foi adaptada uma braçadeira metálica a uma parte das carabinas de cavalaria para se poder armar baioneta; estas armas foram distribuídas à artilharia. Em 1899 começou a ser adaptado às espingardas um guarda-mão de madeira, sobre o cano, para permitir segurar melhor a arma com o cano quente (o que facilitava a carga à baioneta) e para se reduzir a refracção na linha de mira.
Fig. 17 - As Espingardas Guedes de 8 mm.
Foram fabricadas na firma OEWFG, de Steyr, com uma culatra de alavanca
inventada pelo alferes de infantaria Luís Guedes Dias em 1885. Dificuldades
na extracção dos invólucros impediram que fossem adoptadas em Portugal.
A firma resolveu o problema e vendeu cerca de 20.000 ao Transval e ao Orange.
Fotos: Jaime Regalado
Em resumo, as Kropatschek adoptadas no Exército tiveram as seguintes designações oficiais:
- Espingarda de 8 mm (K) m/1886 (Para infantaria);
- Carabina de 8 mm (K) m/1886 (Para caçadores);
- Carabina de 8 mm (K) m/1886 (Para cavalaria);
- Carabina de 8 mm (K) m/1889 (Para sapadores, engenharia e GF);
- Carabina de 8 mm (K) m/1886-91 (Para artilharia);
- Espingarda de 8 mm (K) m/1886-99 (Para infantaria).
Na proximidade do virar do século o nosso Ministério da Guerra procurara uma carabina para substituir as
Kropatschek, que não existiam em número suficiente para os Exércitos Metropolitano e Ultramarino. A escolha recaiu na
Mannlicher, também produzida pela fábrica de Steyr. Em 1896 adquirimos 4.000 para a cavalaria e, dois anos depois, mais 4.500 para a artilharia. Eram armas bem concebidas, leves, já com depósito central, de calibre reduzido (6,5 mm)... mas caras
[89].

Fig. 18 - As Kropatschek de 8 mm.
Espingarda de infantaria m/1886, Carabina de caçadores m/1886
e Carabina de cavalaria m/1886.
Fabricadas na firma austríaca OEWEG, de Steyr, foram as nossas primeiras armas
de repetição e marcam a viragem da aquisição de armas portáteis da Inglaterra
para a Áustria. Sólidas e bem construídas, foram adaptadas na Fábrica de Armas
de Santa Clara para cartuchos de pólvora sem fumo.
Fotos: Jaime Regalado
Tratava-se agora de encontrar um sucessor para as espingardas e carabinas Kropatschek da infantaria e das unidades de caçadores, sapadores e engenharia, muito utilizadas em África. Em 1898 a comissão para a escolha das armas portáteis prenunciam-se pela Steyr-Mannlicher austríaca e pela Mauser M.98 alemã, mas indicou a última devido ao preço e ao seu desempenho na 2ª Guerra Anglo-Boer.
A Espingarda Mauser-Vergueiro
A Mauser tem as suas origens em 1871, quando o prolífico alemão Peter Paul Mauser produziu a primeira espingarda de culatra de escorregamento e rotação com cartucho metálico de percussão central, a Infanterie Gewher M. 71. Embora de tiro-a-tiro, foi um sucesso imediato, passando a ser fabricada pelo governo em Spandau. Treze anos depois a M. 84 foi a primeira Mauser de repetição, com depósito tubular. Sucessivos melhoramentos culminaram na Karabiner M. 98, uma arma de balística perfeira, de mecânica fiável, com depósito central e cartuchos de pólvora sem fumo, atingindo aquilo que em inglês se designa the state of the art. A partir daí as alterações foram apenas de pormenor e a M. 98 viria a ser a espingarda alemã das duas guerras mundiais.
Em Portugal, após a indicação da Mauser pela comissão referida atrás, o capitão de infantaria Alberto José Vergueiro, director da Carreira de Tiro de Lisboa (em Belém) propôs ao Ministério da Guerra a adopção de uma culatra de sua invenção para aplicar na M. 98. Esta culatra, baseada na da Mannlicher tinha menos peças que a da Mauser (7 para 10) e era mais fácil de desmontar. O Ministro da Guerra Pimentel Pinto concordou e assinou com a Deutsche Waffen Und Munitionsfabriken (DWM), em Dezembro de 1903, um contrato para o fabrico de 100.000 espingardas Mauser-Vergueiro de 6,5 mm. Era o maior contrato de sempre de espingardas para o Exército.
A arma tinha dimensões relativamente pequenas, pelo que já não se fabricavam carabinas. A Mauser-Vergueiro começou a ser distribuída às tropas do Exército Metropolitano em 1904, tendo servido mais de meio século.
A Espingarda Lee-Enfield
A Lee-Enfield nasceu da necessidade do Exército Britânico dispor de uma arma de repetição para substituir a Martini Henry. Foi desenvolvida uma culatra de escorregamento e rotação modificada em relação às austríacas e alemãs, para se evitar o pagamento de direitos de patente. A nova arma foi adoptada em 1888 com o nome de Lee Metford. Dispunha de um carregador central, desenvolvido pelo canadiano-escocês James Paris Lee; as munições eram já de calibre reduzido: passou-se do .450 (11,4 mm) para o .303 (7,7 mm), mas ainda de pólvora negra.
Desenvolvimentos sucessivos culminaram na SMLE (Short Magazine Lee-Enfield) Mark III, em 1907. Foi a espingarda regulamentar britânica durante mais de 50 anos, sendo empregada nas duas guerras mundiais. Era muito sólida, bem adaptada ao serviço da campanha e com um carregador para 10 cartuchos. Sem ter as “linhas” e o acabamento da Mauser, era uma “feia-bonita”. Quando a Alemanha nos declarou guerra, em 9 de Março de 1916, começámos a preparar uma divisão de instrução, depois transformada em CEP. Por uma questão de uniformidade com as tropas britânicas em cujo sector iriam ser integradas, as nossas unidades receberam espingardas Lee-Enfield, bem como metralhadoras, depois do desembarque em França, nos princípios de 1917.

Fig. 19 - As Mauser de 6,5 mm e de 7,9 mm.
A Mauser de 6,5 mm m/904 foi construída pela firma alemã DWM, por aplicação
da culatra desenhada pelo capitão de infantaria Alberto José Vergueiro
à Mauser modelo 98. Passou a ser conhecida entre nós e no estrangeiro por
Mauser-Vergueiro. Foram fabricadas 100.000. Trinta e três anos depois adquirimos
à DWM mais 100.000 Mauser, estas no calibre 7,92 mm. Parte delas foi montada
na Fábrica de Braço de Prata. Em 1941 foram adquiridas mais 50.000.
As Mauser-Vergueiro foram transformadas para 7,92 mm na Fábrica de Braço de Prata, em 1939. O seu aspecto exterior é igual, mas o cano foi encurtado em 12,3 cm.
Fotos: Mário Álvares
“Não há uma indicação segura do número de espingardas entregues, mas possivelmente terão sido mais de 40.000 para um corpo expedicionário com cerca de 55.000 homens. Aparentemente só uma parte é trazida para Portugal depois da guerra, pois o relatório de rearmamento de 1931 refere que vieram pouco mais de 15.000, o que é normal na medida em que um grande número de espingardas se deve ter perdido com o abalo sofrido pelo CEP na batalha de La Lys”.
[90]
Depois da guerra a espingarda regulamentar continuou a ser a Mauser-Vergueiro. As Lee-Enfield vindas de França que ainda estavam em condições de serviço, bem como pequenos lotes recebidos depois, foram distribuídas a unidades do Exército ultramarino. Na metrópole foram utilizadas na instrução de esgrima de baioneta.
A Pistola Parabellum
Em 1893, o americano de origem alemã Hugh Borchardt desenhou a primeira pistola semi-automática verdadeiramente eficiente. Não encontrando interesse pela arma nos EUA, voltou à Alemanha e conseguiu que fosse fabricada pela firma Ludwig-Loewe, parte de um grande conjunto industrial e bancário. Embora o Exército alemão tenha experimentado a pistola Borchardt, não a adaptou por ser pesada e pouco prática.
Em 1898, a
Ludwig-Loewe fundiu-se com a
Deutsche Metallpatronem Fabrik, que produzia munições criando-se uma nova companhia, a
Deutsche Waffen-und Munitionsfabriken (DWM). Esta firma encarregou o seu engenheiro Georg Luger, um ex-oficial do Exército Austríaco, de introduzir alterações na
Borchardt de forma a torná-la uma pistola militar prática. Num período de transição (1898-1900) a nova arma foi chamada
Borchardt-Luger, evoluindo para a
Luger em 1900
[91], utilizava um novo cartucho, o 7,65 mm
Parabellum, nome que se veio a estender à pistola. A Suíça foi o primeiro país a adoptar a
Luger; seguiram-se os EUA que as usavam na cavalaria e em forças expedicionárias, mas não a adoptaram definitivamente. A Marinha alemã adoptou-a em 1904, agora com o cartucho 9 mm
Parabellum que se viria a tornar a munição mais usada em todo o mundo (juntamente com a .45 americana), por pistolas e pistolas-metralhadoras.
Fomos dos primeiros países com interesse nesta pistola. Uma comissão presidida pelo Coronel Mathias Nunes examinou alguns exemplares de 7,65 mm que vieram para Portugal, talvez em 1901, juntamente com outras pistolas, decidindo que a
Luger era a melhor. Não foi tomada uma decisão imediata mas, em 1907, outra comissão confirmou o parecer da primeira. Nesta ocasião estava a ser preparada uma expedição aos Cuamatos, no sul de Angola, e entendeu-se que os oficiais deveriam ser armados com as
Parabellum, como já se chamavam. “A urgência de fornecimento e o relativamente pequeno número de pistolas então compradas obrigam a
DWM a fornecer pistolas do comércio (de 7,65 mm), que tinha em armazém
[92]”. Esse pequeno número deve ter sido cerca de 50. É possível que estas
Parabellum tenham sido as primeiras utilizadas em combate em todo o mundo.
No ano de 1908, simultaneamente, com a adopção pelo Exército Alemão, veio para Portugal um lote de 3.500 (segundo alguns autores seriam 5.000), também de 7,65 mm; eram do modelo alemão de 1906 e traziam gravado o monograma M2 (de D. Manuel II) na parte superior da caixa da culatra, sobre a câmara. Dois anos depois a Marinha adoptou também a
Parabellum, mas em calibre de 9 mm e com o monograma que passou a ser conhecido por “coroa e âncora” (350 exemplares); e em 1912 vieram mais 300 para a Marinha mas agora com o monograma RP (República Portuguesa)
[93]. A diferença de calibres mostra bem a falta de coordenação entre os dois ramos.
Em 1935, foram adquiridos 564 Parabellum de 7,65 mm para a GNR. Depois, vieram também exemplares de 9 mm.
A última grande compra para o Exército fez-se 36 anos depois da primeira: em 1943, vieram 4.500 pistolas de 9 mm do modelo P. 08 do Exército Alemão.
Pode parecer estranho que se adquirissem estas armas tanto tempo depois do seu lançamento. É que, como sucedeu com as espingardas Mauser e Lee-Enfield, a P. 08 é considerado o estádio final da evolução da Parabellum, com pequenas alterações nos modelos posteriores.

Fig. 20 - As Primeiras Pistolas Parabellum.
As primeiras Luger (Parabellum) vieram para Portugal, para ensaios,
em princípios do Séc. XX; estas pistolas deviam ter o monograma de D. Carlos I
gravado na parte superior, sobre a câmara. Em 1907 adquirimos um pequeno lote
de Luger comerciais para os oficiais que tomaram parte na Campanha dos Cuamatos,
no sul de Angola. Em 1908 o Exército recebeu o primeiro lote “oficial”.
Todas estas pistolas eram de calibre 7,65 mm Parabellum. Também a Marinha
adoptou estas pistolas em 1910, mas em calibre 9 mm Parabellum.
Na foto da esquerda estão as partes superiores de duas Parabellum
do Exército, sobrepostas à capa do livro de instruções. Notam-se os nomogramas
e correspondentes a D. Carlos I e D. Manuel II. Na foto da direita,
num arranjo semelhante, estão duas pistolas da Marinha com os monogramas
“coroa e âncora” e RP (República Portuguesa). Fotos: Pat Scheid
Portugal foi dos primeiros países a adoptar esta pistola e o último a adquiri-la. Concebidas numa época em que a técnica e a arte andavam pari passu, as Parabellum foram das pistolas automáticas mais empregadas em todo o mundo, tanto por militares como civis. A sua beleza de formas e perfeição do acabamento fizeram delas objectos de culto para museus e coleccionadores. Mas tinham também algumas limitações como armas militares: eram caras, tinham peças frágeis e necessitavam de manutenção cuidada.
Lamentável foi a venda das Parabellum portuguesas, depois de abatidas, a importadores americanos, às vezes acompanhadas de documentos de arquivos. Numa feira de armas na Virgínia (EUA), em 2006, um vendedor oferecia uma “coroa e âncora” por 5.000 dólares... e parece que não era legítima.
A Pistola Savage
No início da Grande Guerra (depois chamada I Guerra Mundial), em Julho de 1914, declarámos a neutralidade, mas tivemos de enfrentar ataques alemães no Norte de Moçambique e no Sul de Angola.
De início, o Governo Britânico desaconselhou a nossa entrada no conflito na Europa, mas começámos a preparar forças para essa eventualidade e para expedições em África. Dispunhamos então de espingardas Mauser-Vergueiro em quantidade, mas faltavam-nos armas de mão e metralhadoras.
Não podíamos adquirir estas armas nos habituais fabricantes europeus, quase todos envolvidos no conflito, pelo que nos virámos para os EUA. Em 1915, adquirimos 1.200 pistolas à Savage Arms Company de Utica, no Estado de Nova Iorque. Esta firma, conhecida pelas suas armas de desporto de boa qualidade, tinha produzido, em 1906, uma pistola com um sistema simples de retardamento de abertura da culatra. Uma ligeira rotação do cano, da ordem dos 5 graus, era suficiente para garantir o travamento apesar da violência do recuo produzido pelos cartuchos de calibre.45 (11,43 mm). Este sistema tinha sido patenteado pelo Major Elbert Searle, em Novembro de 1905, e passou a ser conhecido por Hesitation Locked Breech. A pistola foi experimentada no Exército dos EUA, mas perdeu a competição, em 1911, com a Colt, desenhada por John Browning, que se viria a tornar regulamentar mais de 70 anos.
Entretanto, a
Savage Arms Company passou a produzir o mesmo tipo de pistola em calibre.32 (7,65 mm) e.38 (9 mm) para uso civil, com bom êxito de vendas. Foi então que adquirimos as
Savage 7,65 mm. “Desta vez não há referências a comissões de oficiais para avaliação, ensaio e escolha” são pouco claros os critérios que levaram à escolha da
Savage, para além da sua disponibilidade. As armas foram atribuídas aos oficiais e sargentos que seguiram para França, em 1917. Com o retorno destas forças, muitas
Savage foram recuperadas e distribuídas à Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Guarda-Fiscal e Guardas-Nocturnos”
[94].
Na opinião dum autor americano “a
Savage era bem construída, com os melhores materiais, tinha uma boa empunhadura, era leve, tinha uma excelente pontaria, dispunha de um carregador com grande capacidade … mas com um mecanismo de disparar muito delicado que pode levar a disparar em tiro automático
[95]. São ainda empregadas em provas de tiro, notando-se algumas falhas. Enfim, nem a pistola perfeita, nem a “arma de arremesso” que alguns referiam.
As Espingardas Mauser de 7,9 mm
Entre 1928 e 1937, realizaram-se em Portugal estudos e experiência para a adopção duma nova espingarda. Houve até a ideia de adquirir uma espingarda semi-automática, mas as opiniões conservadoras venceram. Pensam-se na
Lee-Enfield que tínhamos utilizado em França, em 1917-18, acabando por se optar pela
Mauser M. 98K. Haveria assim uniformidade, pois a nossa espingarda regulamentar era a
Mauser-Vergueiro; por outro lado a Alemanha deu facilidades para a montagem de armas na Fábrica de Braço de Prata, com peças importadas
[96].
Em Julho de 1937, foi assinado o contrato com a Mauser Werke para a aquisição de 100.000 espingardas, o mesmo número do contrato, de 1903, para as Mauser-Vergueiro. Algumas armas viviam completas e outras em peças para a montagem em Portugal. O cartucho seria o bem provado 7,92 mm.
Inicialmente houve alguns problemas como dilatações dos canos e fractura de algumas peças, mas verificou-se que eram resultantes de má utilização das armas
[97].
Em 1939, a fábrica de Braço de Prata iniciou a transformação das Mauser-Vergueiro para o calibre 7,92 mm, o que implicou a recalibragem e encurtamento dos canos, adaptação das coronhas e outras alterações de pormenor. Foram transformadas cerca de 40.000. A designação foi Espingarda Mauser 7,9 mm m/904-39, alterada, em 1941, para Espingarda 7,9 mm m/904.
Em Julho de 1941, já com a Alemanha em guerra, foi assinado novo contrato para a aquisição de mais 50.000 Mauser que foram recebidas até 1942. Desta maneira, a partir de meados da II Guerra Mundial, Portugal dispunha de cerca de 190.000 espingardas Mauser, o que se revela a preocupação com a possibilidade de sermos envolvidos no conflito.
A Mauser serviu em Portugal até 1961/2, em unidades metropolitanas e expedicionárias do Ultramar, sendo lembrada como uma arma de confiança, bem construída e acabada e muito precisa.
Pistolas-metralhadoras
As pistolas-metralhadoras apareceram na I Guerra Mundial, pela necessidade de se conseguirem grandes massas de fogos produzidas por armas automáticas portáteis de infantaria, nas fases cruciais do assalto ou da defesa imediata. A primeira foi desenhada pelo italiano Revelli, sendo conhecida por Villar Perosa nome da fábrica construtora. Era constituída por duas armas automáticas pequenas, ligadas lado a lado, disparando cartuchos Glisenti de 9 mm (é o Parabellum com carga reduzida). Inicialmente destinava-se a ser utilizada nos aviões como arma de carlinga descoberta, mas passou para a infantaria devido à pequena energia restante das balas de 9 mm.
Passou então a ser construída pela Fiat, sendo designada Fiat m. 1915. Foi-lhes acrescentado um tripé e, por vezes, um pequeno escudo. Sendo as culatras muito leves e sem travamento, podiam atingir a espantosa cadência de 1.500 tiros por minuto em cada cano. Tentou empregar-se a tiracolo, mas com maus resultados, pelo que se tornou uma arma defensiva, de trincheira.
A verdadeira pistola-metralhadora, semelhante no peso e no manejo às muitas que se construíram depois, apareceu nas mãos dos infantes alemães, nas ofensivas da primavera de 1918. Era a MP18 Bergmann construída pela Bergmann Waffenfabrick segundo desenho de Hugh Schmeisser. Era uma “pequena metralhadora” utilizando munições de pistola 9 mm Parabellum, podendo ser usada em qualquer situação táctica.
Depois da guerra apareceu o modelo MP28, produzida inicialmente na Alemanha e depois, por venda da licença pela Herstal belga. A partir de 1929 utilizávamos esta arma no Exército e na PSP e passámos a fabricá-la em Braço de Prata, com o calibre 7,65. Por esta ocasião comprámos um pequeno lote de pistolas-metralhadoras Thompson americanas, sendo pouco claro o seu uso.
Em 1935, adquirimos algumas pistolas-metralhadoras Steyr em calibre americano .45 (11,43 mm), fabricadas na firma suíça Solothurn, subsidiária da Rheinmettal Alemã. E, em 1942, comprámos um lote maior já em calibre 9 mm Parabellum. Eram armas robustas e bem acabadas de que chegámos a ter cerca de 4.500.
Nos primeiros anos da II Guerra Mundial, os alemães começaram a produzir armas automáticas mais simples e baratas, utilizando o método de estampagem em algumas peças. Os britânicos seguiram na mesma linha e conseguiram apresentar uma pistola-metralhadora extremamente simples e de construção muito rápida. Foi a chamada
Sten[98] que rapidamente equipou todas as forças britânicas e as organizações de resistência na Europa ocupada pelos alemães. Recebemos as primeiras
Sten como armas de guarnição das autometralhadoras
Humber e carros de combate
Valentine, em 1942. Depois recebemos alguns pequenos lotes que foram atribuídos às unidades de cavalaria.
Em 1948, a Fábrica Militar de Braço de Prata passou a produzir uma pistola-metralhadora nacional, concebida pelo, então, Major Gonçalves Cardoso, que procurou integrar o que havia de melhor em armas estrangeiras, como a Sten, a MP 40 alemã e a M3 americana. Designada FBP, era uma arma simples e barata, mas com problemas de segurança iniciais que deram origem a alguns acidentes. Entre 1963 e 1975, foram fabricadas 19.113 em Braço de Prata, foram largamente utilizadas nas Campanhas de África (1961-74).
Ainda, em 1961, adquirimos mais três tipos de pistolas-metralhadoras de 9 mm: A Vigneron belga, a Sterling britânica e a Uzi israelita, todas em pequenos lotes. A Vigneron foi concebida pelo coronel Vigneron, do Exército Belga, e produzida pela SA Precision Liègeoise, em Herstal. A Sterling, era uma arma bem concebida, fiável e com bom acabamento. A UZI, desenhada pelo Judeu alemão Uziel Gal, em 1951, tem um carregador no punho e a culatra recuada, o que permite utilizá-la só com uma mão.
Em 1963, os problemas de segurança da FBP foram resolvidos com a aplicação dum fecho. Depois das campanhas de África, em 1976, foi produzido um modelo aperfeiçoado, com manga de arrefecimento à volta do cano, como na Steyr e na Sterling, mas não foi adoptado.
Nos anos 90, o Exército, a GNR e a PSP adoptaram a pistola-metralhadora MP5, produzida a partir de 1965, pela firma alemã Heckler & Koch com um sistema de culatra semelhante ao da espingarda G3. Isto permite-lhe uma boa precisão, especialmente para o primeiro tiro. Pode ser utilizada como arma automática, em rajadas de 3 tiros.
Espingardas Automáticas
A produção de espingardas automáticas seguiu-se naturalmente à das metralhadoras ligeiras, tornadas ainda mais leves. As experiências da I Guerra Mundial, levaram a que os oficiais combatentes manifestassem a necessidade duma arma que pudesse ser utilizada para fazer “fogo marchando”. Em Fevereiro de 1917, o inventor americano John Moses Browning demonstrou a sua Browning Automatic Rifle (BAR), nos arredores da cidade de Washington. Os resultados foram convincentes e o governo americano comprou os direitos de produção à Colt’s Patent Firearms Company, de Hartford, Connecticut, que tinha um contrato exclusivo com John Browning para o fabrico das suas armas.
As BAR começaram a ser produzidas na Colt’s e na Winchester Repeating Arms Company, de New Haven, também no Connecticut, e foram distribuídas a unidades que partiram para França. No fim da guerra, tinham sido produzidas cerca de 52.000. Todavia, era uma arma pesada (cerca de 8,5kg, com carregador e munições) que não podia substituir as espingardas. Entre as duas guerras várias espingardas semi-automáticas foram desenvolvidas, na Europa e na América, mas as espingardas de repetição continuaram a ser empregues nas unidades de infantaria. Armas como a BAR eram utilizadas como metralhadoras ligeiras.
A partir de 1929, os americanos realizaram experiências no Campo de Provas de Aberdeen para a escolha duma espingarda semi-automática para a infantaria. Em 1940, foi adoptada uma arma desenhada pelo franco-canadiano Jean C. Garand do Arsenal de Springfield. Era uma arma de calibre.30-06, funcionando por tomada de gases que passou a ser fabricada no Arsenal de Springfield e pela firma Winchester. Quando os EUA entraram na guerra, em Dezembro de 1941, os seus soldados eram os únicos com espingardas semi-automáticas, as M1 Garand, que provaram muito bem.
Como já se referiu atrás, durante a guerra a Alemanha, iniciou-se a produção de armas portáteis com algumas peças fabricadas por estampagem sobre chapa de aço (em vez do tradicional trabalho em aço forjado). Alguns exemplos foram a
FG42 (espingarda para pára-quedistas), a
MG42 (metralhadora), a
StG44 (“arma de assalto”)
[99] e a
VEG45 (“arma do povo”), todas elas notáveis pela simplicidade mecânica, rapidez de construção e baixo custo.
Com o fim da guerra, um engenheiro da Mauser, perito em estampagem, Ludwig Vergrimnel, refugiou-se em Espanha e foi empregado no Centro de Estudos Técnicos de Materiais Especiais (CETME). Em colaboração com técnicos espanhóis, foi desenhada e desenvolvida uma espingarda moderna, apesar das restrições de importação de matérias-primas então impostas pelos aliados à Espanha. A própria espingarda, designada por CETME, passou a equipar as Forças Armadas Espanholas, a partir de 1956. Inicialmente, de calibre 7,92 mm foi alterada para 7,62x51 (NATO). Trabalhava por inércia, com abertura retardada da culatra.
Os direitos de fabrico foram vendidos à
NWM, da Holanda, e à
Hechler & Koch,[100] da República Federal Alemã. Esta firma introduziu algumas alterações à
CETME, que foi adoptada pelo Exército Alemão, em 1959, com a designação
Gewher 3 (G3).
Outra notável espingarda europeia, do pós-guerra, foi a FAL (Fuzil Automatique Léger) produzida, a partir de 1948, pela Fabrique Nationale (FN) belga, sob desenho do engenheiro Saive. Esta arma, de tomada de gases, é um modelo de simplicidade e de fiabilidade. Tornou-se uma das espingardas mais usadas em tudo o mundo, incluindo o Reino Unido onde foi designada L1A2.
Com o início da luta armada em Angola, em 1961, o nosso Exército decidiu substituir a
Mauser por uma espingarda automática. Foram adquiridas 2.825
G3 na RFA e 4.796
FAL na Bélgica; além disso a RFA cedeu-nos, por empréstimo, 14.867
FAL e a África do Sul outras 12.500. Portugal contou assim, nos primeiros tempos de guerra em África, com cerca de 30.000
FAL[101]. Estas armas e as
G-3 foram distribuídas a companhias e batalhões de caçadores em Angola, para avaliação operacional. A escolha recaiu sobre a
G3 pelas seguintes razões:
- A RFA deu facilidade para o fabrico da arma em Portugal e encomendou-nos 50.000 para as suas Forças Armadas;
- A arma revelou-se bem adaptada às condições ambientais em África; era robusta, de confiança e relativamente fácil e barata de fabricar;
- Era uma arma de grande flexibilidade: podia ter coronha retráctil, utilizar tripé, mira telescópica, aparelho de pontaria de visão nocturna, lança-granadas e baionetas.
A Fábrica Militar de Braço de Prata que, desde 1960, estudava a produção duma espingarda automática, adaptou as suas instalações, preparou o seu pessoal e, após ter recebido maquinaria, passou a produzir componentes e a montar a
G3, a partir de 1962. Cinco anos depois, a incorporação nacional no fabrico era de 84%
[102]. Em 1973, a produção foi de 32.000
G3. Até 22 de Janeiro de 1974, tinham sido entregues às Forças Armadas e de Segurança 298.395
G3, além das 50.000 encomendadas pela RFA
[103].
A G3 foi a arma portátil básica das Campanhas de África, de 1961 a 1974. As tropas pára-quedistas utilizaram a espingarda americana Armalite, fabricada na Holanda, mais adaptada ao salto.
Já depois do fim das Campanhas adquirimos dois modelos de espingardas automáticas com calibre reduzido (.223=5.56 mm). A primeira, para substituir a Armalite, dos pára-quedistas, foi a Galil israelita, fabricada pelas Israli Military Industries (IMI), com inspiração na Valmet M62 finlandesa (que por sua vez tinha um sistema de tomada de gases baseado no da AK-47 (Kalashnikov) soviética) e na M1 Garand. A Galil equipou as unidades pára-quedistas em 1979. A segunda foi a espingarda suíça SIG SG 543, adquirida em pequeno número (umas centenas de unidades) para as tropas de operações especiais e os comandos.
A Pistola Walther
A firma Carl Walther Waffenfabrik fabricou pistolas automáticas desde 1908. Em 1938, apresentou a P38 de 9mm Parabellum, uma arma bem adaptada aos requisitos militares, que foi utilizada pelas Forças Armadas Alemãs durante a II Guerra Mundial, juntamente com a Luger.
Adquirimo-la em 1961, servindo durante as campanhas de África como a arma dos oficiais. É uma arma robusta, fiável e mais simples e barata que a Parabellum que substituiu. Depois das Campanhas de África, adquirimos mais duas pistolas em pequenas quantidades: a SIG Sauer P228 fabricada pela firma suíça Schweizerische Industrie Gesselschaft (SIG) e pela alemã Sauer & Son (que se fundiram em 1974) para as tropas de operações especiais; e a Beretta 92F, fabricada em Itália, para a Polícia do Exército.
Apêndices
1. Espingardas e Carabinas adoptadas pelo Exército Português (Séc. XIX e XX)
2. Pistolas, Revólveres e Pistolas-Metralhadoras do Exército Português
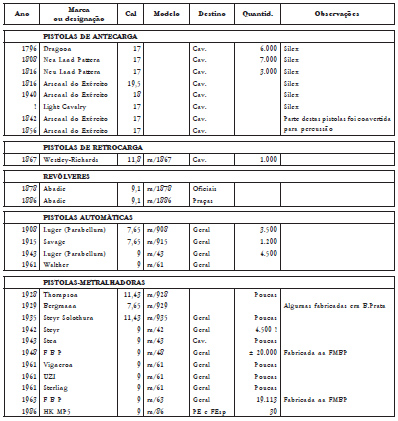
Bibliografia
Administração Geral do Exército, Notícia Histórica Sobre os Estabelecimentos Fabris do Ministério da Guerra, Lisboa, 1947
Allen, Guilherme E. Trigo, Catálogo de Armas Portáteis do Museu de Marinha, Lisboa
Bailey, DW, British Military Longarms, 1715-1815, Londres, 1971
Bailey, DW, British Military Longarms, 1815-1865, Londres, 1972
Blackmore, Howard L, British Military Firearms, 1650-1850, Londres, 1967
Barata, Filipe Themudo, Indústria Militar Nacional. Como e Porquê, Nação e Defesa, Out/Nov 1980
Barnes, Frank C, Cartridges of the World, Northfield, ILL, 1980
Chantrand, René, et al, The Portuguese Army of Napoleonic Wars, Oxford, 2000
Cordeiro, João Manuel, Apontamentos - Armas Portáteis do Exército Português, Revista Militar, 1896
Cordeiro, João Manuel, Arsenal do Exército, Revista Militar, 1868-1894
Daehnhardt, Rainer, Armaria Portuguesa, Exposição no Museu Nacional do Traje, Lisboa, 1979
Daehnhardt, Rainer, Segredos da História Luso-Alemã, Lisboa, 1998
Ferreira, João Baptista, Armas Portáteis e Material de Artilharia, Imprensa Nacional, Lisboa, 1909
Figueiredo, João G. Loureiro de, Armaria do Paço Ducal de Vila Viçosa, Fundação da Casa de Bragança, 2001
Figueiredo, João G. Loureiro de, Exposição de Armaria Portuguesa - Macau, Leal Senado de Macau, 1993
Gomes, José Luís, e Cardoso, João Luís, As Ferrarias d’el Rey em Barcarena - Subsídios para a sua História, Câmara Municipal de Oeiras, 2005
Gomes. José Luís, e Cardoso, João Luís, As Ferrarias d’el Rey em Barcarena - Resultados dos Trabalhos de Campo de 2006, Câmara Municipal de Oeiras, 2007
Grehan, John, Wellington Fighting Cocks, The Portuguese Army in the Peninsula
Guillou, Luc, e Machtelinkac, George, Le Luger, un Pistolet de Legende, Gazette des Armes, Hors Serie 9
Henriques, Mendo Castro, Salamanca 1812, Companheiros de Honra, Lisboa, 2002
Herdade, Nívio J. Ramos, Armamento do Exército Português, Direcção de Documentação e História Militar, Lisboa, 2001
Kenyon, Charles, Luger, The Multi-Nacional Pistol, Moline, Illinois, 1991
Lederer, Paul, The Portuguese Kropatschek Rifles, Gun Report, Aledo, Illinois, Maio 1993
Mardel, Luiz, História da Arma de Fogo Portátil, Lisboa, 1887
Martins, Luiz Ferreira, História do Exército Português, Lisboa, 1945
Matos, João Sarmento, et al, Caminho do Oriente - Guia do Património Industrial, Lisboa, 1999
Mendonça, Jacinto Pereira de, et al, Do Corpo de Marinheiros da Armada no seu Primeiro Centenário, Lisboa, 1956
Nobre, Eduardo, As Armas e os Barões, Lisboa, 2004
Oliveira, Arménio Ramires, et al, História do Exército Português (1910-1945), Lisboa, 1993-95
Paschoa, Armando, Armamento, Lisboa, 1951
Parkinson, Roger, The Penínsular War, Londres, 1973
Quintela, António de Carvalho, et al, A Fábrica da Pólvora de Barcarena e os seus Sistemas Hidráulicos, Câmara Municipal de Oeiras, 1995
Quintela, António de Carvalho, et al, Catálogo do Museu de Pólvora Negra, Câmara Municipal de Oeiras, 2000
Regalado, Jaime Ferreira, Reformas do Armamento Ligeiro na Regeneração, Lisboa, 2001
Regalado, Jaime Ferreira, Cuamatos 1907, Lisboa, 2004
Rolo, José Manuel, O Regresso às Armas, Ed. Cosmos, 2006
Sampaio, Luiz Vaz de, Arsenal do Exército, Revista de Artilharia, Jul-Out 1920
Santos, Nuno Valdez dos, Os Velhos Canhões de Pinhel, Revista de Artilharia, Mar-Abr 1982
Scarlata, Paul, The Snider-Enfield Rifle, Shotgun News, Dez 2006
Scheid, Patrick, The Portuguese Mistery Luger, Gun Report, Dez 2000
Scheid, Patrick, The First Portuguese-Made Cartridges - The Factories and the Guns, Gun Report, Abril 2007
Serrão, Joaquim Veríssimo, História de Portugal, Lisboa, 1976
Smith, WHB, Small Arms of the World, Harrisburg, PA, 1955
Tavares, João Moreira, Indústria Militar Portuguesa no Tempo da Guerra, 1961-74, Lisboa, 2005
Telo, António José, e Álvares, Mário, Armamento do Exército Português, Vol. I - Armamento Ligeiro, Lisboa, 2003
Vasconcelos, Nuno, e tal, Fábrica da Pólvora de Barcarena - Subsídios para um Roteiro de Fontes Arquivísticas e Bibliográficas, Câmara Municipal de Oeiras, 1998
Viterbo, Francisco de Sousa, O Fabrico de Pólvora em Portugal. Notas e Documentos para a sua História, Lisboa, 1896
Viterbo, Francisco de Sousa, A Armaria em Portugal, (1ª Série), Lisboa, 1908
Viterbo, Francisco de Sousa, A Armaria em Portugal, (2ª Série), Lisboa, s/d
Wilken, Patrick C., Empire Adrift, Londres, 2004
Contactos pessoais: Cristina Moura, Hélder Duarte, João de Figueiredo, João Luís Cardoso, Jaime Regalado, Jorge Salazar Braga, José de Almeida Santos, José Gonçalves Lourenço, José Luís Gomes, José da Silva Cordeiro, Miguel Sanches de Baena, Nuno Valdez dos Santos, Rogério Prina, Rainer Daehnhardt, Vasco de Sousa Coutinho.
Arranjos gráficos: José Manuel Santos
* Sócio Efectivo da Revista Militar.
_____________
[1] António José Telo,
Armamento do Exército Português, 2004.
[2] João Manuel Cordeiro,
Apontamentos para a História da Artilharia Portuguesa, Lisboa, 1895.
[3] Joaquim Veríssimo Serrão,
História de Portugal, Vol II, 1979.
[4] João Manuel Cordeiro,
Material de Guerra, 1852.
[5] Annaes de Marinha Portuguesa, 1845.
[6] António de Carvalho Quintela, et al,
A Fábrica da Pólvora de Barcarena, 1998.
[7] J. L. Gomes e J. L. Cardoso,
As “Ferrarias del Rey” em Barcarena: Subsídios para a Sua História, Estudos Arqueológicos 13, Câmara Municipal de Oeiras, 2005.
[9] J. L. Gomes e J. L. Cardoso, as “Ferrarias del Rey” em Barcarena: Resultados dos Trabalhos de Campo Realizados em 2006. Estudos arqueológicos 14. Câmara Municipal de Oeiras, 2007. [10] Tercena é um vocábulo de origem árabe, empregado na Península Ibérica para designar estaleiros de construção naval. Depois o termo generalizou-se para os estabelecimentos de fabrico de armas e pólvora.
[11] Nuno Valdez dos Santos,
Os Velhos Canhões de Pinhel, Revista de Artilharia, Março-Abril de 1982.
[12] Anadel é uma palavra de origem árabe, usada em Portugal no séc. XV, com o significado de chefe militar, capitão.
[13] A palavra
espingarda, proveniente do italiano
Spingarde, começou a ser usada em Portugal e Espanha em finais do séc. XV; a
spingarde era uma boca-de-fogo naval de pequeno calibre e de retrocarga
, correspondente ao nosso berço. Em França utilizou-se o termo
spingole (talvez proveniente do mesmo étimo) que era uma espécie de bacamarte. Entre nós a palavra espingarda começou a generalizar-se, substituindo gradualmente os termos arcabuz e mosquete e mantendo-se até aos nossos dias, enquanto nos outros países de língua latina se usou e usa o termo fuzil (ou suas traduções).
[14] Francisco de Sousa Viterbo,
O Fabrico da Pólvora em Portugal, Revista Militar Nº 1, 1856.
[15] M. Augusto da Silva,
Fábrica da Pólvora, Archivo Pitoresco, 1863.
[16] A Fábrica foi extinta em 1988, mas a Câmara Municipal de Oeiras adquiriu os terrenos, requalificou as estruturas da Zona Sul e criou o Museu da Pólvora Negra. O local continua a chamar-se Fábrica de Pólvora de Barcarena. E na toponímia da zona restam nomes ligados ao Exército e às indústrias militares: a povoação de Tercena e as Ruas dos Artilheiros, dos Sargentos, da Fábrica da Pólvora, das Ferrarias d’El Rei, dos Engenhos, das Oficinas a Vapor, da Carreira de Tiro, dos Paióis e dos Polvoristas.
[17] A Porta da Cruz, na parte oriental da Cerca Fernandina (construída entre 1373 e 1375) localizava-se no cimo da actual Rua do Museu de Artilharia, antiga Rua Nova. Foi demolida em 1774 para dar passagem à enorme zorra de levou a estátua equestre de D. José da Fundição de Cima para a Praça do Comércio.
[18] Francisco de Sousa Viterbo,
O Fabrica da Pólvora em Portugal. Revista Militar N.º1, 1856.
[19] Idem.
A Armaria em Portugal, 1909.
[20] Joaquim Veríssimo Serrão,
História de Portugal, Vol III, 1978.
[21] Alexandre Herculano, Panorama, Vol VI.
[22] J. M. Cordeiro, Apontamentos -
Armas Portáteis do Exército Português, Revista Militar, 1896.
[23] J. L. Gomes e J. L. Cardoso,
As “Ferrarias del Rey” em Barcarena: Subsídios para a sua História, Estudos Arqueológicos 13, Câmara Municipal de Oeiras, 2005.
[24] Carta de Gonçalo Leitão de Melo, de 22 de Dezembro de 1641.
[25] No Museu da Pólvora Negra de Barcarena existe um bacamarte naval e dois arcabuzes desta época, que foram recondicionados de fechos de mecha para pederneira, com travão “à portuguesa”. Nos despojos duma nau afundada em Mombaça, cerca de 1690, foram encontrados restos de duas dezenas de bacamartes deste tipo.
[26] As primeiras baionetas (de “enfiar” no cano) tiveram origem na região da cidade francesa de Bayonne, na primeira metade do séc. XVII. Foram usadas na Guerra dos 30 anos (1618-48), onde também apareceram os mosquetes ligeiros e os cartuchos de papel, estes introduzidos pelo Rei da Suécia Gustavo Adolfo. As baionetas de alvado, que permitiam o tiro, foram inventadas também em França por Vauban, sendo adoptadas no seu exército cerca de 1685.
[27] Jeremy Black,
The War in the Eighteenth Century, Londres, 1999.
[28] As armas de pederneira começaram a aparecer em Portugal no reinado de D. Sebastião, quase 130 anos antes!
[29] Frei Cláudio da Conceição, Gabinete Histórico, 1820.
[30] Fortunato de Almeida,
História de Portugal, 1927.
[31] Entre 1714 e 1837 o trono britânico foi ocupado pelos monarcas da casa de Hanover, no sistema de União Pessoal.
[32] João Manuel Cordeiro,
Apontamentos - Armas Portáteis do Exército Português, Revista Militar, 1896.
[33] Honório Fiel de Lima,
Breve Notícia da Vida e dos Serviços que Prestou à Nação o Tenente-General Bartholomeu da Costa, Boletim do Arquivo Histórico Militar 45, 1975.
[34] João Manuel Cordeiro e António Augusto Ferreira,
Quadro Histórico, Lisboa, 1916.
[35] A Marinha dispunha do Arsenal de Marinha no local designado por Ribeira das Naus; destruído pelo terramoto, começou a ser reconstruído 4 anos depois. Em 1939 foi transferido para a margem sul do Tejo, sendo então chamado Arsenal do Alfeite.
[36] João Manuel Cordeiro,
Apontamentos - Armas Portáteis do Exército Português, Revista Militar, 1896.
[37] Filho de escocês, alistou-se no Exército Português, prestando serviço até ao posto de Tenente-General. Faleceu no Brasil em 1808.
[38] Howard L. Blackmore, British Military Firearms, 1650-1850. Londres, 1967. O “Chevalier d’Almeida” era o nosso encarregado de negócios em Londres, D. João de Almeida de Mello e Castro.
[39] A designação
Brown Bess resultou da cor castanha do cano e, parece, do diminutivo do nome da Rainha Elisabeth I (que já tinha morrido em 1603).
[40] Patrick Wilcken,
Império à Deriva, Porto, 2004.
[41] Damião Peres,
História de Portugal, Barcelos, 1934.
[42] Mendo Castro Henriques,
Salamanca 1812, Companheiros de Honra, Lisboa, 2002.
[43] John Greham, Wellington Fighting Cocks,
The Portuguese Army in The Peninsula.
[44] René Chartrand e Bill Younghushband,
The Portuguese Army of The Napoleonic Wars, Oxford 2000.
[45] Os cartuchos de papel apareceram na Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). Primeiro continham apenas a carga individual de pólvora, depois também a bala. Já no Séc XIX apareceram os cartuchos combustíveis feitos com papel nitrado, tecido ou pele.
[46] O Termo “clavina”, corruptela popular de carabina, foi usado até ao Séc XIX, aplicado a armas curtas de antecarga. A palavra chegou a ser empregada em documentos oficiais.
[47] João Manuel Cordeiro,
Apontamentos - Armas Portáteis do Exército Português, Revista Militar, 1896.
[48] J.M. Cordeiro,
O Arsenal do Exército, Revista Militar, 1868.
[50] Jaime Ferreira Regalado,
Reformas do Armamento Ligeiro na Regeneração, Lisboa, 2001.
[52] J. M. Cordeiro, Apontamentos -
Armas Portáteis do Exército Português - Revista Militar, 1869.
[53] Howard L. Blackmore,
British Military Firearms, Londres, 1967.
[54] António José Telo, et al,
Armamento do Exército Português, Lisboa, 2002.
[55] João Batista Ferreira,
Armas Portáteis e Material de Artilharia, Lisboa, 1909.
[56] J. M. Cordeiro,
Apontamentos - Armas Portáteis do Exército Português, Revista Militar, 1986.
[57] Houve duas guerras anglo-boer: 1880-81 e 1899-1902.
[58] Até 1950, existiram dois exércitos: o da Metrópole na dependência do Ministério da Guerra e o do Ultramar na dependência do Ministério das Colónias, depois Ministério do Ultramar.
[59] Jaime Ferreira Regalado,
Reformas do Armamento Ligeiro na Regeneração, 2001.
[60] General Ernesto Machado,
No Sul de Angola, Lisboa, 1956.
[61] Esteves Pereira e G. Rodrigues,
Dicionário Histórico..., Lisboa, 1906, citado em António de Carvalho Quintela, et al,
A Fábrica de Pólvora de Barcarena, Oeiras, 1998.
[62] António José Telo,
O Papel dos Militares nas Grandes Mudanças em Portugal, artigo na Nação e Defesa, Outono/Inverno 2005.
[63] Cinquenta anos depois as
Mannlicher ainda existentes foram transformadas, na Fábrica de Braço de Prata, para utilizarem munições.22 LR. Foi uma solução barata para o treino de tiro a curta distância.
[64] O capitão Vergueiro foi louvado pelo Ministro da Guerra, em 1904 “pelo valioso serviço prestado ao país, introduzindo importantes modificações na espingarda”. Faleceu, em 1908, com o posto de Tenente-Coronel.
[65] G. Gonzaga,
Pistola Automática Regulamentar, Revista Militar, Maio de 1908. A designação
Parabellum foi dada inicialmente (em 1900) aos cartuchos de 7,65 mm, estendendo-se depois às pistolas.
[66] Arménio Ramires de Oliveira, et al,
História do Exército Português (1910-45), Lisboa, 1993.
[67] Notícia Histórica Sobre os Estabelecimentos fabris do Ministério da Guerra, Administração Geral do Exército, Lisboa, 1947.
[68] José Moreira Tavares,
Indústria Militar Portuguesa no Tempo da Guerra 1961-74, Lisboa 2005.
[70] António José Telo e Mário Álvares,
Armamento do Exército Português - Volume I, Lisboa, 2004.
[71] Vasco Sousa Coutinho,
Capacidade Actual da Industria Portuguesa no Fabrico de Armas, 1989?
[72] João Moreira Tavares,
Industria Militar Portuguesa no Tempo da Guerra 1961-74, Lisboa, 2005.
[74] Armando Jorge Barreira,
Fábrica de Armas de Barcarena, Relatório Interno da INDEP, 1986.
[76] Rogério Prina,
e-mail pessoal, de Junho de 2008.
[77] J.M. Cordeiro,
Espingardas de Percussão, Revista Militar, 1852.
[78] Howard L. Blackmore,
British Military Firearms, 1650-1850, Londres, 1961
. Ordnance é a designação geral para
Material de Guerra; havia um
Board of Ordnance com sede na Torre de Londres. Entre nós utilizou-se o termo
Ordenança em vários significados: tropas auxiliares, militares utilizados para transmissão de ordens e regulamentos. Nos clubes de tiro civis utiliza-se ainda o termo
armas de ordenança para designar
armas militares. [79] Os cartuchos de papel começaram a ser usados na Guerra dos 30 Anos (1618-49) por ordem do Rei da Suécia, Gustavo Adolfo. As baionetas de alvado foram adoptadas pelo Exército Francês em 1685, passando para a Inglaterra nos finais do século XVII.
[80] A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do Século XVIII, pelo aperfeiçoamento da máquina a vapor. As primeiras indústrias a beneficiar da nova origem de energia foram as têxteis e só depois os outros sectores, incluindo o metalúrgico.
[81] Diário do Governo 91, de 19 de Abril de 1842.
[82] J.M. Cordeiro,
Material de Guerra - Espingardas de Percussão, Revista Militar, 1852.
[83] Jaime Ferreira Regalado,
Reformas do Armamento Ligeiro na Regeneração, Lisboa, 2001.
[84] A firma era uma sociedade do armeiro William Westley Richards e do engenheiro Sir Joseph Whitworth, especialista em máquinas de precisão.
[85] Concebida em 1841 pelo armeiro prussiano Johann Nickolaus Van Dreyse que tinha trabalhado com o suíço Johannes Pauly. A arma foi adoptada pela Prússia, como espingarda regulamentar, em 1855, e é considerada como uma das razões das vitórias sobre a Dinamarca (1864) e a Áustria (1866). Tinha uma velocidade prática de 5 a 6 tiros por minuto, mas o mecanismo de disparar era frágil.
[86] A ideia deste tipo de culatra veio da América. Em 1862 Henry Peabody, de Boston, patenteou o sistema em que a parte da frente do bloco da culatra descia por acção duma alavanca (que servia de guarda-mato). Não lhe foi dada importância pelas autoridades, apesar de se estar na Guerra da Secessão, Depois da guerra construíram-se mais de 100.000
Peabody para o Canadá e países europeus. Na Suíça o sistema foi aperfeiçoado por Von Martini, dando origem à
Peabody-Martini. Quando adoptada pelo Exército Britânico, o nome do inventor do sistema de culatra desapareceu...
[87] Jaime Ferreira Regalado,
Reformas do Armamento Ligeiro na Regeneração, Lisboa, 2001.
[88] Alguns Autores chamam à arma
Castro Guedes, porque o inventor por vezes usava o apelido de sua mãe (Castro), embora não o tivesse registado. No seu processo individual há um cartão-de-visita com o nome Luís Fausto de Castro Guedes Dias.
[89] A arma tinha sido desenhada pelo Barão Ferdinand Von Mannlicher, um imaginativo inventor que concebeu mais de 150 modelos de espingardas, carabinas e pistolas!
[90] António José Telo e Mário Álvares,
Armamento do Exército Português, Lisboa, 2004.
[91] Charles Kenyon Jr,
Luger: The Multi-National Pistol, Moline, Illinois, 1991.
[92] G. Gonzaga,
Pistola Automática Regulamentar, Revista Militar, Maio de 1908.
[93] Alguns possuidores de pistolas com monogramas monárquicos resolveram apagá-los à lima, para testemunhar a sua lealdade ao novo regime. Foi um desastre para os coleccionadores.
[94] Jaime Ferreira Regalado.
Pistola Savage, 2004.
[95] W.B. Smith,
Small Arms of the World, Harrisburg, Pensilvânia, 1995.
[96] António José Telo e Mário Álvares,
Armamento do Exército Português - Vol I, Lisboa, 2004.
[98] A designação
Sten derivou dos nomes dos dois desenhadores, Major R. V. Shepherd e H. J. Turpin e da fábrica produtora (Enfield).
[99] A StG44 veio a inspirar a AK (Kalashnikov) russa.
[100] Esta firma foi fundada em 1948, em Oberndorf, por Edmund Heckler e Theodor Koch. Foi adquirida em 1991 pela Royal Ordnance Britânica e pela British Aerospace; em 2002 foi vendida a investidores privados.
[101] António José Telo e Mário Álvares,
Armamento do Exército Português - Volume I, Lisboa, 2004.
[102] João Moreira Tavares,
Indústria Militar Portuguesa no Tempo da Guerra, 1961-1974, Casal de Cambra, 2005.