
Nº 2548 - Nº Temático - Maio de 2014
Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

Neste número dedicado à memória da participação de Portugal na I Grande Guerra (I GG) em terras de África, ficámos com a incumbência de revisitar um dos vários artigos publicados na Revista Militar que abordasse, de modo mais genérico, a participação de Portugal naquele conflito, na África Portuguesa.
Marcados pelos vários escritos relativos ao “esforço português em África”, da autoria do Coronel Eduardo Alfredo Araújo Barbosa e pelos inúmeros artigos sobre a I GG escritos pelo General José Estevão de Morais Sarmento (então presidente da direção da Revista Militar), escolhemos para análise mais cuidada um artigo intitulado “A Grande Guerra na África Portuguesa”, da autoria do Coronel Henrique de Pires Monteiro (1882-1958), publicado no nº 9/10 de Setembro/Outubro de 1923, do ano LXXV, da Revista Militar (pp. 456-473).
Este artigo consiste na transcrição e revisão do discurso proferido pelo autor, na sala Portugal da Sociedade de Geografia de Lisboa, durante a “sessão solene comemorativa do Esforço da Raça”, em 9 de Abril de 1923, presidida pelo Presidente da República, Dr. António José de Almeida. O Coronel Pires Monteiro[1] era então o secretário-geral da Comissão dos Padrões da Grande Guerra, numa altura de grande exaltação dos valores nacionais e em particular dos combatentes da I GG, de que também era um representante reconhecido pelos seus pares. Oficial de Administração Militar e baluarte do pensamento republicano, Pires Monteiro tinha um pensamento esclarecido sobre a guerra (como ciência social) e a estratégia (estritamente relacionada com o vetor militar), consolidado com a sua participação na I GG, designadamente como Chefe de Estado-Maior da coluna de Pereira de Eça, em Angola (1915) e como Chefe da Repartição de Organização de Instrução do Quartel-General do Corpo Expedicionário Português, entre 1917 e 1918. Claro defensor do papel pacificador das Organizações Internacionais (caso da Sociedade das Nações), foi depois Ministro, Deputado e Governador civil, tendo mais tarde sido afastado pela “purga” salazarista dos anos trinta.
Apesar da conjuntura do discurso e necessariamente das expressões de oralidade constantes no artigo em análise, Pires Monteiro tinha o dom da palavra, do saber e da experiência como combatente na I GG, nos teatros de operações africano e europeu. Nesse sentido, faremos uma leitura com especial ênfase para a parte mais ligada especificamente ao teatro africano, na linha da metodologia deste número, mas sem deixar de cuidar da guerra no seu conjunto e da conjuntura política, económica e social que Portugal então atravessava.
Reviver (citando – de acordo com a metodologia deste número) as histórias da história, com o necessário equilíbrio entre o rigor e a isenção, constituiu um desafio aliciante, com a consciência assumida de que, cem anos depois da I GG, a historiografia tem necessariamente um discurso mais rigoroso, distante e factual do que foi a participação de Portugal naquele conflito e na África Portuguesa em particular[2].
Num discurso centrado na evocação dos feitos de bravura e dos atos de “abnegação dos marinheiros e soldados […] que combateram em França e lutaram em África”, Pires Monteiro começa por sublinhar a importância da História para a construção de uma nova “Terra Portuguesa”. Destaca logo, nas suas primeiras palavras, que falará da recente epopeia africana, entendida, já então, como uma “tragédia menos conhecida mas de contornos igualmente violentos”. Ressalva igualmente, que a Comissão dos Padrões da Grande Guerra, na sua missão de erguer em Luanda e Lourenço Marques dois padrões, pretende marcar o esforço coletivo e afirmar o direito de Portugal a essas duas vastas colónias.
Exaltada a “página brilhante da nossa política externa que foi a intervenção militar na Grande Guerra”, começa por fazer alusão ao 9 de Abril de 1918, numa linguagem de afirmação da memória (típica da época), que faz a ligação permanente entre os ilustres antepassados e o povo português do século XX, “bravo e dócil […], trabalhador e inteligente”. Estas palavras plenas de exaltação, envoltas de um patriotismo assente nos símbolos são, no entanto, entrecortadas com chamadas à razão, com alusões pontuais às divisões internas e às “lutas estéreis e prejudiciais.”
Pires Monteiro justifica ainda o significado moral e material da intervenção militar da República Portuguesa na I GG, destacando “os tratados da velha aliança”[3], a defesa dos princípios do Direito, o protesto imediato contra a violação das fronteiras, e a necessidade de proteger os extensos domínios coloniais[4]. Sublinha a responsabilidade da intervenção e o papel de Portugal na I GG destacando:
“[…] somos a Nação detentora do triângulo do Atlântico e de ainda hoje extensos domínios coloniais, 23 vezes superiores ao pequeno Portugal, que é este querido torrão, cuja herança nos cumpre respeitar, tornando-a maior.
Não podíamos ser meros espectadores desse prélio, em que milhões de homens deviam cair nobremente defendendo as suas Bandeiras, mantendo-as como símbolos augustos das almas ancestrais […]. Dessa Grande Guerra deveriam resultar profundas transformações no mapa político do mundo. […] As antigas colónias do vencido deveriam atribuídas aos vencedores e – ai de Portugal! Ai das nossas colónias! – se não tivéssemos sentido, se os dirigentes e, finalmente, a alma sonhadora, o pressentimento da raça, a consciência colectiva do Povo, não tivessem compreendido a alta significação desse conflito quando ele surgiu […]
A nossa intervenção militar foi a afirmação do nosso direito e foi a confirmação das virtudes dos nossos maiores, não adormecidas. Foi o nosso Passado, que nos guiou! Foi a Epopeia das Descobertas e das Conquistas que nos impôs esta nova Epopeia do Direito e da Justiça.” (pp. 459-460)
Estas palavras representam, na sua generalidade, o discurso oficial e patriótico, em 1923 (numa altura de profunda crise política, económica e financeira)[5], independentemente das divisões internas que estiveram e estavam ainda presentes relativamente à participação de Portugal na I GG, em especial no que concerne ao teatro de operações europeu. Na realidade, as três principais razões externas que nos levaram à participação na I GG passaram pela manutenção da soberania sobre as colónias, pela independência nacional face a uma possível atitude hegemónica por parte da Espanha, mas também pelo desejo de algum afastamento relativamente ao aliado sufocante que constituía a Grã-Bretanha. Estas razões estão “diluídas” no artigo, com maior destaque para a necessidade de manutenção da soberania sobre as colónias (as razões internas fundem-se, sobretudo, nas várias mensagens que deixa entre as principais linhas). Efetivamente, “as colónias portuguesas em África eram objecto de interesse económico e estratégico por parte das grandes potências: a França, a Inglaterra e a Alemanha. […] por duas vezes antes da guerra, em 1898 e em 1912-1913, a Inglaterra e a Alemanha negociaram, entre si, secretamente, a partilha das colónias portuguesas. Durante a guerra, várias potências se interessaram pelo destino eventual das colónias portuguesas: a França, a Bélgica e a própria Itália. Mas, como é óbvio, mais do que todas elas, a Alemanha e a Inglaterra”[6].
E sobre a Batalha de La Lys fala ainda durante alguns minutos, resumindo que a divisão portuguesa cumpriu o seu dever, pois “resistiu e morreu ou foi feita prisioneira, mas não faltou ao cumprimento do seu glorioso dever.” Termina esta parte do seu discurso, fazendo alusão à homenagem tecida por um adversário (seu também, porque ali combateu…) numa inscrição escrita em alemão junto de uma aglomeração de farrapos humanos: “Aqui jaz um valente português.”
Finalmente, aborda o que foi “a Grande Guerra na África Portuguesa”, numa perspetiva de sentida homenagem e respeito pelos “gloriosos combatentes do Sul de Angola e do Norte de Moçambique”. A recente epopeia em terras de África, “teatro das primeiras lutas de ambições, o pretexto dos modernos planos de imperialismo, quando conhecidos os recursos soberbos do seu solo e as riquezas das suas inexploradas entranhas”, traduz o essencial das razões de estado, pois as emoções de quem sofreu em terras de Angola estão imbuídas nas palavras que se seguiram, traduzidas num “esboço flagrante dessa página da nossa epopeia colonial”, do seguinte modo:
“Angola e Moçambique confinavam com possessões alemãs […] No Sul de Angola se iniciaram as hostilidades. Em 18 de Dezembro de 1914 ocorreu Naulila. […] Naulila e Môngua são os dois nomes a registar […] Naulila é um combate indeciso e finaliza com honra para as nossas armas. Os vizinhos da antiga Damara invadem o nosso território e atacam com notável superioridade numérica, mas não alcançam a decisão. Cento e trinta portugueses combatem rijamente, cobrindo-se de glória e os bravos e indómitos dragões dão o exemplo de audácia e de resolução. […] Todo o Sul de Angola revoltado, os nossos fortes abandonados com armas e munições, os nossos postos – sentinelas isoladas e gloriosas e gloriosas na imensidão do sertão – tinham sido trucidados ou as suas diminutas guarnições, dolorosamente perdidas, debatiam-se na incerteza do seu destino.
Que trágicos episódios, que nobres atitudes de energia moral não registaria, quem pacientemente coligisse os depoimentos dos poucos sobreviventes […]. Foi assim o Sul de Angola em princípios de 1915! A centenas de quilómetros da costa, num clima de tormento, as febres calcinado e matando, as comunicações difíceis, sem um rápido socorro, permaneceram os gloriosos sobreviventes de Naulila. Que energia magnífica de chefes e de soldados para resistirem a tão largo período de incertezas! […].
Em Agosto dão-se os combates de Môngua. Realiza-se a marcha, que definitivamente pacificaria toda a vasta região Além Cunene. Três colunas são lançadas com objectivos bem determinados. […] O heroico quadrado Môngua fora cercado! A cavalaria dizimada pela sede! Os homens reduzidos a um quarto de ração e a dois decilitros de água em cada dia! Retirar era impossível! […]. Foram quatro dias de incertezas! Que força moral demonstraram os sitiados. Que magnifica energia evidenciou a minúscula coluna de socorro, realizando a assombrosa marcha de 110 quilómetros em três dias e três noites consecutivas, facto único nas campanhas coloniais e todo o mundo!
Naulila e Môngua são os episódios que definem a Grande Guerra na nossa província de Angola.” (pp. 464-467)
Esta abordagem da I GG em terras de Angola[7] é circunscrita a dois momentos compreensivelmente glorificados (Naulila e Môngua), no entanto, nas entrelinhas de quem combateu junto do General Pereira de Eça, notam-se as profundas fragilidades de uma tropa portuguesa impreparada para o teatro de operações, desde o terreno, às gentes, passando por um inimigo de maior dimensão e com melhor preparação. Também por isso, não esquece os camaradas mortos em campanha, como o Major Afonso Pala, o Capitão Ferreira Durão, o Capitão Sebastião Roby, o Tenente Passos e Sousa e o Alferes Damião Dias, entre outros nomes “gravados eternamente no Livro de Ouro, extenso e brilhante, do nosso soberbo martirológio colonial”. Não esquece, ainda, a luta no mar que tirou a vida a Raul Cascais e Carvalho Araújo.
Apesar de Naulila ter marcado o início da intervenção portuguesa na I GG e do pessoal mobilizado para Angola[8] ter atingido números importantes no final do ano de 1914, o desenrolar da situação no teatro de operações africano transportaria o protagonismo para Moçambique, onde o número de baixas foi bastante superior (de 2133 homens, com 810 mortos em Angola, para 13.872 homens, com 4811 mortos em Moçambique!).
Relativamente a Moçambique, Pires Monteiro é mais ligeiro e distante na análise (assume inclusivamente que só conhece os episódios pelos relatos…), apesar de interpretar essa luta como “mais áspera” e indiscutivelmente mais “contínua no tempo”, entre meados de 1916 e setembro de 1918. De entre as suas palavras destacamos:
“Essa região, difícil, compreendida entre os Rios Rovuma e Zambeze, limitada pelo Oceano Índico e Lago de Niassa foi o vasto quadrilátero, onde a ação das nossas tropas metropolitanas e indígenas, se exerceu durante esses prolongados meses. Aí a guerra teve as dificuldades tremendas do clima e as complicações provocadas pela coordenação das tropas aliadas, aumentadas pela atividade prodigiosa dum adversário, que tão criteriosamente soube aplicar os princípios da guerra moderna, num teatro de operações em que todos os obstáculos só permitiam a famosa guerra de armazéns, como se praticava no século XVIII na Europa. Esse adversário foi digno do nosso esforço. […] O General v. Letow Forbeck merece bem esta homenagem. Foi um adversário, mas foi inimigo leal e decidido; as suas lições trazem-nos ensinamentos, que devemos considerar.
Nesta campanha de Moçambique há os mais emocionantes episódios. Encontram-se gritos de tragédia, gestos soberbos de leonina bravura, desprendimentos e atitudes, que constituíram o orgulho da Raça.” (p. 467)
Descreve ainda, as travessias do Rovuma, o cerco de Nevala, o episódio de Negomano, os combates de Nhamacurra, a defesa da cidade de Quelimane e os pormenores associados à valentia demonstrada por alguns heróis mortos em combate, com especial realce para o Major Leopoldo da Silva, o Tenente Viriato Sertório Correia de Lacerda, os Alferes Lemond e Campos Rego e o Major Teixeira Pinto.
Termina esta campanha destacando que “no interior de África, o tradicional quadrado era vencido pela manobra” e que os alemães souberam utilizar o soberbo princípio napoleónico – dividir-se para viver, concentrar-se para combater[9]. Na sua perspetiva, os alemães dispuseram de um excelente serviço de informações, souberam tirar partido dos indígenas e trabalharam muito bem os reconhecimentos, razões que levaram a que só se tivessem rendido na sequência do armistício, a 11 de novembro. “Foi assim áspera, com laivos de sangue, com martírio e com gestos de tenacidade e de legitimo orgulho, de valor e de persistência a Grande Guerra em Moçambique”.
Na parte final do seu discurso, Pires Monteiro carateriza de modo particularmente feliz a I GG em África (em contraponto com o teatro de operações europeu):
“Se a guerra europeia teve as tempestades de fogo, que se desencadeavam, a perseguição tenaz dum adversário que surgia debaixo da terra nas suas minas e no ar, se essa guerra teve as terríveis barragens asfixiantes, a guerra de África teve o clima mortífero, a nostalgia do isolamento, a certeza de que a fusilaria activa não atrairia reforços, a convicção de que o remuniciamento era impossível, a confiança na vitória ou a certeza de uma derrota. A guerra nas trincheiras, tinha a morte gloriosa, a guerra colonial foi o martírio obscuro!”. (pp. 471-472)
Resume ainda, as duas frentes do teatro de operações africano do seguinte modo:
“Em Moçambique foi conseguido o comando único dos aliados. A leitura atenta dos documentos publicados diz-nos as dificuldades e os melindres, que diversidades de temperamento e ambições insofridas tantas vezes ocasionaram.
Já no Sul de Angola, a uma intervenção impertinente, o altivo e nobre espírito do General Pereira de Eça respondera com a mais categórica repulsa, afirmando ao emissário: «Não há questões de hostilidades entre as forças do meu comando e o gentio chefiado pelo soba Nandume. A questão é de pura rebelião e deverá ser tratada como todos os estados soberanos tratam tais actos.»”. (p. 472)
Estas linhas servem depois de mote para uma parte final dirigida à coesão nacional, ao superior interesse da solidariedade, à fé nos destinos superiores da Humanidade. Exorta ainda os mais jovens, nomeadamente os alunos da Escola Naval e da Escola Militar, para a importância da “missão superior de orientar e conduzir a Nação Portuguesa, quando as circunstâncias nos obrigam a defender o solo sagrado da Pátria, a Honra da Bandeira da República, estabilidade social como condição de progresso”.
O facto do Coronel Pires Monteiro ter sido, simultaneamente, secretário-geral da comissão dos Padrões da Grande Guerra e combatente dos teatros de operações africano e europeu da I GG, resulta num artigo que agrega um misto de sentimento patriótico e de discurso institucional.
Na dimensão política, os argumentos da história, da memória e do direito assistem, na perspetiva de Pires Monteiro, a decisão da defesa das terras de África contra os “imperialistas alemães”, o que reforça a tese colonial como razão da entrada na guerra (olvidando a tese europeia-peninsular, que se desenvolveria na década de setenta e uma tese mais recente, relacionada com a evolução da política interna). Esse “interesse nacional”, descrito com poucos pormenores (estavam presentes os adidos dos vários países aliados que tinham manifestado, por várias vezes, interesse pelo destino das colónias portuguesas…), numa linguagem claramente política e ideológica, sustenta a defesa da intervenção militar portuguesa na I GG, salvaguardada pelos resultados posteriores de outra luta (com a pena) que se daria em Versalhes, contra os nossos próprios aliados, ciosos das riquezas das terras da África Portuguesa. Efetivamente, a necessidade de manutenção da soberania sobre as colónias foi materializada no teatro de operações com a mobilização de cerca de 49.131 homens (incluindo os soldados das forças indígenas), que combateram e morreram na defesa da terra portuguesa de África, mas também nas conferências da paz de Versalhes[10], onde os diplomatas portugueses, desde Egas Moniz a Afonso Costa, souberam enfrentar os próprios aliados, que encontravam sistematicamente argumentos para ocuparem esses territórios, da costa à contracosta[11].
Na dimensão militar, Pires Monteiro assume (até por experiência própria em Angola) as limitações portuguesas no que concerne a meios materiais e humanos, à falta de preparação, à quase ausência das informações, e mesmo a opções táticas desajustadas. Efetivamente, cem anos depois, a historiografia comprova que, em 1914, os efetivos militares do exército colonial estavam mal armados, mal equipados, mal preparados, mal enquadrados e muito pouco disciplinados. Essa foi a principal razão porque foram, de imediato (a 18 de agosto de 1914), mobilizados efetivos da ordem dos 1525 homens para Angola e 1539 para Moçambique (em novembro de 1914, já tinham sido mobilizados 4328 militares). Pires Monteiro não descreve em pormenor as questões associadas à organização e ao reforço de efetivos nas duas frentes da África portuguesa[12]. Por outro lado, descreve com alguma ligeireza, a sublevação das populações indígenas ao Sul de Angola, matéria claramente incómoda em termos políticos, mas também para quem tinha estado no território ao lado do General Pereira de Eça.
Apesar da simplicidade do discurso, Pires Monteiro quis deliberadamente diferenciar as duas frentes do teatro de operações africano (Sul de Angola e Norte de Moçambique), tendo destacado a especificidade, a dureza e a longevidade da frente de Moçambique. A frente de Angola, circunscrita a Naulila, a Môngua e às revoltas internas, foi claramente ultrapassada pelas operações na frente de Moçambique, que se estenderiam até ao final da Guerra. Em Moçambique podemos hoje simplificar os dois objetivos portugueses no plano militar: 1. reocupação de Quionga, território português ocupado pelos alemães no final do século XIX; 2. passagem do rio Rovuma e ocupação de uma parcela Sul do território da colónia alemã. Nesta frente, mais uma vez na linha dos escritos do General Ferreira Martins, se reconhece “o leal adversário dos portugueses”, o General Von Lettow Vorbeck, a par da assunção da incapacidade (desorganização e incompetência a par de “gestos soberbos de leonina bravura”) dos portugueses. Pires Monteiro centra as suas palavras nas travessias do Rovuma, no cerco de Nevala, no episódio de Negomano, nos combates de Nhamacurra, na defesa da cidade de Quelimane e muito especialmente nos mártires, deixando entre linhas a incapacidade e a incompetência do comando militar português, os erros e as limitações das tropas portuguesas (o tal martírio obscuro), situações que foram posteriormente alvo de estudos mais cuidados (que desenvolveram as três expedições e a ocupação de Kionga, entre outras questões pertinentes) e menos sentidos ou politizados[13].
Apesar dos anos, e na linha da escrita de Pires Monteiro, a historiografia continuou a descurar de algum modo o teatro de operações africano (apesar de ter reunido o consenso da sociedade portuguesa!), em detrimento do teatro europeu simbolizado por La Lys (causador de profundas clivagens na sociedade portuguesa), pois o essencial da guerra jogava-se na Europa. Apesar da maioria dos historiadores contemporâneos (caso de Nuno Severiano Teixeira) defender que “a intervenção militar no teatro de guerra africano não era decisiva em termos militares e diplomáticos”, os números relativos às baixas portuguesas na I GG, muito superiores no teatro africano (16.005 baixas, das quais 5621 mortos – que representaram 72,4% do total!), relativamente ao Europeu, têm constituído um dos principais argumentos para uma reorientação do esforço historiográfico naquele sentido. No âmbito das várias evocações dos cem anos da I GG esse esforço está finalmente a ter o espaço que merece, desde a espada de Naulila à pena de Versalhes e, inclusivamente, com o apoio dos novos Estados soberanos de Angola e Moçambique.
Como nascemos e vivemos nessa mesma África portuguesa, à “sombra” dos nomes que Pires Monteiro recordou neste artigo, os quais constituem um estandarte dos combatentes que deram a vida por Portugal e pela liberdade contra o “imperialismo alemão”, não podemos deixar de “reviver” as suas palavras finais, sempre atuais para um Portugal que deve continuar a preservar a sua memória: Honremos a sua grandiosa herança moral!
[1] Sobre o pensamento de Pires Monteiro aconselhamos a seguinte leitura: Duarte, António Paulo, Henriques Pires Monteiro: Teoria Social e Teoria da Guerra, Revista Militar, n.º 2539/2540, Agosto/Setembro 2013 (http://www.revistamilitar.pt/artigo.php?art_id=842).
[2] Para uma leitura mais cuidada de Portugal na I GG ver: Afonso, Aniceto & Gomes, Carlos de Matos, Portugal e a Grande Guerra 1914-1918, QuidNovi, 2010.
[3] É na sequência da (discutível e muito discutida) declaração governamental feita em Lisboa, a 7 de agosto de 1914, que o aliado inglês solicitou ao governo português, no dia 13, que uma força militar britânica desembarcasse na cidade da Beira e atravessasse o território de Moçambique para completar o contingente da Niassalândia.
[4] Sugere-se a leitura de: Fraga, Luís Alves de, Portugal a Europa e as colónias, Combatente, Edição 367, Março 2014, pp. 18-21.
[5] Em janeiro desse ano de 1923 tinham falido cinco bancos e, por altura da conferência, Portugal procurava obter (mais) um empréstimo no meio da agitação social (não só em torno do preço do pão, que tinha dado origem a assaltos a padarias no final do ano anterior). Apesar de tudo “o ano de 1922 foi excecionalmente bom (crescimento de 35,5% do PIB)” e o de 1923 atingiria um crescimento próximo dos 4,5% do PIB. Para mais pormenores relativos a este período da Primeira República é obrigatório ler: Telo, António José, Primeira República II: Como cai um Regime, Editorial Presença, 2011.
[6] Teixeira, Nuno Severiano& Barata, Manuel Themudo, Nova História Militar de Portugal, Círculo de Leitores, Vol 4, 2004, p. 17.
[7] A Alemanha, que era detentora da colónia do Sudoeste Africano, tinha pretensões a estender a sua presença no espaço africano, com especial destaque para o Sul de Angola. Os primeiros incidentes com as tropas alemães deram-se em Maziúa, no Norte de Moçambique, em Agosto de 1914. Entretanto, a expedição portuguesa, sob o comando de Alves Roçadas (seria substituído por Pereira de Eça), partiu a 10 e 11 de setembro de 1914 e desembarcou em Moçâmedes a 27 do mesmo mês e a 1 de Outubro (seria reforçada por novos contingentes em novembro e dezembro). A expedição para Moçambique seria comandada por Massano de Amorim. Em outubro do mesmo ano deram-se os ataques alemães aos postos de Naulila e Quangar, seguidos de uma incursão em território angolano, acompanhada da tentativa de sublevação das populações indígenas contra a soberania portuguesa. Estes confrontos iniciais atingem o seu ponto mais alto em dezembro de 1914 no combate de Naulila.
[8] Expedições: primeira, a 11-09-14, com 1525 homens; reforço da primeira, a 11-11-14, com 2803 homens; segundo reforço da primeira, a 28-12-14, com 4318 homens; segunda, a 11-9-15, com 1789 homens; Batalhão de Marinha com 563 homens. (in Portugal e a Grande Guerra, p. 521).
[9] Para o General Júlio Botelho Moniz (in Visões Estratégicas no Final do Império, Tribuna, 2007, pp. 180-181), a denominada Campanha da África Oriental Alemã (agosto de 1914 – novembro de 1918) pode ser resumida a quatro fases: primeira (1914-1915), em que os alemães tomam a ofensiva e se apoderam do lago Kiwu, do lago Tanganika e Ruguwa, com o objetivo de atingirem Stanleyville (atingem a linha férrea Monbassa-Nairobi, sem resultados decisivos; segunda (1916), em que os aliados (belgas, ingleses e portugueses) tomam a ofensiva visando a via férrea Dar-es-Salam-Tanganika, altura em que as forças portuguesas procuram invadir, pelo Sul, a colónia alemã, tendo sido repelidas ao tentarem passar o Rovuma (progridem depois até Massari, mas são batidas de novo pelos alemães que invadem o território português); terceira (1917), em que têm lugar os ataques aliados em direção ao curso do Rufigi, onde expulsam os alemães ocupando o Leste Africano Alemão (que retiraram sobre o Rovuma repelindo os portugueses e invadindo Moçambique sob o comando do General Vorbeck; quarta (1917-18), em que se dá a perseguição dos alemães em Moçambique, no Leste Africano e na Rodésia, com a rendição a 15 de novembro, já depois do Armistício.
[10] Ver: Borges, João Vieira. Do Armistício a Versalhes: Uma Nova Ordem Internacional, In Portugal e a Grande Guerra, pp. 526-531; Borges, João Vieira. Portugal do Armistício ao Tratado de Paz, In Portugal e a Grande Guerra, pp. 532-535.
[11] Casos das aspirações da Bélgica ao enclave de Cabinda e ao Norte de Moçambique, da União Sul Africana a Lourenço Marques e da própria Inglaterra ao porto de Moçâmedes.
[12] De acordo com o disposto em Portugal e a Grande Guerra (p. 522), foram mobilizados para o teatro de operações africano (incluindo indígenas), entre 1914 e 1918, cerca de 49.131 homens (de um total de 105.542), a saber: Angola – 18.430 homens; Moçambique – 30.701 homens. Entre as baixas gerais, calculadas em 38.012 militares (dos quais 7760 mortos) destacam-se, no teatro de operações africano, um total de 16.005 baixas (42, 1% do total; das quais 5621 mortos – 72,4% do total!), a saber: Angola – 2133 (810 mortos); Moçambique – 13.872 (4811 mortos).
[13] Ver in Portugal e a Grande Guerra, os seguintes artigos: Martelo, David, Guerra em África: Colónias Alemãs, pp. 137-139; Fraga, Luís Alves de, Portugal entre a Europa e as Colónias, pp. 140-143; Fraga, Luís Alves de, Naulila 1914, pp. 144-146; Telo, António José, Campanha de Moçambique 1914-1915, pp. 147-149; Telo, António José, Campanha de Moçambique 1916-1918, pp. 427-436.
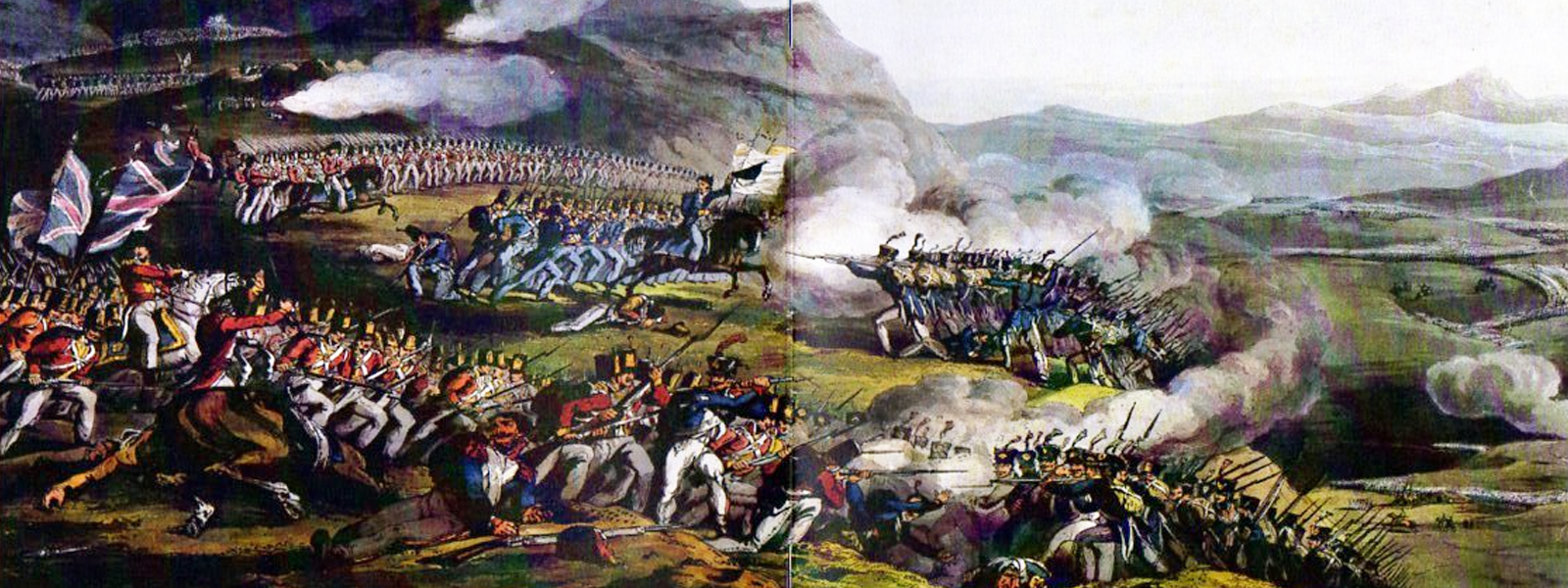

Vogal da Direção da Revista Militar. Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.